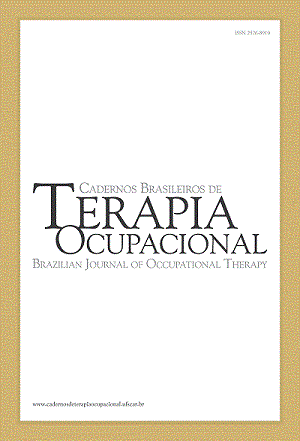Resumo
Tomando a participação popular e a democracia — tanto nas esferas micro como na macrossocial — como ideal de sociedade, considera-se imprescindível a oferta de espaços para o aprendizado de “habilidades” que garantam esses processos. Partindo de uma ampla compreensão sobre educação, tomando como referência Paulo Freire, o texto propõe refletir sobre uma dimensão educativa na práxis da terapia ocupacional social. Para tanto, utiliza-se de um breve relato de experiência desenvolvida pelo núcleo METUIA/UFSCar junto a jovens de grupos populares urbanos e à equipe gestora e técnica em um Centro da Juventude na cidade de São Carlos - SP. Ao longo de um semestre, foram desenvolvidas Oficinas de Atividades, Dinâmicas e Projetos com os/as jovens e reuniões com a equipe para discutir a natureza do espaço, suas possibilidades de uso e suas regras. Os encontros com os grupos explicitaram conflitos existentes entre os/as jovens frequentadores(as) e a equipe, e a partir deles foram propostas discussões sobre estratégias de enfrentamento da situação. Defende-se o reconhecimento de um caráter educativo nas/das práticas de terapia ocupacional social à medida que se colocam, por meio da promoção do diálogo e da conscientização, ao fomento da participação social e do exercício de cidadania.
Palavras-chave:
Terapia Ocupacional; Educação; Cidadania; Participação Social
Abstract
Taking popular participation and democracy—both in the micro and macro spheres—as an ideal of society, offering spaces for learning the “skills” that ensure these processes is essential. From a broad understanding of education, taking Paulo Freire as a reference, this text reflects on an educational dimension in the praxis of social occupational therapy. To this end, it relied on a brief experience report developed by the METUIA/UFSCar center with young people from urban popular groups and the management and technical team of a Youth Center in the municipality of São Carlos, state of São Paulo, Brazil. For six months, Workshops of Activities, Dynamics and Projects were developed with these young people, and meetings were conducted with this team to discuss the nature of this space, its possibilities of use, and its rules. These workshops and meetings revealed the existing conflicts between the young people and the team, and discussions about strategies to face these situations were proposed. The recognition of an educational character in/of social occupational therapy practices is advocated through the promotion of dialogue and awareness, aiming at social participation and the exercise of citizenship.
Keywords:
Occupational Therapy; Education; Citizenship; Social Participation
Introdução
As produções na área de terapia ocupacional que, em algum nível, tomam o educador Paulo Freire como referência têm aumentado no Brasil, sobretudo entre os autores que buscam perspectivas mais críticas para compreender a profissão e sua relação com os sujeitos e grupos sociais (Farias et al., 2016Farias, L., Laliberte Rudman, D., & Magalhães, L. (2016). Illustrating the importance of critical epistemology to realize the promise of occupational justice. OTJR, 36(4), 234-243.; Lopes & Malfitano, 2016Lopes, R. E., & Malfitano, A. P. S. (2016). Traçados teórico-práticos e cenários contemporâneos: a experiência do METUIA/UFSCar em terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 297-306). São Carlos: EdUFSCar.; Malfitano et al., 2014Malfitano, A. P., Lopes, R. E., Magalhães, L., & Townsend, E. A. (2014). Social occupational therapy: conversations about a Brazilian experience. Canadian Journal of Occupational Therapy, 81(5), 298-307.; Gontijo & Santiago, 2018Gontijo, D. T., & Santiago, M. E. (2018). Terapia ocupacional e pedagogia Paulo Freire: configurações do encontro na produção científica nacional. Reflexão e Ação, 26(1), 132-148.; Farias & Lopes, 2020Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356., 2022Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2022). Terapia ocupacional social, antiopressão e liberdade: considerações sobre a revolução da/na vida cotidiana. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional,30(spe), e3100.).
Considerando a terapeuta ocupacional como agente social que, em sua prática profissional, sempre veicula saberes e valores, ainda que de forma implícita (Medeiros, 2010Medeiros, M. H. R. (2010). Terapia Ocupacional: um enfoque epistemológico e social. São Carlos: EdUFSCar.), apresentamos um relato de experiência em terapia ocupacional social junto a jovens de grupos populares urbanos buscando discutir em que medida essa ação técnica é capaz de colocar, sob uma perspectiva libertadora e promotora de transformação social, uma dimensão educativa conforme os preceitos defendidos por Freire (1979)Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra..
Embora os escritos de Freire se voltem, fundamentalmente, para as discussões do campo da educação e da prática de professores, o próprio autor salienta que a educação sozinha não é capaz de transformar o mundo, ainda que seja um elemento fundamental. Nesse sentido, pode-se considerar que as elaborações de Freire, adequadamente contextualizadas, contribuem para problematizar as práticas sociais desenvolvidas por diferentes profissionais visando a transformação social.
Poderíamos pautar que a atualidade do pensamento de Freire contempla a área de terapia ocupacional ao colocar em tela a necessidade da criticidade e a possibilidade de transformação do mundo e da realidade social a partir das pessoas. De fato, isso muito nos interessa; entretanto, nossa primeira convergência para com os pensamentos do autor (Freire, 1979Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra.) são ainda anteriores: a transformação da realidade se faz desejável justamente para que o mundo seja um lugar mais possível e melhor para todas as pessoas, sobretudo para aquelas em situação de opressão.
Ao se colocar para o trabalho com sujeitos e grupos sociais que, por razões diversas (sociais, físicas, sensoriais, cognitivas, psicológicas, entre outras), apresentam dificuldades em participar da vida social (Barros et al., 2007Barros, D. D., Lopes, R. E., & Galheigo, S. M. (2007). Novos espaços, novos sujeitos: a terapia ocupacional no trabalho territorial e comunitário. In A. Cavalcanti & C. Galvão, Terapia ocupacional: fundamentação e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.), a terapia ocupacional já se posiciona ao lado dos oprimidos, a quem o efetivo exercício da cidadania tem sido negado historicamente.
Dessa forma, há que admitir que “a questão da formação e do conhecimento do terapeuta ocupacional perpassa [...] um embate social, uma vez que sua existência se faz por e para uma intervenção social...” (Medeiros, 2010, pMedeiros, M. H. R. (2010). Terapia Ocupacional: um enfoque epistemológico e social. São Carlos: EdUFSCar.. 45), “na direção de emancipação e de resgate de direitos” (Soares, 2007, pSoares, L. B. T. (2007). História da terapia ocupacional. In A. Cavalcanti & C. Galvão, Terapia ocupacional: fundamentação e prática (pp. 3-9). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.. 8).
Com isso, ao longo da constituição histórica da área no Brasil, os terapeutas ocupacionais foram se abrindo a compreender o papel social da profissão ao questionarem “...como sua função é determinada pela lógica da organização em que está inserido e pelos pressupostos instituídos nas outras instâncias de decisão e poder” (Medeiros, 2010, pMedeiros, M. H. R. (2010). Terapia Ocupacional: um enfoque epistemológico e social. São Carlos: EdUFSCar.. 141).
Embora a terapia ocupacional, enquanto área, traga como base, no contexto brasileiro, a compreensão crítica sobre a realidade social e os atravessamentos da desigualdade social nas possibilidades de participação de vários grupos em vulnerabilidade, é com a formação do que hoje denominamos a subárea de terapia ocupacional social que passou-se ao diálogo com referenciais teóricos-metodológicos mais próximos das ciências humanas e sociais (Lopes & Malfitano, 2016Lopes, R. E., & Malfitano, A. P. S. (2016). Traçados teórico-práticos e cenários contemporâneos: a experiência do METUIA/UFSCar em terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 297-306). São Carlos: EdUFSCar.), na busca por subsidiar uma prática colocada à atenção aos sujeitos, individuais e coletivos, subalternizados, em processos de ruptura de redes sociais de suporte, nas perspectivas micro e macrossocial (Lopes, 2016Lopes, R. E. (2016). Cidadania, direitos e terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 29-48). São Carlos: EdUFSCar.).
A dinamicidade dos elementos com os quais se propõe o diálogo impõe à subárea uma dinâmica de constante aprofundamento teórico. Nessa direção é que, de um lado, toma-se como princípio o que Farias & Lopes (2020)Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356. já desenvolveram em torno das elaborações de Freire como referencial teórico para a terapia ocupacional social, especialmente em torno dos conceitos de educação como prática de liberdade, diálogo e conscientização, e de outro, articulado à essa ideia e partindo de uma compreensão de participação social que se coaduna com a compreensão de Silva & Oliver (2019, pSilva, A. C. C., & Oliver, F. C. (2019). Participação social em terapia ocupacional: sobre o que estamos falando? Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(4), 858-872.. 2), de que:
[...] participação social é o envolvimento dos sujeitos em grupos sociais e/ou nos espaços públicos e comunitários, para transformar o cotidiano e as condições de vida marcados pelo adoecimento, violência, sofrimento mental e/ou psíquico, injustiça social e ocupacional, desigualdade, preconceitos, exclusão e opressão.
Busca-se aqui pautar a discussão de uma dimensão educativa da prática em terapia ocupacional social direcionado ao exercício da cidadania e dessa participação social.
A Educação como Dimensão da Ação Social
Para Freire (2001), aFreire, P. (2001). Política e educação: ensaios. São Paulo: Cortez. educação perpassa — ou deveria perpassar — toda ação social, não estando restrita aos professores. Embora os papeis sociais de professores e educadores sejam frequentemente tomados como sinônimos, eles são diferentes.
O professor, enquanto alguém habilitado para lecionar conteúdos específicos de seu domínio, faz-se articulador do processo de ensino e aprendizagem através da formação docente. Segundo Schram & Carvalho (2007), oSchram, S. C., & Carvalho, M. A. B. (2007). O pensar educação em Paulo Freire: para uma pedagogia de mudanças. Recuperado em 17 de janeiro de 2017, de http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/852-2.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/por...
professor é o profissional responsável por facilitar o acesso ao saber historicamente elaborado pela construção cultural da humanidade. Para o educador, segundo Freire (2001)Freire, P. (2001). Política e educação: ensaios. São Paulo: Cortez., é um intelectual, sendo que essa tarefa se amplia ao pensar a sua ação como ato essencialmente político que deve extrapolar a mera facilitação.
Tais tarefas não deveriam se sobrepor no sentido valorativo, ou seja, uma não deveria assumir papel de destaque em detrimento da outra; antes, ambas deveriam ser harmonizadas e unidas, pois, de acordo com Freire (1979), oFreire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra. ato político não pode prescindir da ciência nem da tecnologia, uma vez que esses conhecimentos são instrumentais valiosos para melhor lutar pelas causas propostas. Portanto, o esforço de enfatizar os conteúdos pedagógicos de uma educação formal — papel do professor — deveria associar-se ao esforço reflexivo pautado nas questões políticas e sociais do meio - papel do educador.
A distinção entre a prática pedagógica e a prática educativa aponta para dois exercícios distintos em objetivo; contudo, ser professor e ser educador, em uma perspectiva Freiriana, deveriam ser aspectos indissociáveis, apesar de, a princípio, independentes.
Assim, torna-se possível — e desejável — que o professor assuma um papel educativo em sua prática profissional; porém, uma aproximação mais cuidadosa dos preceitos Freirianos nos permite admitir que o inverso não é necessariamente verdadeiro: para fazer-se educador no mundo, não é necessária uma habilitação pedagógica.
Freire apresenta a tarefa educativa como habilidade dos seres humanos que, “[...] quanto mais refletirem de maneira crítica sobre sua existência, e mais atuarem sobre ela, serão mais homens [...]” (Freire, 1979, pFreire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra.. 33).
A educação, segundo Freire (1979)Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra., é um exercício cotidiano, de mutualidade, um exercício de conscientização do mundo e de si no mundo. Dessa forma, esse processo de tomada de consciência que a educação pode fomentar é parte do processo de humanização, à medida que possibilita exceder a apreensão da realidade para apreciá-la criticamente.
Como pressuposto da tarefa educativa, além da conscientização ser apresentada como um exercício crítico e dialógico para a melhor compreensão da realidade social, Freire (1996)Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra. também a identifica como instrumentalização para interferir nessa realidade. Assim sendo, a educação também se revela como uma ação social, fundamental para o exercício da autonomia e construção de uma sociedade democrática, com possibilidades de assumir um caráter emancipatório, segundo ele, como “prática de liberdade” (Freire, 1996Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.).
Assim, sendo a educação uma ação social, pode-se refletir sobre a dimensão educativa presente nas ações sociais. Não que se considere que a dimensão educativa como algo inato em toda ação social, mas é relevante ater-se à possibilidade de que a ação social, adotando uma perspectiva crítica, comprometa-se com a liberdade, a autonomia e a emancipação humana e política dos sujeitos sociais e, assim, seja educativa.
Nessa direção, propomos aqui a discussão de uma ação social específica: a prática dos terapeutas ocupacionais e a reflexão do quanto, em sua ação profissional, destacadamente na subárea da terapia ocupacional social, há uma vertente educativa. Longe da pretensão em assumir um trabalho que não nos cabe - a tarefa pedagógica, de educação-formal, toma-se aqui um exercício de reflexão da nossa prática, como medida de cuidado para manter sua orientação no sentido de uma práxis transformadora (Freire, 1996Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.).
A Práxis como Princípio para a Terapia Ocupacional Social
A ação sobre o mundo, a fim de transformá-lo, é denominada por Freire (1987)Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra. como práxis. A práxis seria a indissociabilidade entre a teoria e a prática, a união entre o que se faz e o que se pensa acerca do que se faz, num movimento de ação-reflexão em busca de transformação.
Ao olhar para a práxis da terapeuta ocupacional enquanto trabalhadora social, pode-se dizer que ela se apresenta como potente facilitadora do exercício da cidadania e do acesso aos direitos dela provenientes, bem como fomentadora da vivência da experiência de autonomia (Lopes & Silva, 2007Lopes, R. E., & Silva, C. R. (2007). O campo da educação e demandas para a terapia ocupacional no Brasil. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, 18(3), 158-164.).
Dessa forma, há que admitir que “[...] a questão da formação e do conhecimento do terapeuta ocupacional perpassa [...] um embate social, uma vez que sua existência se faz por e para uma intervenção social...” (Medeiros, 2010, pMedeiros, M. H. R. (2010). Terapia Ocupacional: um enfoque epistemológico e social. São Carlos: EdUFSCar.. 45).
Para Freire (1996)Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra., este é justamente o desafio do trabalhador social que se faz comprometido com a própria ação: atuar e refletir com os diversos Outros com quem trabalha para conscientizarem-se mutuamente das reais dificuldades da sua sociedade. Assim, o compromisso do profissional com a sociedade implica agir e refletir, o que, por sua vez, implica uma constante exigência pela ampliação de conhecimentos que possam subsidiar esse agir com vistas a transformar a realidade, ou seja, a fazer-se práxis.
Destacar essa necessidade de instrumentalização da prática apresentada pelo próprio autor (Freire, 1979Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra.) é importante, pois extrapola o compromisso genérico de qualquer ser humano (fazer mais de si e do mundo) e qualifica o compromisso assumido ao fazer-se profissional (fomentar ação e reflexão sobre a realidade).
À medida que o compromisso profissional implica um conhecimento da realidade para subsidiar sua transformação, ele é, necessariamente, uma práxis, não podendo constituir-se, portanto, em um ato passivo; para Freire (1987)Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra., isso incorre na exigência de constante aperfeiçoamento para superar o especialismo e uma visão ingênua da realidade.
No bojo dessa discussão, embora muitas subáreas da terapia ocupacional que foram se constituindo desde então tenham buscado se mobilizar e se comprometer com uma prática transformadora, é com a terapia ocupacional social que o debate sobre a necessidade de ações articuladas com a participação social, na direção da práxis voltada para o exercício da cidadania e os direitos dela decorrentes, passa a ser pauta na área (Lopes, 2016Lopes, R. E. (2016). Cidadania, direitos e terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 29-48). São Carlos: EdUFSCar.), inclusive com forte influência das ideias Freirianas (Farias & Lopes, 2020Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.).
A Dimensão Educativa na Práxis da Terapia Ocupacional Social
O Projeto METUIA, desde a sua criação em 1998, em seus diferentes núcleos, tem fomentado a fundamentação teórico-metodológica da terapia ocupacional social. O núcleo METUIA/UFSCar tem se debruçado e acumulado experiências, principalmente junto às adolescências e juventudes1 1 Utilizaremos juventudes, no plural, como forma de demarcar a pluralidade constituinte de um mesmo grupo social; acredita-se que, ao valorizar diferenças, promove-se melhores condições para compreender as distintas realidades e especificidades desse grupo, para construção de propostas públicas mais assertivas (Dayrell, 2003; Pais, 1993). advindos de grupos populares urbanos, e vem buscando mobilizar reflexões pautadas na noção de cidadania e dos direitos e deveres dela advindos (Lopes, 2016Lopes, R. E. (2016). Cidadania, direitos e terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 29-48). São Carlos: EdUFSCar.).
Desde 2005, tem-se desenvolvido ações no município de São Carlos - SP com foco em uma região periférica da cidade tida como de grande vulnerabilidade social (Pereira, 2012Pereira, P. E. (2012). “Aí!? Tá me tirando?” - o que dizem jovens pobres de São Carlos sobre si mesmos e a temática das drogas (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.), em uma proposta que visa ampliar e fortalecer as redes sociais de suporte, as possibilidades de construção de perspectivas ampliadas de futuro, e a organização do coletivo, vislumbrando a construção da cidadania plena (Lopes et al., 2013Lopes, R. E., Borba, P. L. O., & Monzeli, G. A. (2013). Expressão livre de jovens por meio do Fanzine: recurso para a terapia ocupacional social. Saúde e Sociedade, 22(3), 937-948.).
Tomando esse acúmulo de experiências, apresentamos um breve relato de intervenção terapêutico-ocupacional produzida pelo núcleo METUIA/UFSCar como forma de exemplificar como a dimensão educativa se explicita na práxis da terapia ocupacional social e subsidiar o aprofundamento das reflexões aqui propostas.
Desde 2008, um dos locais foco para o desenvolvimento das ações do núcleo METUIA/UFSCar no município tem sido seu primeiro Centro da Juventude.
Os Centros da Juventude foram propostos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social por meio da Portaria Nº 879 de 2001, que pauta a informação, o esporte e a cultura como orientadores para o funcionamento desses espaços, que foram posteriormente incorporados como um equipamento social da rede de proteção social básica, na cartilha de “Orientações Técnicas do Centro de Referência da Assistência Social” (Brasil, 2009Brasil. (2009). Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.) do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Barreiro, 2014Barreiro, R. G. (2014). Cenários públicos juvenis: o desenho dos centros da juventude nas ações da política brasileira (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.).
O processo de reconhecimento das juventudes no Brasil é bastante recente, e se inicia com a associação desse grupo social a um “problema” a ser resolvido por serviços socioassistenciais; apenas mais recentemente, a partir dos anos 2000, é que acontece um avanço no reconhecimento das juventudes como um grupo social com direitos específicos (Sposito, 2007Sposito, M. P. (2007). Espaços públicos e tempos juvenis. São Paulo: Global Editora.; Barreiro & Malfitano, 2017Barreiro, R. G., & Malfitano, A. P. S. (2017). Política brasileira para a juventude: a proposta dos Centros da Juventude.Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(2), 1111-1122.).
A instituição dos Centros da Juventude seguiu essa mesma lógica da construção das políticas públicas voltadas aos jovens no Brasil; acredita-se que o fato de serem propostos a partir do setor da Assistência Social traga rebatimentos importantes sobre como se figuram ainda hoje, como, por exemplo, sua ênfase em uma juventude considerada socialmente vulnerável. Nessa direção, Barreiro & Malfitano (2017)Barreiro, R. G., & Malfitano, A. P. S. (2017). Política brasileira para a juventude: a proposta dos Centros da Juventude.Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(2), 1111-1122. destacam que as práticas efetivadas nos serviços destinados a jovens ainda são marcadas pela presença de um recorte de classe social e, não raro, por um viés assistencialista, acirrando uma disputa político-ideológica da juventude como uma categoria “problema” ou como sujeitos de direitos. Os limites e dificuldades no processo de reconhecimento das juventudes como sujeitos de direitos incide sobre sua efetiva possibilidade de participação social, pois o reconhecimento de um grupo ou sujeito social é antecedido da sua possibilidade de ganhar a arena pública e dela participar, ou seja, atingir um lugar de influência e sociabilidade que viabilize o tensionamento para colocação de demandas próprias e seus encaminhamentos (Arendt, 2007Arendt, H. (2007). A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária.).
Assim, idealizando “[...] um espaço de participação e protagonismo dos jovens, em busca do acesso aos serviços e da construção da cidadania para e por esse grupo [...]” (Lopes et al., 2008, pLopes, R. E., Malfitano, A. P. S. & Silva, C. R. (2008). Projeto político pedagógico do centro da juventude de São Carlos São Carlos: Laboratório METUIA. São Carlos: Laboratório METUIA. 5), em 2008, quando da preparação da gestão municipal para abertura do Centro da Juventude, o núcleo METUIA/UFSCar foi convidado a colaborar na a elaboração do seu Projeto Político Pedagógico (Marinho & Lopes, 2019Marinho, M. M., & Lopes, R. E. (2019). Centro da Juventude em foco: discursos e ações. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(3), 496-507.), tendo em vista sua experiência com juventudes, especialmente no desenvolvimento de ações junto a esse grupo na região onde o referido equipamento iria funcionar.
Projetado, em princípio, para lazer e convivência das juventudes pobres da periferia de São Carlos, desde o início, as ações desenvolvidas naquele lugar pelo núcleo METUIA/UFSCar têm buscado a apropriação do espaço por parte dos jovens que o frequentam; almeja-se não apenas um lugar para as juventudes, mas das juventudes. No entanto, como construir um espaço para as juventudes e com as juventudes, se esse espaço não prioriza esse público (Marinho & Lopes, 2019Marinho, M. M., & Lopes, R. E. (2019). Centro da Juventude em foco: discursos e ações. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(3), 496-507.) e os meninos e meninas que o frequentam não se reconhecem nele? Não reconhecem o espaço como pertencente a eles? E, antes de tudo, não o reconhecem como um direito propriamente seu?
Desde sua idealização, um dos desafios daquele Centro da Juventude tem sido avançar no sentido de torná-lo um espaço de referência e convivência para as juventudes, incluindo sua pluralidade. Esse desafio, historicamente, tem gerado tensões e conflitos entre a equipe e os frequentadores do espaço e, diante dele, a equipe do Laboratório METUIA/UFSCar tem empreendido ações no sentido de fomentar a criação de espaços de pertencimento que possibilitem, juntamente com as atividades e a convivência, desenvolver aquele equipamento como referência para os adolescentes e jovens de grupos populares urbanos da região sul do município de São Carlos, buscando seu fortalecimento como espaços públicos (Silva, 2019Silva, M. J. (2019). Terapia ocupacional social, juventudes e espaço público (Tese de doutorado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.), com foco na universalização de direitos de cidadania (Lopes & Silva, 2007Lopes, R. E., & Silva, C. R. (2007). O campo da educação e demandas para a terapia ocupacional no Brasil. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, 18(3), 158-164.).
Pelo tempo de investimento ali dedicado, foi sendo possível notar que os conflitos decorriam, em grande parte, do desconhecimento da função social do Centro da Juventude, tanto por parte do público-alvo quanto da própria equipe. Enquanto os jovens oscilavam entre a completa ausência no espaço e a presença intensa, acompanhada da verbalização de que mandavam na “chacrinha” (como é carinhosamente chamado o Centro da Juventude pelos frequentadores) e, portanto, faziam dela o que quisessem, a equipe, sem compreender aquele público e as proposições do Centro da Juventude, passava, em pouco tempo, da desresponsabilização a um controle extremo, do assistencialismo à denegação de direitos.
Tomou-se essa leitura como fundamento para a proposta de fomentar trocas entre a equipe e os/as jovens, busca construir compreensões que, na impossibilidade de serem unívocas, pudessem ser negociadas, produzindo algo comum, com potencial para coexistir e se respeitar. Assim, surgiu a ideia de rever/construir coletivamente as regras que regeriam o funcionamento do Centro da Juventude, entendendo que, através desse processo, seria possível viabilizar a significação dessas regras - uma vez que elas eram/são importantes para o funcionamento do espaço, favorecendo que fossem respeitadas/cumpridas.
Portanto, o trabalho ali realizado antes da pandemia2 2 Essa ressalva é importante porque, após mais de dois anos da suspensão das atividades em função da pandemia de COVID-19, a fragilização do contato com os meninos e meninas frequentadores e a mudança de gestão, o presente momento (re)coloca ao grupo novas demandas, inclusive a necessidade de retomar o exercício aqui apresentado. desenvolveu-se sob duas principais vertentes: 1) “investimento direto”, com ações voltadas aos jovens para o (re)conhecimento de seus direitos enquanto cidadãos e, mais particularmente, enquanto jovens; 2) “investimento indireto”, com ações direcionadas às juventudes através da busca da qualificação da equipe local para o trabalho e o trato com as juventudes.
-
O “investimento direto”
Como a participação daqueles jovens no espaço era (e ainda é) bastante limitada, seja na possibilidade da livre circulação ou, ainda, na possibilidade de interlocução, ação e intervenção sobre ele, conforme destaca Pereira (2012), oPereira, P. E. (2012). “Aí!? Tá me tirando?” - o que dizem jovens pobres de São Carlos sobre si mesmos e a temática das drogas (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos. núcleo METUIA/UFSCar foi produzindo ações com vistas a promover o acesso e uso daquele equipamento social por parte dos jovens, algo que, embora esteja entre os objetivos do projeto desde sua criação, ainda é frágil.
Nessa direção, visando que o Centro da Juventude se tornasse um espaço de referência e convivência para as juventudes, buscou-se promover locais de convivência protegidos por meio da oferta de Oficinas de Atividades, Dinâmicas e Projetos (Lopes et al., 2014Lopes, R. E., Malfitano, A. P. S., Silva, C. R., & Borba, P. L. O. (2014). Recursos e tecnologias em Terapia Ocupacional Social: ações com jovens pobres na cidade. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 22(3), 591-602.). Essas Oficinas buscam produzir discussões crítico-reflexivas acerca da democratização de espaços e equipamentos sociais, favorecendo a experimentação de locais de sociabilidade que extrapolem o espaço físico da oficina para os espaços de vida dos sujeitos (Silva, 2019Silva, M. J. (2019). Terapia ocupacional social, juventudes e espaço público (Tese de doutorado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.). A proposta principal das Oficinas no período aqui relatado era discutir as regras daquele lugar, entendendo que o processo de construção conjunta (entre jovens e equipe), além de valorizar os distintos saberes, carregava a potência de atribuir significados à construção dos acordos, levando a outras maneiras de se relacionar com os outros ali presentes, com o próprio espaço, bem como com as regras que o ajudam a constituir o cotidiano local.
Na concepção de Freire (1996, pFreire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.. 24), a valorização desses distintos saberes consiste no processo de educar, o qual “[...] não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou sua construção”. Recebe destaque também, na teoria Freiriana, o diálogo e a prática da dialogicidade, como forma de se estabelecer a comunicação no sentido mais genuíno da palavra. Diálogo, portanto, que favorece os processos educativos e só se dá através da disponibilidade para a escuta e é um meio fundamental para a construção de relações horizontais (Freire, 1996Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.) - aspecto fundamental adotado como princípio orientador da prática em terapia ocupacional social (Farias & Lopes, 2020Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.).
Ponto interessante de se analisar ao longo do processo trazido é o desenvolvimento dessa dialogicidade. No início, a disponibilidade para a escuta por parte dos jovens centrava-se, em grande parte, na figura da terapeuta ocupacional, demonstrando suas concepções a respeito de quem tem o poder da palavra e/ou quem é o detentor do saber - posturas não favoráveis à comunicação entre todos os envolvidos e à construção de um espaço democrático. Foi necessário um trabalho de desconstrução com os jovens acerca desse funcionamento do grupo, por meio da experimentação de outras formas possíveis de ser e estar no espaço e nas relações, fomentando um espaço onde todos pudessem falar, ouvir e tomar decisões de forma coletiva (Silva, 2019Silva, M. J. (2019). Terapia ocupacional social, juventudes e espaço público (Tese de doutorado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.). Também nessas vivências buscávamos que, através das discussões disparadas, fosse possível a reflexão crítica e a conscientização, tomadas conforme Freire (1979)Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra. e enquanto objetivos da ação em terapia ocupacional social (Farias & Lopes, 2020Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.); nesse caso em específico, de si enquanto sujeito de direitos.
Assim, durante o final do mês de maio e início do mês de junho de 2015, o núcleo METUIA/UFSCar, em acordo com a coordenação do Centro da Juventude, realizou atividades e dinâmicas para discutir com os jovens frequentadores as regras e acordos coletivos para um melhor funcionamento do espaço.
Ao longo de quatro encontros, com uma média de participação de 30 jovens, foram feitos debates e enquetes buscando conhecer suas percepções e reivindicações para o espaço, as principais queixas quanto ao seu funcionamento, as atividades que os jovens mais gostavam entre as que já aconteciam ali ou, ainda, as que gostariam que ocorresse naquele espaço, além das regras que os jovens achavam necessárias, com o objetivo de fomentar outros diálogos entre a equipe e os frequentadores na mediação da construção coletiva do espaço e das relações que permeavam seu uso.
-
O “investimento indireto”
Com vistas a auxiliar a equipe do Centro da Juventude a potencializar o serviço e as dinâmicas de trabalho interno (de equipe) e externo (de articulação em uma rede intersetorial de cuidado e atenção às adolescências e às juventudes), e a tomada do princípio democrático como orientador das ações, propusemos encontros dialógicos com a equipe.
Inicialmente, foi rememorada a proposta do Projeto Político Pedagógico do Centro da Juventude e destacada a necessidade de seu (re)conhecimento para enfrentar propostas que pudessem descaracterizar aquele equipamento; em tese, isso fortaleceria a equipe, inclusive, para o diálogo com os/as jovens frequentadores(as), acerca dos usos possíveis daquele espaço, implicando, inclusive, a discussão de suas regras.
Entretanto, encontramos inúmeros desafios, como a escassez de recursos humanos para a manutenção do espaço e das atividades, além de uma visão bastante rígida acerca dos usos e funcionamento tidos como adequados para o Centro da Juventude. Logo, lançar luz sobre a questão da democratização do espaço foi, aos poucos, visibilizando a necessidade de sensibilizar a equipe para o trato com os frequentadores. Assim, por um semestre, foram realizados encontros mensais com a equipe para continuar essa discussão e refletir conjuntamente sobre os manejos e subsídios para o melhor funcionamento do espaço.
O processo envolveu, de um lado, exercício reflexivo, por parte da equipe, sobre a necessidade de valorizar os saberes de todos e de significar com os/as jovens a construção dos acordos, na compreensão de que isso poderia viabilizar a produção de respeito; de outro, com os/as jovens, o reconhecimento de que sua participação vai muito além do uso do espaço.
Acredita-se que a luta pela democratização daquele espaço não se constitui “apenas” como uma intervenção local, pontual; antes, vem no bojo da luta pela oferta, ampliação e/ou adequação dos serviços públicos às juventudes de modo mais amplo, e das juventudes pobres, de modo mais específico, por meio do reconhecimento de seu lugar de sujeitos de direitos.
Este relato de experiência desvela uma participação social “dominada” ou, ainda, a não-participação dos(as) jovens naquele espaço, em tese, a eles destinado; ao problematizar a falta de vivência de participação da população na coisa pública, Freire (1967)Freire, P. (1967). Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. denominou a condição de “inexperiência democrática”. Essa limitação da participação, segundo ele (Freire, 1987Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra.), mostra a necessidade da inserção crítica das pessoas nos processos de democratização e, portanto, é um aspecto/objeto passível de reflexão para/da prática educativa.
Considerações Finais
O relato dessa experiência desvela um aspecto ainda muito comum no que diz respeito às realidades de jovens e juventudes: a limitação de seu espaço de participação, num ciclo de vulnerabilidade e exclusão que se retroalimenta (Acioli & Souza, 2011Acioli, S., & Souza, M. (2011). Juventude, pobreza e desigualdades sociais: concepções e práticas no ProJovem urbano em Recife. Revista do Programa de Pós-graduação da Sociologia da UFPE, 1(17), 43-67.). Diante desse cenário, faz-se evidente a necessidade de um debate social em relação ao acesso dessa(s) população(ões) aos diversos espaços sociais e sua possibilidade efetiva de participação, encaminhando para/na arena pública democrática as demandas por seu reconhecimento e participação (Novaes, 2011Novaes, R. (2011). Entre juventudes, governos e sociedade (e nada será como antes). In F. C. Papa & M. V. Freitas (Orgs.), Juventude em pauta: políticas públicas no Brasil (pp. 343-366). São Paulo: Peirópolis.) com vistas ao seu envolvimento, como salientado anteriormente por Silva & Oliver (2019)Silva, A. C. C., & Oliver, F. C. (2019). Participação social em terapia ocupacional: sobre o que estamos falando? Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(4), 858-872., na busca da transformação do seu cotidiano e das suas condições de vida.
Desse modo, a perspectiva de necessidade de engajamento na efetivação do Centro da Juventude relatada neste texto, em nossa perspectiva, converge para a leitura da educação como prática da liberdade à medida que promove estímulos para que um grupo se organize para adquirir poder (Shor & Freire, 1986Shor, I., & Freire, P. (1986). Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra.).
Em uma dimensão mais microssocial, pode-se dizer da estratégia de conscientizar sobre os conflitos existentes e concretamente expressos entre os/as jovens frequentadores e a equipe do Centro da Juventude como ponto de partida para, em seguida, construir coletivamente estratégias de enfrentamento e proposições de mudanças para a situação identificada: falta de compreensão sobre o espaço, suas regras e suas possibilidades de uso.
Acreditamos que, em experiências como esta, a terapeuta ocupacional assuma também o papel de educador, proporcionando aos sujeitos a experimentação e a reflexão de que existem outras formas de se relacionar, como cidadãos e detentores de direitos sociais.
Por mais singelo que seja este relato de experiência, acredita-se em seu potencial para trazer à cena a experiência de negociação para a construção conjunta de respostas a uma questão coletiva, na partilha e troca de saberes (Farias & Lopes, 2020Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.) e no reconhecimento e legitimação do exercício de cidadania e participação social de grupos específicos, cuja efetivação se defronta com diversos entraves (Lopes & Malfitano, 2016Lopes, R. E., & Malfitano, A. P. S. (2016). Traçados teórico-práticos e cenários contemporâneos: a experiência do METUIA/UFSCar em terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 297-306). São Carlos: EdUFSCar.).
Acredita-se que esta experiência seja educativa na articulação entre essas dimensões micro e macrossociais, à medida que ao se colocar como reflexão crítica para além da conscientização da realidade local, da vivência com e no Centro da Juventude, irá “[...] desocultar verdades escondidas por ideologias dominantes [...]” (Farias & Lopes, 2020, pFarias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.. 1354), as quais se manifestam na realidade social por meio da insuficiência e fragmentação das ações e políticas públicas destinadas aos jovens (Sposito & Carrano, 2003Sposito, M. P., & Carrano, P. C. R. (2003). Juventude e políticas públicas no Brasil. Revista Brasileira de Educação, (24), 16-39.).
Contudo, para além de visibilizar os aspectos sociais que limitam as formas de ser e estar no mundo, o trabalho também se projeta com uma faceta educativa, à medida que se coloca à tarefa de anunciar possibilidades de mudar essa realidade ou, em termos Freirianos, de mudar o mundo, na luta pela democracia e conquista dos direitos de cidadania (Lopes, 1999Lopes, R. E. (1999). A Cidadania, políticas públicas e Terapia Ocupacional, no contexto das ações de saúde mental e saúde da pessoa portadora de deficiência no município de São Paulo (Tese de doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.,2016Lopes, R. E. (2016). Cidadania, direitos e terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 29-48). São Carlos: EdUFSCar.), na direção da antiopressão da liberdade (Farias & Lopes, 2022Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2022). Terapia ocupacional social, antiopressão e liberdade: considerações sobre a revolução da/na vida cotidiana. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional,30(spe), e3100.).
Finalmente, acredita-se na importância desse exercício reflexivo em torno do caráter educativo das práticas em terapia ocupacional social, no resgate do compromisso social que projetamos com nossa prática profissional, de modo que possamos projetar ações comprometidas com a libertação de sujeitos e grupos subalternizados (Freire, 1979Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra.; Farias & Lopes, 2020Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.), engendrando processos sociais e propondo e desenvolvendo tecnologias sociais que sejam aportes para a contínua e histórica luta por uma sociedade mais justa ou menos desigual.
Se a participação popular e a democracia, tanto na micro como na macro esfera, é o nosso ideal de sociedade, é imprescindível oferecermos espaços para o aprendizado das “habilidades” necessárias para esse exercício e também nos instrumentalizarmos buscando o aprimoramento do nosso próprio processo educativo enquanto técnicos.
É necessário, como disse Paulo Freire, crermos no ser humano e, do nosso ponto de vista, crermos especialmente nas nossas juventudes.
-
1
Utilizaremos juventudes, no plural, como forma de demarcar a pluralidade constituinte de um mesmo grupo social; acredita-se que, ao valorizar diferenças, promove-se melhores condições para compreender as distintas realidades e especificidades desse grupo, para construção de propostas públicas mais assertivas (Dayrell, 2003Dayrell, J. (2003). O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, (24), 40-52.; Pais, 1993Pais, M. J. (1993). Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.).
-
2
Essa ressalva é importante porque, após mais de dois anos da suspensão das atividades em função da pandemia de COVID-19, a fragilização do contato com os meninos e meninas frequentadores e a mudança de gestão, o presente momento (re)coloca ao grupo novas demandas, inclusive a necessidade de retomar o exercício aqui apresentado.
-
Como citar: Silva, M. J., & Pan, L. C. (2023). A dimensão educativa na práxis da terapia ocupacional social junto a jovens de grupos populares urbanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 31(spe), e3399. https://doi.org/10.1590/2526-8910.ctoRE260633991
Referências
- Acioli, S., & Souza, M. (2011). Juventude, pobreza e desigualdades sociais: concepções e práticas no ProJovem urbano em Recife. Revista do Programa de Pós-graduação da Sociologia da UFPE, 1(17), 43-67.
- Arendt, H. (2007). A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Barreiro, R. G. (2014). Cenários públicos juvenis: o desenho dos centros da juventude nas ações da política brasileira (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
- Barreiro, R. G., & Malfitano, A. P. S. (2017). Política brasileira para a juventude: a proposta dos Centros da Juventude.Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 15(2), 1111-1122.
- Barros, D. D., Lopes, R. E., & Galheigo, S. M. (2007). Novos espaços, novos sujeitos: a terapia ocupacional no trabalho territorial e comunitário. In A. Cavalcanti & C. Galvão, Terapia ocupacional: fundamentação e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Brasil. (2009). Orientações Técnicas: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
- Dayrell, J. (2003). O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, (24), 40-52.
- Farias, L., Laliberte Rudman, D., & Magalhães, L. (2016). Illustrating the importance of critical epistemology to realize the promise of occupational justice. OTJR, 36(4), 234-243.
- Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2020). Terapia ocupacional social: formulações à luz de referenciais freireanos. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 28(4), 1346-1356.
- Farias, M. N., & Lopes, R. E. (2022). Terapia ocupacional social, antiopressão e liberdade: considerações sobre a revolução da/na vida cotidiana. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional,30(spe), e3100.
- Freire, P. (1967). Educação como prática de liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Freire, P. (1979). Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Freire, P. (1987). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra.
- Freire, P. (1996) Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.
- Freire, P. (2001). Política e educação: ensaios. São Paulo: Cortez.
- Gontijo, D. T., & Santiago, M. E. (2018). Terapia ocupacional e pedagogia Paulo Freire: configurações do encontro na produção científica nacional. Reflexão e Ação, 26(1), 132-148.
- Lopes, R. E. (1999). A Cidadania, políticas públicas e Terapia Ocupacional, no contexto das ações de saúde mental e saúde da pessoa portadora de deficiência no município de São Paulo (Tese de doutorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas.
- Lopes, R. E. (2016). Cidadania, direitos e terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 29-48). São Carlos: EdUFSCar.
- Lopes, R. E., & Malfitano, A. P. S. (2016). Traçados teórico-práticos e cenários contemporâneos: a experiência do METUIA/UFSCar em terapia ocupacional social. In R. E. Lopes & A. P. S. Malfitano (Orgs.), Terapia ocupacional social: desenhos teóricos e contornos práticos (pp. 297-306). São Carlos: EdUFSCar.
- Lopes, R. E., & Silva, C. R. (2007). O campo da educação e demandas para a terapia ocupacional no Brasil. Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São Paulo, 18(3), 158-164.
- Lopes, R. E., Borba, P. L. O., & Monzeli, G. A. (2013). Expressão livre de jovens por meio do Fanzine: recurso para a terapia ocupacional social. Saúde e Sociedade, 22(3), 937-948.
- Lopes, R. E., Malfitano, A. P. S. & Silva, C. R. (2008). Projeto político pedagógico do centro da juventude de São Carlos São Carlos: Laboratório METUIA. São Carlos: Laboratório METUIA
- Lopes, R. E., Malfitano, A. P. S., Silva, C. R., & Borba, P. L. O. (2014). Recursos e tecnologias em Terapia Ocupacional Social: ações com jovens pobres na cidade. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 22(3), 591-602.
- Malfitano, A. P., Lopes, R. E., Magalhães, L., & Townsend, E. A. (2014). Social occupational therapy: conversations about a Brazilian experience. Canadian Journal of Occupational Therapy, 81(5), 298-307.
- Marinho, M. M., & Lopes, R. E. (2019). Centro da Juventude em foco: discursos e ações. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(3), 496-507.
- Medeiros, M. H. R. (2010). Terapia Ocupacional: um enfoque epistemológico e social São Carlos: EdUFSCar.
- Novaes, R. (2011). Entre juventudes, governos e sociedade (e nada será como antes). In F. C. Papa & M. V. Freitas (Orgs.), Juventude em pauta: políticas públicas no Brasil (pp. 343-366). São Paulo: Peirópolis.
- Pais, M. J. (1993). Culturas Juvenis. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- Pereira, P. E. (2012). “Aí!? Tá me tirando?” - o que dizem jovens pobres de São Carlos sobre si mesmos e a temática das drogas (Dissertação de mestrado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
- Schram, S. C., & Carvalho, M. A. B. (2007). O pensar educação em Paulo Freire: para uma pedagogia de mudanças Recuperado em 17 de janeiro de 2017, de http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/852-2.pdf
» http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/852-2.pdf - Shor, I., & Freire, P. (1986). Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Silva, A. C. C., & Oliver, F. C. (2019). Participação social em terapia ocupacional: sobre o que estamos falando? Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 27(4), 858-872.
- Silva, M. J. (2019). Terapia ocupacional social, juventudes e espaço público (Tese de doutorado). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.
- Soares, L. B. T. (2007). História da terapia ocupacional. In A. Cavalcanti & C. Galvão, Terapia ocupacional: fundamentação e prática (pp. 3-9). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Sposito, M. P. (2007). Espaços públicos e tempos juvenis. São Paulo: Global Editora.
- Sposito, M. P., & Carrano, P. C. R. (2003). Juventude e políticas públicas no Brasil. Revista Brasileira de Educação, (24), 16-39.
Editado por
Editora Convidada
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Jul 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
10 Ago 2022 -
Revisado
29 Ago 2022 -
Aceito
04 Dez 2022