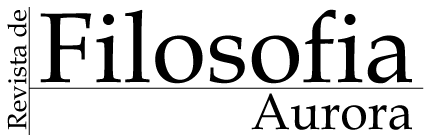O novo livro de Eric PommierPOMMIER, É. La démocratie environnementale - Préserver notre part de nature. 1ª ed. Paris: Presses Universitaires de France (PUF)/ Humensis, 2022., filósofo francês professor da PUC Chile, enfrenta um dos dilemas mais importantes e atuais do pensamento jonasiano: em que medida a sua proposta ética é filosoficamente compatível com o regime democrático, levando-se em conta a urgência de proteção não apenas dos seres humanos, mas sobretudo da vida extra-humana e das gerações futuras. Com La démocratie environnementale: préserver notre part de nature (Paris, PUF, 2022; traduzido para espanhol por Pablo Fante e publicado pelas Ediciones Universidad Católica de Chile três meses depois de sua versão francesa), Eric Pommier encontra sua excelência como intérprete do filósofo alemão Hans Jonas e, mais ainda, como autor de um pensamento original apoiado nos insights que ele encontra na filosofia jonasiana. Pommier é autor de inúmeros artigos (vários deles já publicados no Brasil) e de livros como Ontologie de l avie et étique de la responsabilité selon Hans Jonas (Vrin, 2013) e Hans Jonas et le Principe responsabilité (PUF, 2012), além de ter co-organizado o Vocabulário Hans Jonas (EDUCS, 2019). Seu trabalho, assim, prima pela densa capacidade teórica e, ao mesmo tempo, pela sua refinada sensibilidade ecológica e política. E isso conta muito para que o livro em questão seja profundo do ponto de vista filosófico e ao mesmo tempo terno e convincente em sua abordagem daquele que é, sem dúvida, o problema político mais grave de nosso tempo.
Pommier, com seu livro, demonstra que é preciso levar o debate para longe de dois extremos: nem aceitar que a teoria jonasiana seja uma ética simplesmente abstrata e utópica; e nem recair em um pensamento político surdo às demandas ambientais. Para isso, o autor deixa claro que se trata, afinal, de assegurar os princípios da política como cuidado do mundo comum e, em última instância, garantir a existência da política enquanto política no futuro, o que passaria por garantir as condições de existência da humanidade futura e reconhecer o valor intrínseco dos seres vivos. Trata-se, afinal, de mostrar como o sujeito político de agora deve fundar sua ação no reconhecimento de si mesmo como sujeito natural, enraizado solidariamente e relacionalmente com todos os seres e comprometido com as gerações vindouras.
Essa é a proposta levada a cabo nos quatro capítulos da obra, que começam por tratar [1] do enfoque social da responsabilidade, destacando o diagnóstico de Jonas em relação aos perigos contidos no progresso tecnológico e a importância dos fatores econômicos e sociais na reflexão ecológica (o que exigiu que Pommier recorresse às ideias da filósofa norte-americana Iris Marion Young sobre o princípio da conexão social, principalmente em sua obra Responsability for Justice, de 2013); [2] da discussão conceitual sobre a responsabilidade, capítulo no qual o autor analisa comparativamente a ética da responsabilidade de Hans Jonas e a ética do discurso de Apel, concluindo por responder às críticas do segundo ao primeiro; [3] da definição de democracia ambiental sob a égide dos conceitos de responsabilidade e deliberação, no qual Pommier analisa as possíveis aporias do pensamento político de Jonas, criticando o regime democrático contratualista e acentuando a importância do regime deliberativo (discutindo com autores como Young, mas também Yves Charles Zarka, Dominique Bourg, Stephen Gardiner, Régis Debray e Hannah Arendt); [4] da comunidade biótica à Terra, no qual o autor pretende “fundar o dever ecológico”, apoiando-se tanto em Jonas quanto em Aldo Leopoldo, John Baird Callicott (Thinking like a planet. The land ethic and the Earth ethic, 2013), Holmes Rolston III e Agnes Naess (especialmente Écologie, communauté et style de vie). Com esse quadro teórico, nota-se desde já que o trabalho de Pommier é não apenas ousado como sobretudo útil para quem pretende compreender as principais referências do debate proposto. Nota-se, outrossim, que embora Hans Jonas seja a principal referência da obra, Pommier não se limita a ele, forjando relações complementares que alargam o espectro argumentativo do próprio filósofo alemão - quiçá, em alguns pontos, até mesmo atualizando-o; o que não é de pouca monta. Jonas, na verdade, é a matriz sobre a qual Pommier decalca o pensamento dos diferentes autores que ele, magistralmente, apresenta para cimentar a sua própria reflexão.
O primeiro capítulo da obra é uma versão revisada de um artigo publicado na Revisa de Filosofia Aurora1 1 “Política de la responsabilidad. Desde Hans Jonas hacia Iris Marion Young”, Aurora, v. 32, n. 57, 2020; esse texto, aliás, foi apresentado no colóquio “El Principio responsabilidade de Hans Jonas: 40 años después”, realizado na PUC-Chile, em 2019, no marco das comemorações da publicação da obra magna de Hans Jonas, o qual foi seguido de outros dois eventos, um realizado na PUCPR e outro na PUC-SP. Não seria exagero afirmar que (tendo eu participado dos três eventos), o tema que restou como maior desafio entre os intérpretes de Jonas que atuaram nesses eventos foi, precisamente, a viabilidade política do princípio responsabilidade. Com seu livro, portanto, Pommier coloca-se em diálogo com esse grupo de pesquisadores e pesquisadoras. e retoma alguns dos pontos essenciais para se pensar a tese da responsabilidade, seja no sentido da intenção jonasiana de forjar uma ética capaz de reorientar a ação tecnológica, evitando a lenta e inexorável catástrofe que cresce a olhos vistos, seja discutindo as medidas possíveis para materializar a responsabilidade (salvando-a de certo idealismo) na forma do modelo de conexão social de Iris Marion Young, cujas ideias partem do reconhecimento de que nossa responsabilidade parte da evidência política de que, sendo participantes de um corpo social, já somos responsáveis pela justiça ou injustiça praticadas nesse âmbito. Seria preciso, afinal, manter o poder de ação do indivíduo e evitar o fatalismo que desencoraja as ações de resistência e, ao mesmo tempo, induz à espera das decisões dos políticos profissionais. A saída, nesse caso, é de tipo política, e a pergunta que resta responder diz respeito à justiça ambiental em relação com os seres extra-humanos e, principalmente, com as gerações do futuro - que ainda não são membros da comunidade política.
Nesse sentido, no segundo capítulo do livro, Jonas é contraposto a Apel, para fundar a importância da deliberação precisamente na condição ontológica do pertencimento humano ao mundo natural. A democracia ambiental proposta por Pommier é deliberativa, mas sem esquecer que é preciso levar em conta a diversidade de seres que dependem dessas deliberações e sua obrigação maior há de ser, afinal, manter vivas as condições da própria deliberação, na medida em que, ameaçada ou extinta a humanidade, a própria vida deliberativa (e política em geral) perderia sentido. Fiel a alguns dos principais insights d’O princípio responsabilidade, o que está em jogo, conforme Pommier aponta, é a própria possibilidade da vida política democrática. Desde o princípio, o autor deixa claro como isso dependeria não mais de contratos sociais de tipo nacional, mas de consensos supranacionais. Para isso, o livro ressoa como um importante convite à ação, na medida em que reconhece a urgência das ações e da mobilização política. Do contrário, o regime neoliberal responsável pelo ritmo da catástrofe, haverá de se abastecer da nossa impotência e comodismo. Com isso, o livro toca em um dos pilares de toda ideia democrática: a participação cidadã na tomada de decisões.
Trata-se de demonstrar como o conceito de responsabilidade está articulado com o conceito de solidariedade: toda atuação individual está conectada e relacionada - portanto, partilhada - de forma coletiva e concreta. Tal coletividade não é um termo geral, mas afirmação de um compromisso pessoal com o coletivo. É nisso que reside a possibilidade de manter o poder de ação do indivíduo e evitar o fatalismo. Trata-se, antes, de confirmar que somos responsáveis porque participamos de um corpo social que produz a injustiça, no caso a injustiça climática. É precisamente na relação do indivíduo com o coletivo, que ocorre a dimensão política da responsabilidade. Com isso, evita-se pelo menos dois equívocos: de um lado a ideia seria que temos uma responsabilidade infinita e, por isso, impossível de ser assumida por qualquer indivíduo; e, de outro, que esta responsabilidade não deveria ser assumida por ninguém a não ser pelo próprio governo que tomaria as rédeas da situação em nome de cada indivíduo. Nos dois casos, tratar-se-ia, antes, de eximir o indivíduo daquilo que lhe é próprio enquanto ser responsável. Nesse caso, ao invés de esperar as tomadas de decisões no âmbito dos governos, cada cidadão deveria privilegiar a resistência e atuar em favor da mudança por meio do exercício da pressão social. Em outras palavras, “são as vítimas do sistema que podem empreender uma modificação da estrutura social porque são eles os primeiros interessados na mudança” (DE, 452 2 Usarei, ao longo deste texto, a sigla DE para referir à obra (La démocratie environnementale); as citações das páginas serão feitas segundo a versão francesa e todas as traduções são de minha autoria. ). Pommier nos lembra que essa questão não é apenas social ou mesmo econômica, mas que também se aplica às questões ambientais. Primeiro, porque elas estão conectadas; e depois, porque é preciso que os indivíduos assumam a responsabilidade pela vida em geral e também pelas gerações futuras. Por meio dessa politização da solidariedade, por assim dizer, Pommier mostra como a ideia de um mundo comum “não é outra coisa que o jogo destas relações” (DE, 46), evocando a obrigação do reconhecimento consciente da interdependência de todas as sociedades. Para ele (como também para Jonas) “a Amazônia queimando, representa a própria humanidade que, junto com ela, reduz as chances de existir de maneira perene!” (DE, 47).
Ao tratar dessa questão, contudo, Pommier faz referência ao fato de que resta ainda para ser discutido como a responsabilidade, em sentido político, encontra seu fundamento no problema do discurso. E é esse precisamente o tema do capítulo segundo da obra, cujo título é precisamente A responsabilidade em discussão. O autor demonstra que, embora Apel concorde com a urgência da construção de uma ética para a questão ambiental, ele discorda dos fundamentos propostos por Jonas. Pommier analisa uma das críticas centrais de Apel: para Jonas, trata-se “no fundo de preservar a espécie humana ou, antes, o homem enquanto ideia?” (DE, 61). O problema se coloca, para o primeiro caso, quando pensamos no desafio demográfico: se a questão é preservar a espécie humana, isso legitimaria, por exemplo, deixar morrer uma parte da humanidade em benefício da espécie como um todo? É preciso enfrentar a questão: “a preservação da espécie humana poderia ser feita com prejuízo de uma parte desta unidade, dado não haver incluído a ideia de dignidade no seio desta unidade?” (DE, 61). Para Apel, Jonas não ofereceu condições para responder essa questão precisamente porque deixou de fora de sua teoria o conceito de justiça. Por isso, é nos termos de sua crítica à utopia que torna impossível a conciliação da utopia com a ética ou, em outras palavras, ele teria tornado a ideia de progresso incompatível com a ética. Jonas, como lembra Pommier na página 63, teria jogado o bebê fora junto com a água do banho: “por recusar a ideia de progresso, acabaria por perder o critério de avaliação que legitimaria a preservação da própria humanidade, dada a ausência da ideia de justiça que requer o reconhecimento da igualdade de direitos entre todos os homens” (DE, 64). Para superar esse problema, Apel lança mão de uma justificação pragmático-transcendental com o intuito de eliminar qualquer resíduo metafísico da argumentação. O caminho seria inserir novamente a ideia de justiça no conceito de responsabilidade, com o fim de reconhecer a dignidade da humanidade concreta e não apenas dos seres vivos em geral. Tratar-se-ia, afinal, de reconectar a justiça e a responsabilidade, colocando no mesmo nível as ideias de progresso e de ética, de esperança e de responsabilidade, de justiça e de preservação. Tudo passaria pela necessidade de garantia de uma comunidade discursiva capaz de realizar a validação intersubjetiva da comunicação e, nesse caso, o expresso pressuposto do pertencimento de cada indivíduo a uma comunidade real de comunicação, na qual “nós postulamos não somente que o que dizemos tem um sentido, mas também que nosso propósito pode ser tido como verdadeiro” (DE, 67). Embora reconheça a dificuldade de introduzir neste argumento as vidas não-humanas das plantas e dos animais, que não têm capacidade de fala, Apel se utiliza de um antropocentrismo bem compreendido que concebe a possibilidade de existência do homem apenas em suas relações com os outros seres. Afinal, como afirma Apel, as outras espécies são apenas “a pré-história da história humana” (apud DE, 69).
Tais questões são analisadas a partir das referências próprias internas do texto de Jonas: Pommier remete principalmente à necessidade de bem compreender a proposta jonasiana contida especialmente no livro de 1966, The Phenomenon of life. Tudo se passa como se a tentativa de recusar o valor do ser fosse, na verdade, uma atitude não crítica e, por isso mesmo, dogmática. É precisamente isso que Jonas se recusa a aceitar. Pommier acaba por demonstrar que, para Jonas “nós somos responsáveis pelo ser, tanto quanto pelas gerações futuras e até mesmo pela ‘ideia ontológica’ da humanidade” (DE, 77). Para ele, “cada um desses termos coloca um acento sobre um aspecto diferente de uma só e mesma orientação ontológica” (DE, 77). A humanidade tem um valor na medida em que é responsável por si mesma e, nesse sentido, ela se faz ao mesmo tempo um sujeito e um objeto de valor e isso significa que a ética tem por objetivo também a preservação da ética que é “‘como a essência’ do homem” (DE, 77). Com isso acentua-se o fato de que Jonas não compreende o homem apenas como um dado factual, mas como o valor, recusando com isso a leitura biologizante da humanidade por meio de uma contestação da oposição tradicional entre fato e valor. O resultado dessa reflexão é a compreensão da humanidade ao mesmo tempo como objeto do dever e como sujeito da responsabilidade. Dessa forma, a pretensa contradição apontada por Apel perderia todo sentido: precisamente porque é responsável pela humanidade, não só aquela que está aí já existindo, mas aquela que há de vir, Jonas não aceita a ideia de que seja possível deixar que parte dessa humanidade pereça. E para isso, não se pode condenar absolutamente o progresso, na medida em que esse seja capaz de garantir a existência dessa humanidade. Pommier nos lembra que Jonas fala de um “progresso com precaução” (PR, 359 apud DE, 84) que o distancia de uma posição meramente tecnofóbica. Segundo essa perspectiva, qualquer tipo de progresso deveria ser autorizado apenas na medida em que seja compatível com a preservação da humanidade e essa seria “a condição mesma de todo progresso” (DE, 83). Assim, para o autor, a ética da responsabilidade é “conciliável com a ideia de justiça e de progresso” (DE, 84).
Nesse ponto, Pommier toca em um dos temas mais espinhosos da reflexão “política” de Jonas: a postulação de um governo ecológico autoritário, considerada por ele como uma “solução desesperada”, cujo objetivo é unicamente motivar as democracias a que reformem a si mesmas para enfrentar os desvios trazidos pela emergência ambiental. E com isso estaríamos, de fato, no coração da questão: o que pode ainda a democracia diante da questão ecológica? Para respondê-la é preciso voltar os últimos capítulos da obra em 1979, nos quais Jonas demonstra como a necessidade de que governos assumam a sua responsabilidade diante do problema ambiental encontra seu maior obstáculo precisamente na impotência tanto do regime capitalista quanto do socialista. Para Jonas, o socialismo é apenas um pouco melhor do que o capitalismo quando se trata desse assunto. O problema é que, nos dois casos, a sua posição política funda-se na necessidade do incremento da atividade técnica, precisamente o problema que agrava a exploração da natureza. O autor, nesse caso, formula de forma clara o problema: “é preciso reconhecer a insuficiência da democracia diante das exigências éticas do princípio responsabilidade ou, bem ao contrário, o caráter inadequado do princípio ético diante do regime democrático” (DE, 93). Trata-se de questionar afinal, que sorte de democracia ainda poderia preservar o direito superior dos seres vivos e, ao mesmo tempo, evitar o autoritarismo ético. Para enfrentar o problema, Pommier destaca três atitudes teóricas necessárias: primeiro, questionar a concepção contratualista da democracia; segundo, sugerir que a concepção deliberativa da democracia permite a internação do princípio responsabilidade; para, afinal, mostrar como as raízes deliberativas da democracia contribuem para escapar do utopismo fácil.
Para isso, Pommier começa por demonstrar como, no regime contratualista, a ideia de vontade geral acaba por excluir qualquer participação da natureza e dos seres vivos, na medida em que apenas os cidadãos, como portadores da vontade geral, podem participar com legitimidade do regime político (DE, 96). Nesse sentido, as únicas pautas de interesse a serem defendidas dizem respeito a essa relação recíproca entre sujeitos humanos. Além disso, a reflexão de Pommier parte de uma análise crítica da economia de mercado e sua relação com a política ecológica, o que inclui um exame dos serviços ecossistêmicos (que pretendem definir um valor econômico visível à biodiversidade), as cotas de carbono e os sistemas de seguro contra as calamidades. Tendo em conta a reflexão de Jonas em torno da obra de Adolf Lowe, especialmente o ensaio “Conhecimento socioeconômico: ignorância dos objetivos”, constante no seus Ensaios filosóficos, de 19743 3 No Brasil, vale lembrar, essas ideias foram largamente analisadas por Lilian Godoy Fonseca no seu trabalho (em vias de publicação) de pós-doutoramento realizado na PUCPR, em 2019. , Pommier recupera a tese de Jonas segundo a qual seria possível demonstrar que a economia não é necessariamente incompatível com a ética da responsabilidade. Jonas, nesse ponto, se contrapõe à tese de seu amigo economista precisamente por aproximar novamente fatos e valores: enquanto Lowe considera, de um lado, a economia uma ciência capaz de descrever a realidade das trocas materiais sobre o mundo estritamente fatual e, de outro, a filosofia coma a ciência dos fins e dos valores; Jonas, ao contrário, insiste na importância de que a economia se comprometa precisamente com o enfoque axiológico e político. Ao contrário do que se poderia pensar, para Jonas, isso tornaria a economia ainda mais científica e ao mesmo tempo política. Nesse ponto, Pommier acerta em cheio: “nós temos no seio da progenitura os germes do imperativo da responsabilidade, uma preocupação com o futuro, que indica como a economia possui em seu coração uma dimensão ética. É porque os fatos biológicos mencionados são imediatamente investidos de valor (…) que a economia comporta em seu seio uma dimensão axiológica” (DE, 110). A verdade é que a crise ambiental, que já não exige apenas a gestão dos recursos naturais, mas a sua preservação, faz da responsabilidade uma exigência da economia. Isso explica porque, muito antes de formular o seu imperativo ecológico, Jonas formulou o seu imperativo econômico: “aja de tal maneira que os efeitos da tua ação não destruam a possibilidade de vida econômica no futuro” (DE, 112). Para Jonas já está claro que a destruição da natureza equivaleria ao próprio fim da economia, compreendida como aquela que deve cuidar para que as condições da vida se perpetuem no futuro. Se não for assim, a economia assumirá um caráter antieconômico - como é o caso nos nossos dias, onde ela concorre para a destruição ambiental.
Isso leva Pommier a discutir o problema das instituições políticas atuais: elas seriam incapazes de enfrentar o desafio de garantir a existência das gerações futuras e, pior, na medida em que prometem fazê-lo, acabam por promover ainda mais confusão no terreno já caótico. Alternativamente, uma instituição que preenchesse tal lacuna deveria ser de tipo supranacional, ao tempo em que respeitasse a soberania das nações (sem permanecerem restritas a seus limites), mas que não perdesse de vista o bem geral da humanidade e dos demais seres vivos, agora e no futuro.
A proposta analisada por Pommier, afinal, diz respeito ao que ele chama de princípio deliberativo (ou princípio de deliberação), apresentado como uma tentativa de orientar as decisões coletivas: sua convicção é de que “a responsabilidade orienta a deliberação e, os desvios dessa última podem ser superados pela responsabilidade” (DE, 125). A ideia parte do reconhecimento da diversidade de vozes participantes do diálogo deliberativo, vozes que, em suas diferenças, atuam de forma conjugada para preservar a natureza. Essa seria uma das formas de evitar a abstração da ideia de humanidade, dando-lhe concretude geográfica e histórica. Em outras palavras: “o sujeito deliberativo, então, não é um sujeito formal”, porque “ele está inscrito em um contexto socioambiental” (DE, 132). O mundo que deve ser preservado para o futuro é um mundo de diferenças, conclui Pommier, ressaltando que, malgrado isso, trata-se sempre de preservar um “mundo comum” e isso depende também do reconhecimento das diferentes posições econômicas dos países (especialmente quando se tem em mente as relações norte-sul). Trata-se, portanto, de uma proposta ecocosmopolítica, na qual importa fazer aparecer os sujeitos que deliberam como sujeitos ecológicos. Por trazer à tona diferentes vozes, a deliberação também desenha um diagnóstico das violações e das demandas. O exemplo desse tipo de participação deliberativa trazidos por Pommier vão desde o testemunho do que poderíamos chamar de mártires ambientais, até a ação dos movimentos sociais e das ONGs, por exemplo.
No item intitulado precisamente “O problema da instituição ambiental” (DE, 144), o autor debate a necessidade de pensar uma relação equivalente entre o exercício do poder e a proteção do meio ambiente, passando tanto pelo respeito à participação popular quanto pela consulta a especialistas. Uma das teses analisadas é a de Dominique Bourg, chamada de “Assembleia de longo prazo”, que nada mais seria do que uma instituição capaz de atuar para a preservação da natureza no futuro e, nesse caso, sua função não poderia ser de tipo legislativa (as gerações do futuro não poderiam ser representadas) embora pudesse ter poder de veto sobre leis aprovadas pelos poderes existentes. Tal “Assembleia” seria formada, outrossim, por um “Colégio do futuro”, cujo papel seria “promover uma vigilância científica” (DE, 149) e informar às outras duas Câmaras (de especialistas e de pessoas comuns) a respeito de temas ambientais. Pommier, nesse caso, analisa criticamente a proposta, apoiando-se em argumentos de outros autores, tal como Yves Charles Zarka (cuja obra ele conhece bem), para quem, ao invés de pensar em um comitê de expertos, talvez fosse mais interessante investir na formação geral das pessoas - “corrigindo a atual distância entre o saber especializado e a fonte viva da autoridade polícia, ou seja, o consentimento informado dos cidadãos” (DE, 150). Tratar-se-ia, no fim, de evitar o risco da expertocracia. Para isso, Zarka tem três propostas: a democratização da informação científica; a democratização do controle do exercício do poder; e as opções da consulta popular. Tratar-se-ia, afinal, de democratizar o espaço deliberativo onde as decisões são tomadas. Ao afirmar tal coisa e ressaltar que “a institucionalização do princípio responsabilidade deve repousar sobre o princípio da deliberação” (DE, 153), Pommier deixa claro como a ideia de uma “tirania ambiental” deve ser compreendida apenas como uma espécie de advertência para que a democracia se mantenha, afinal, democrática. Para tanto, Pommier cita outras propostas como a criação de comitês por bioregiões e brigadas de inspeção (Regis Déborah), a convenção constitucional global (Stephen Gardiner) e outros mecanismos capazes de criar uma espécie de institucionalidade internacional para enfrentar a calamidade.
O que o livro de Pommier tem de virtuoso, nesse caso, é demonstrar que há alternativas dentro da democracia, sem deixar de lado a pergunta sobre as possibilidades de realização das subjetividades que, seguindo os insights de Jonas, também se revelam e realizam plenamente na ocupação do espaço político - agora, um espaço ecopolítico, em que cada indivíduo (todos os seres) pode exercer sua liberdade e sua singularidade. Tudo isso deverá contar com uma forte e comprometida mediação jurídica, capaz de legitimar o processo deliberativo e atuar em casos de ecocrimes, gestão de danos e elaboração de marcos e referências legais em nível supranacional. O Direito, nesse caso, não tem a palavra final e nem sequer a mais relevante, mas pode contribuir diretamente para o nascimento e o fortalecimento da política ambiental necessária.
A descrição do caráter ético-cósmico da subjetividade ética é o tema do último capítulo da obra de Pommier, no qual ele analisa os vínculos entre os indivíduos e o mundo que os cerca, ressaltando que o reconhecimento desses vínculos (motivado pela demanda ética que os demais seres representam) é um dos elementos centrais da responsabilidade. Apoiando-se em Jean Byrd Callicott (uma das referências norte-americanas da questão ambiental) Pommier parte de uma análise a respeito do valor da comunidade biótica para concluir que Callicott mantém o dualismo sujeito e objeto e, com isso, “não se dá conta da existência de um valor intrínseco dos ecossistemas” (DE, 193), algo que Homes Rolston III parece contornar, afirmando a existência de um “valor sistêmico” que liga os seres entre si - embora, para Pommier, esta solução deixa em descoberto o problema do valor intrínseco de cada ser. O problema tanto de Rolston quanto de Callicott (ademais também de Aldo Leopold), seria a insistência na divisão sujeito e objeto, principalmente quando isso toca as raias do antropomorfismo. Pommier deixa claro que o agravamento do problema climático exige uma redefinição dessas questões sob a luz da ética ambiental. Para ele, o que está em jogo é a “humanidade como humanidade, não como espécie biológica” (DE, 198) e isso significa que o aspecto relacional deve ser pensado axiologicamente. O problema é que Callicott manteria um modelo de ética para a terra que seria ainda antropocentrada e mantida em referência a antigos dualismos. E, ainda mais: como pensar o status relacional da humanidade atual com a humanidade futura que é merecedora de existência?
Segundo Pommier, a resposta para essas questões pode ser encontrada em Hans Jonas: “superar a perspectiva objetivante (do primeiro Callicott) justificando o modo de ser relacional da vida (o que não faz Rolston), sem limitar-se a localizar este caráter relacional de tudo no homem (o que faz o último Callicott)” (DE, 206). Essas são as três perspectivas que a ética jonasiana, apoiada ontologicamente, pode ajudar a enfrentar. Pommier retoma, para isso, as teses de Jonas e, além delas, recorre a Agnes Naess, para refletir sobre a relação entre valor dos seres vivos e responsabilidade - mostrando a convergência e complementaridade entre esses dois autores, principalmente no que diz respeito à primazia da ontologia relacionada aos deveres práticos. Isso passa, necessariamente, por romper com a visão objetivante da natureza e pelo reconhecimento da inclinação do eu à responsabilidade e, por meio dela, à autorrealização e à autoexpansão. Com isso, apela-se não apenas a uma obrigação, mas a uma sensibilidade diante da natureza - algo que um leitor de Jonas há de reconhecer facilmente. Essa análise é, no meu ponto de vista, um dos pontos altos da obra de Pommier, principalmente quando ele trata da Gestalt proposta por Naess. A pluralidade de perspectivas derivada dessa ontologia repercute, por óbvio, na concepção política que dela emana. O reconhecimento dessa pluralidade leva, portanto, à afirmação da corresponsabilidade humana em atuar para preservar e, mais ainda, para que os demais seres se realizem plenamente, na medida em que o “si mesmo” humano se realiza apenas na medida em que se responsabiliza pelos demais. Note-se, nesse caso, como a própria realização humana encontra-se intimamente ligada ao reconhecimento da condição natural do homem: “essa realização não se faz em detrimento da natureza, mas permite, ao contrário, preservá-la e mesmo enriquecê-la facilitando a realização de seus fins” (DE, 249).
Como se vê, ao longo do seu livro, Pommier se aproveita da ontologia para refletir politicamente, buscando a legitimidade dessa estratégia no próprio Jonas, que fundou sua ética ontologicamente. Mas Pommier ressalta que a ontologia deve ser compreendida antes como uma hipótese filosófica e não como um fundamento último e inquestionável da vida ética e política. Como ele mesmo acentua na conclusão de seu livro, a ontologia deve ser entendia como uma pergunta sobre o modo próprio de habitação do mundo. E isso evoca o conteúdo político daquilo que seria propriamente ontológico. A política, ainda, é parte de nossa condição humana - nada pode ser mais fiel a Jonas do que uma afirmação desse tipo.
Se Jonas reconheceu a política como a arte de impor limites, o livro de Pommier acaba por finalizar no mesmo lugar: é preciso construir um regime democrático capaz de reconhecer os limites da terra (o solo da nossa habitação) e os limites da própria ação humana sobre ela. Em tempos de necropolítica, o livro de Pommier é um aceno e uma lufada de ar puro para que possamos pensar, com Jonas e para além dele, em uma política da vida - e com isso, resgatar o princípio central da democracia, da qual ele, Jonas, pode ser considerado um dos seus férteis pensadores.
Referências
- POMMIER, É. La démocratie environnementale - Préserver notre part de nature. 1ª ed. Paris: Presses Universitaires de France (PUF)/ Humensis, 2022.
-
a
Trabalho realizado no âmbito do Projeto apoiado pelo CNPq (projeto 424843/2018-8).
-
1
“Política de la responsabilidad. Desde Hans Jonas hacia Iris Marion Young”, Aurora, v. 32, n. 57, 2020; esse texto, aliás, foi apresentado no colóquio “El Principio responsabilidade de Hans Jonas: 40 años después”, realizado na PUC-Chile, em 2019, no marco das comemorações da publicação da obra magna de Hans Jonas, o qual foi seguido de outros dois eventos, um realizado na PUCPR e outro na PUC-SP. Não seria exagero afirmar que (tendo eu participado dos três eventos), o tema que restou como maior desafio entre os intérpretes de Jonas que atuaram nesses eventos foi, precisamente, a viabilidade política do princípio responsabilidade. Com seu livro, portanto, Pommier coloca-se em diálogo com esse grupo de pesquisadores e pesquisadoras.
-
2
Usarei, ao longo deste texto, a sigla DE para referir à obra (La démocratie environnementale); as citações das páginas serão feitas segundo a versão francesa e todas as traduções são de minha autoria.
-
3
No Brasil, vale lembrar, essas ideias foram largamente analisadas por Lilian Godoy Fonseca no seu trabalho (em vias de publicação) de pós-doutoramento realizado na PUCPR, em 2019.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Out 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
19 Set 2022 -
Aceito
05 Nov 2022