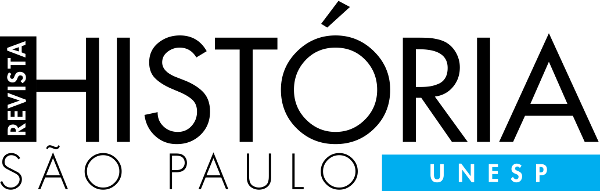RESUMO
A integração econômica tardia da região sul da América portuguesa ao restante da colônia, quando comparada a outras regiões como o Nordeste, fez com que o processo de transição do uso da mão de obra indígena para a africana e afrodescendente nessa região se consolidasse somente na segunda metade do século XVIII. Durante os anos iniciais de 1700, os indígenas ainda eram maioria no trabalho forçado, acompanhados de alguns poucos escravizados de origem africana. Conforme os anos avançavam, os indígenas e seus descendentes se distanciavam mais do status de escravos, papel que passou a ser então majoritariamente ocupado por africanos e afrodescendentes. O que se propõe nesse artigo é, por um lado, a análise dos distanciamentos e diferenças sociais existentes entre negros e indígenas e, por outro, as relações interdependentes mantidas entre os dois grupos. A análise será feita a partir de fontes judiciais referentes à Comarca de Paranaguá, pertencente à Capitania de São Paulo durante o século XVIII.
Palavras-chave:
indígenas; negros; administração; escravidão; Comarca de Paranaguá
ABSTRACT
The late economic integration of the southern region of Portuguese America to the rest of the colony, when compared to other regions such as the Northeast, meant that the process of transition from the use of indigenous to African and Afro-descendant labor in this region was consolidated only in the second half of the 18th century. During the early 1700s, indigenous people were still the majority in forced labor, accompanied by a few slaves of African origin. As the years progressed, the Indians and their descendants became more distant from the status of slaves, a role that then came to be mainly occupied by Africans and Afro-descendants. What is proposed in this article is, on the one hand, the analysis of the distances and social differences that exist between blacks and indigenous people and, on the other, the interdependent relations maintained between the two groups. The analysis will be made from judicial sources referring to the Comarca de Paranaguá, belonging to the Capitania de São Paulo, during the 18th century.
Keywords:
indigenous; blacks; administration; slavery; Comarca de Paranaguá
No século XVIII, a região ao sul da América portuguesa estava ainda delimitando seus contornos administrativos e territoriais, apesar de já contar com vilas estabelecidas e também com elementos oficiais da justiça e da administração da Coroa. A região, nesse período, começou a se integrar economicamente ao restante da colônia e ainda fazia uso da mão de obra indígena, especialmente na primeira metade dos anos de 1700. Foi na segunda metade do século XVIII que os africanos e afrodescendentes passaram a ser a maioria das pessoas escravizadas. Esse lento processo de transição do uso da mão de obra indígena, primeiro como escravos e depois como administrados, para a prevalência dos africanos e afrodescendentes, permitiu que esses dois grupos mantivessem relações interdependentes dentro dessa sociedade bastante heterogênea.
Para este artigo, a região analisada será o território abrangido pela Comarca de Paranaguá, especialmente as vilas de Curitiba e Paranaguá, que, durante o século XVIII, pertenciam à Capitania de São Paulo, que também teve seus limites definidos nesse mesmo século1 1 A Capitania de São Paulo só passou a ter esse nome no ano de 1765. Seu território, no início do século XVIII, era dividido entre as Capitanias de São Vicente e Santo Amaro. No ano de 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que abrangia, além de São Paulo, parte dos atuais territórios de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul. Até o ano de 1748, parte desses territórios se desmembraram e, nesse mesmo ano, a Capitania de São Paulo foi extinta, ficando apenas como Comarca subordinada ao Rio de Janeiro, para então, em 1765, ser restaurada como Capitania de São Paulo (BUENO, 2009). . A partir de vinte e um processos judiciais2 2 O recorte de 21 processos judiciais foi feito a partir de um conjunto maior de 366 documentos levantados para a elaboração da tese de doutorado da autora (PORTELA, 2014), que analisou um total de 2.265 processos tramitados na Comarca de Paranaguá, datados entre 1697 e 1780. Foram selecionados os 366 documentos que faziam alguma referência a indígenas, africanos ou afrodescendentes, que representam 16,16% do conjunto total de processos para o período, sendo 13,11% referentes a africanos e afrodescendentes, 2,5% a indígenas e 1% envolvendo ambos os grupos. tramitados pelas instâncias da justiça das vilas e da Comarca referida, e também de alguns poucos registros eclesiásticos, o que se pretende neste artigo é, por um lado, analisar os distanciamentos e aproximações sociais existentes entre indígenas e negros nessa sociedade, impostos pela justiça e pela legislação da Coroa portuguesa, e também por eles próprios; e por outro, analisar as relações interdependentes que esses dois grupos mantiveram, fossem elas relações harmoniosas ou de conflito. O período abrangido pela documentação é de 1698 a 1779, compreendendo, portanto, quase todo o século XVIII, quando se deu o lento e gradual processo de transição do uso da mão de obra indígena para a africana e afrodescendente, conforme já foi dito anteriormente. As relações entre esses dois grupos foram marcadas por esse processo, que se refletiram também nas demandas que chegavam até a justiça.
A configuração social das vilas da Comarca de Paranaguá no século XVIII era bastante miscigenada, convivendo no mesmo espaço indígenas administrados e livres, escravos e libertos africanos e afrodescendentes, brancos pobres e mais abastados. As relações interdependentes mantidas por esses grupos, fosse no ambiente de trabalho, nos momentos de diversão, nas ruas ou nos lugares onde residiam, geravam, como era de se esperar, conflitos e alianças, alguns dos quais ficaram registrados nos documentos judiciais. Desse modo, o argumento deste artigo, embasado nas fontes e na legislação do período, é o de que as relações entre indígenas, africanos e afrodescendentes na Comarca de Paranaguá eram frequentes e consolidadas durante todo o século XVIII, quando estava em curso o processo de transição da maioria de pessoas escravizadas de origem indígena para as de origem africana. Além disso, justamente em função dessa proximidade e dos relacionamentos estabelecidos entre os dois grupos, foi possível evidenciar nas fontes aqui analisadas o uso da legislação, especialmente a pombalina, por parte dos indígenas, que buscavam marcar as diferenças e se distanciar do status de pessoas escravizadas ou administradas. Ainda que fossem dois grupos que ocupavam os níveis mais baixos dentro dessa hierarquia social, e que mantivessem relações interdependentes, ficam também evidentes as diferenciações e distanciamentos entre um e outro grupo.
A Comarca de Paranaguá no século XVIII: conexões e especificidades
A Comarca de Paranaguá foi criada no ano de 1723 e, junto com ela, a Ouvidoria, sendo a primeira uma divisão territorial e a segunda, judiciária. O alcance da Ouvidoria compreendia as vilas de Cananéia, Iguape, Paranaguá, Curitiba, São Francisco e Laguna. Até sua extinção, em 1812, esse alcance foi aumentado e modificado com a criação de novas vilas, como Desterro, Castro, Guaratuba e Lapa (PEGORARO, 2007PEGORARO, J. W. Ouvidores régios e centralização jurídico-administrativa na América portuguesa: a Comarca de Paranaguá (1723-1812). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2007., p. 45 e 48). As câmaras municipais, tanto de Curitiba como de Paranaguá, no entanto, já estavam ativas há alguns anos e contavam com o Juízo Ordinário. Essa era a primeira instância da justiça colonial, que acontecia nas câmaras municipais das vilas, como em Paranaguá e em Curitiba, onde as câmaras e, consequentemente, a justiça, instalaram-se nos anos de 1648 e 1693, respectivamente (WESTPHALEN, 1991WESTPHALEN, C. M. Dicionário histórico-biográfico do Paraná. Curitiba: Chain e Banco do Estado do PR, 1991., p. 547-551). A presença de uma justiça local significava mais autonomia e a possibilidade de ser julgado de acordo com seus pares (BORGES, 2009BORGES, J. N. Das justiças e dos litígios. A ação judiciária da câmara de Curitiba no século XVIII (1731-1752). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2009., p. 73). Por outro lado, a existência de uma Ouvidoria, instância superior, próxima às vilas, influenciava diretamente na produção dos autos e na resolução dos conflitos que iam parar na justiça. Se antes a instância superior estava em São Paulo, muitas léguas distante tanto de Paranaguá como de Curitiba, a partir de 1723, essa distância diminuiu, fazendo com que muitas das demandas judiciais fossem julgadas pela Ouvidoria de Paranaguá.
Na primeira metade do século XVIII, portanto, a região consolidou seus limites territoriais, administrativos e judiciários. No entanto, até meados desse mesmo século essa região era marcada pela pouca integração com o restante da colônia, principalmente do ponto de vista econômico. A principal força de trabalho utilizada pelos colonos eram os indígenas apresados no sertão e seus descendentes para trabalharem nas atividades da agricultura e da mineração. Alguns poucos escravos africanos e afrodescendentes, pertencentes às pessoas mais abastadas da região, trabalhavam lado a lado com os indígenas. Grande parte da população era pobre e com poucos recursos, vivendo muitas vezes como agregados dos proprietários mais ricos e convivendo com pessoas de diferentes níveis sociais. Essa característica facilitou a miscigenação entre essas pessoas e não foi raro encontrar mestiços na documentação, filhos de índios com brancos e também de índios com negros.
Em relação ao número total da população livre e de pessoas escravizadas, fossem indígenas ou africanos e afrodescendentes, os dados para o período e espaço aqui delimitados são escassos e dispersos. Para o ano de 1720, o Ouvidor da Capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, quando visitou as vilas de Curitiba e Paranaguá, informou o número de habitantes respectivamente em 1.400 e 2.000 pessoas, sem, no entanto, informar a população escrava (WESTPHALEN, 1991WESTPHALEN, C. M. Dicionário histórico-biográfico do Paraná. Curitiba: Chain e Banco do Estado do PR, 1991., p. 549-551). Já para o período final da documentação aqui apresentada, no ano de 1772, Cecília Westphalen informa, por meio das listas nominativas de habitantes, que, para a Comarca de Paranaguá, havia 7.627 pessoas, das quais 1.712 eram escravizadas, ou seja, 22,4% do total (WESTPHALEN, 1997WESTPHALEN, C. M. Afinal, existiu ou não regime escravo no Paraná? Revista da SBPH, nº 13: 25-63, 1997., p. 26). Para os indígenas, é possível ter uma estimativa a partir dos dados apresentados por Schwartz, ao analisar os registros de batismo da vila de Curitiba entre 1685 e 1750, nos quais encontrou 975 índios e 634 negros, ao passo que, no período de 1751 a 1777, o mesmo autor constatou 694 negros e apenas 192 índios batizados. Esses dados corroboram o que se argumenta neste artigo no que se refere à transição do uso da força de trabalho indígena para a africana e afrodescendente a partir dos anos de 1750 (SCHWARTZ, 2001SCHWARTZ, S. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001., p. 276). No entanto, essa diminuição do número de indígenas não significa o seu desaparecimento, mas, sim, a sua incorporação a essa sociedade colonial com outro status que não mais o de pessoa escravizada ou administrada, especialmente a partir da segunda metade do século XVIII.
A situação econômica da Comarca de Paranaguá começou a mudar mais significativamente a partir de 1750 com o desenvolvimento da atividade da pecuária e do comércio de gado nos campos de Curitiba, que atraiu proprietários de Santos, São Paulo e Paranaguá. Ainda que desde a abertura do Caminho do Viamão, em 1730, a atividade com o gado já tenha começado a prosperar, foi na segunda metade do século XVIII que a região se integrou ao mercado atlântico, fornecendo animais tanto para a zona da mineração, em Minas Gerais, como também para o abastecimento de São Paulo e Rio de Janeiro (LUNA; KLEIN, 2005LUNA, F. V., & KLEIN, H. S. Evolução da Sociedade e Economia Escravista de São Paulo, de 1750 a 1850. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.; FRAGOSO, 1998FRAGOSO, J. Homens de Grossa Aventura. Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.). Os campos de Curitiba eram passagem obrigatória para o gado que vinha do Rio Grande do Sul e que seguia para a feira de Sorocaba, trazendo novas possibilidades não apenas para os criadores de gado, mas também para outras camadas da população, que, de alguma maneira, se envolviam com o comércio de animais.
Paralelamente a essa integração com outras áreas da colônia, proporcionada principalmente pelo comércio do gado, a partir de 1750 houve também o incremento do tráfico de africanos para o porto do Rio de Janeiro, mais próximo da Capitania de São Paulo (FLORENTINO; RIBEIRO; SILVA, 2004FLORENTINO, M.; RIBEIRO, A. V.; SILVA, D. D. Aspectos comparativos do tráfico de africanos para o Brasil (séculos XVIII e XIX). Afro-Ásia, 31 (2004), 83-126.). A entrada de capital por meio da pecuária e a oferta mais próxima de africanos escravizados, aliada à pressão cada vez mais forte da Coroa portuguesa pelo fim da escravização de indígenas, foram fatores importantes para que ocorresse a gradual transição do uso do trabalho forçado dos indígenas para o uso da mão de obra de africanos e afrodescendentes.
A transição do uso da mão de obra indígena para a africana e afrodescendente
O processo de transição do uso dos indígenas como trabalhadores forçados para o uso, primeiramente, dos africanos trazidos pelo tráfico e depois também pelos seus descendentes, não ocorreu na mesma temporalidade e com os mesmos contornos em toda a América portuguesa. É sabido que cada região teve suas especificidades. Na região nordeste, especialmente na Bahia e em Pernambuco, o processo de transição aconteceu logo no primeiro século de colonização. Para os engenhos baianos, Stuart Schwartz afirma que, por volta de 1591, a economia açucareira do nordeste se expandia rapidamente e, ao mesmo tempo, o tráfico atlântico de escravos estava regularizado, mas, mesmo assim, ainda prevaleciam os trabalhadores nativos nos engenhos (SCHWARTZ, 1988SCHWARTZ, S. Segredos Internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras , 1988., p. 69) No entanto, a baixa produtividade dos índios, aliada às epidemias de sarampo e varíola, e também à legislação que proibia sua escravização, contribuíram para que os grandes proprietários rurais, senhores de engenho, logo priorizassem os africanos. Já no início do século XVII, a transição para o uso do braço africano estava quase consolidada nas regiões do nordeste voltadas para a economia de exportação. O acúmulo de capital, bem como a integração da região com o mercado atlântico, facilitou a aquisição dos cativos africanos, mais caros do que os indígenas, mas ainda assim preferidos pelos senhores de engenho (SCHWARTZ, 1988SCHWARTZ, S. Segredos Internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras , 1988., p. 72-73).
Para a Capitania de São Paulo e suas vilas, a realidade era bastante diferente daquela encontrada nas Capitanias do nordeste. A mão de obra indígena era utilizada ainda nos séculos XVII e XVIII por grande parte da população e, por outro lado, os escravos africanos e afrodescendentes ainda eram escassos. John Monteiro, autor que tem o trabalho mais expressivo sobre os índios em São Paulo, dedicou as últimas páginas de seu livro Negros da Terra para propor algumas breves considerações sobre o tema da transição. Monteiro ressalta que, na região de São Paulo, o processo de aumento do número de escravos africanos e de decréscimo dos trabalhadores indígenas só foi se consolidar no final do século XVIII, com a expansão da economia açucareira. Ele alerta para o empobrecimento da população com a descoberta de ouro nas Gerais, o que gerou também um aumento no preço dos cativos de origem africana, inacessíveis para a maioria dos moradores da região. Essa decadência econômica teria retardado o processo de transição para a escravidão negra (MONTEIRO, 1994MONTEIRO, J. M. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994., p. 220-226).
Luna e Klein também comentaram brevemente sobre o uso dos indígenas como braço de trabalho na Capitania de São Paulo até o que chamaram de século XVIII tardio, lembrando, porém, que, desde 1700, já acontecia a entrada gradual de escravos africanos. Esse processo de substituição teria sido permitido pela crescente oposição da igreja e do governo à escravização dos índios, aliado ao crescimento econômico da região, que viabilizou a compra de cativos africanos, mais caros do que os indígenas (LUNA; KLEIN, 2005LUNA, F. V., & KLEIN, H. S. Evolução da Sociedade e Economia Escravista de São Paulo, de 1750 a 1850. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005., p. 28). Também Schwartz, como já mencionado anteriormente, usou registros de batismo dos séculos XVII e XVIII da vila de Curitiba, pertencente à Capitania de São Paulo, para mostrar a transição aqui mencionada, demonstrando a inversão na proporção de indígenas e negros batizados a partir de 1750. Schwartz então conclui que os registros de nascimento refletem a transição do uso da força de trabalho indígena para a africana, que acompanhou também o desenvolvimento econômico da região e a sua integração com os mercados em expansão (SCHWARTZ, 2001SCHWARTZ, S. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001., p. 275-280).
Foi, portanto, a abertura para o mercado colonial e o incremento da economia da região ao sul da América portuguesa que facilitou a entrada de escravos africanos e crioulos, mais caros do que os indígenas, até então mais largamente utilizados. Para os indígenas, a crescente limitação da Coroa portuguesa para o uso forçado de seu trabalho, culminando com a legislação pombalina que instituiu sua liberdade incondicional e equiparou seu status ao dos brancos, fez com que esse grupo se tornasse cada vez mais integrado a essa sociedade colonial nas últimas décadas do século XVIII e, portanto, invisíveis nos registros que os diferenciavam da população enquanto escravos e administrados (PORTELA, 2014PORTELA, B. M. Gentio da terra, gentio da Guiné: a transição da mão de obra escrava e administrada indígena para a escravidão africana. (Capitania de São Paulo, 1697-1780). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2014.).
Ao longo desse processo de transição, os indígenas passaram também por um processo de mudança de status (KOPYTOFF, 1982KOPYTOFF, Igor. Slavery. Annual Review of Anthropology, vol.11, 1982, p. 207-230., p. 207-230)3 3 Kopytoff sugere que se pense a escravização dos africanos, a sua entrada no Novo Mundo, a sua vida em cativeiro e a alforria como partes de um mesmo processo, dentro do qual os status dessas pessoas se modificavam. Exemplificando: uma pessoa capturada na África e trazida para a América portuguesa como escrava, chegava como estrangeira, mas logo alterava seu status por se integrar à nova realidade a qual foi submetida. A escravidão poderia durar por gerações ou esse mesmo africano transformar novamente seu status para liberto. O mesmo pode ser pensado para os índios. Aqueles apresados no sertão chegavam às vilas dos colonos como “estrangeiros”. Logo se adaptavam, muitas vezes formando família, para depois tentar obter sua liberdade. É neste sentido que se usa aqui o conceito de “processo de mudança de status”. . Na primeira década do século XVIII, na Comarca de Paranaguá, índios e mestiços, denominados como peças do gentio da terra ou negros da terra, ainda figuravam nos inventários post mortem e recebiam valores nas avaliações, sendo legados e partilhados entre herdeiros, mesmo com as leis que proibiam sua escravização e posse. Contudo, mesmo assim, eram tidos e tratados como escravos. Essa situação também aparece em outras regiões da própria Capitania de São Paulo, conforme mostrou John Monteiro, especialmente para a segunda metade do século XVII (MONTEIRO, 1994MONTEIRO, J. M. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.). Mas, para além dele, há autores que tratam da administração indígena em Minas Gerais, como é o caso de Renato Pinto Venâncio, que também encontrou indígenas arrolados em inventários da Vila do Carmo entre os anos de 1712 e 1719 (VENÂNCIO, 1997). Há ainda trabalhos sobre a presença de índios em inventários na Amazônia e também no Rio Grande do Norte, como o estudo de Helder de Macedo, que também encontrou indígenas arrolados em inventários do século XVIII na Comarca do Caicó (MACEDO, 2008 e RAMOS, 2004). No início do século XVIII, portanto, muitos indígenas ainda mantinham o status de escravos, uma vez que eram legados em inventários e testamentos e também vendidos e usados como pagamentos de dívidas.
A partir das décadas de 1720 e 1730, não é raro encontrar para a Comarca de Paranaguá processos judiciais em que índios e mestiços, seus descendentes, recorreram à justiça para conseguir sua liberdade, ainda que a lei já os considerasse livres. Tais atitudes faziam parte do processo gradual de transição do uso da mão de obra indígena para a africana. Aos poucos, os índios foram tomando consciência de seu lugar na sociedade colonial, que já não era mais o de trabalhar compulsoriamente, em troca de vestuário, alimentação e doutrina, como previa a administração por particulares. Um processo datado do ano de 1733, tramitado na vila de Curitiba, traz o requerimento de José, gentio da terra, que recorreu à justiça para alcançar sua liberdade. Ele era administrado de Anna Gonçalves e dizia ser filho de Simão Cardoso de Leão, por quem era reconhecido como filho, assim como por seus meios-irmãos. De acordo com José, Anna Gonçalves não queria lhe ceder a liberdade voluntariamente, antes, pedia-lhe a quantia de 250 mil réis. A administradora, portanto, ignorou as leis da Coroa portuguesa, das quais certamente tinha conhecimento. José, o índio administrado, através de seu procurador, demonstrou que também conhecia a legislação, uma vez que, na petição apresentada ao juiz ordinário, afirmou que era “forro e liberto tanto pelas leis eclesiásticas como pelas seculares”. José afirmou ainda em sua petição que
[...] tem intentado a dita sua liberdade pedida pelo dito seu pai em sua vida e agora por seus irmãos e a não pode conseguir voluntariamente da dita sua administradora sem atender aos muitos serviços que lhe tem feito pelo decurso de trinta e tantos anos servindo-a e obedecendo-lhe como negro cativo e sem embargo de tudo lhe pede por via de seu irmão Joaquim Cardoso duzentos e cinquenta mil réis [...] (grifo meu). 4 4 Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná (doravante DEAP) BR PR APPR PB045 PC94.3. Petição em que é suplicante Anna Gonçalves e suplicado José, seu administrado. Curitiba, 1733.
No trecho referido, fica evidente a diferenciação que havia entre os negros escravos e os indígenas. Esses últimos, por sua vez, sabiam dessas diferenciações e as utilizavam a seu favor, como fez José ao requerer sua liberdade, afirmando servir sua administradora como um “negro cativo”. Há uma clara mudança de status em relação àqueles indígenas arrolados em inventários, vendidos e usados para pagamento de dívidas. Conforme o século XVIII avançava e o processo de transição do uso da mão de obra indígena para africana se consolidava, ocorria também o processo de mudança de status dos indígenas, que se afastavam cada vez mais da condição social dos africanos e afrodescendentes escravizados. A partir de 1755, há um novo elemento importante nas diferenciações entre negros e indígenas. A política de Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marques de Pombal, veio para reforçar e marcar ainda mais as diferenças entre um e outro grupo social. A política pombalina também refletiu nas demandas que chegaram até a justiça, utilizada pelos indígenas para se diferenciarem dos negros cativos, marcando ainda mais o distanciamento de seu status de anos anteriores quando eram tidos e tratados como escravos.
Diferenciações sociais entre negros e indígenas: a legislação e a justiça como recursos
Se, por um lado, os indígenas e seus descendentes sabiam usar a legislação e a justiça a seu favor, como demonstrou o caso do administrado José, mencionado acima, também os colonos, proprietários e administradores, usaram de estratégias para seguir subjugando, fazendo uso do trabalho forçado e lucrando com as pessoas de origem indígena. A convivência entre negros e índios na Capitania de São Paulo, bem como a miscigenação ocorrida entre os dois grupos, gerou filhos mestiços que poderiam ser escravos se a mãe fosse cativa de origem africana, ou livres, se a mãe fosse indígena. Essa mistura de identidades facilitou a transposição das fronteiras que separavam índios e negros, muitas vezes confundidos, ainda que intencionalmente, entre um e outro grupo. Foi o que aconteceu com um administrado chamado João, que vivia na vila de Curitiba no ano de 1738, mas que foi trocado por um escravo africano e levado para a cidade de São Paulo. Manoel da Rocha, homem forasteiro, apresentou no juízo ordinário um mandado vindo da Ouvidoria de Paranaguá, para que fosse citado Pantaleão Rodrigues. A petição de Manoel é a que segue:
Diz Manoel da Rocha que assistindo na vila de Curitiba algum tempo fez negócio com Pantaleão Rodrigues, morador da mesma vila com um escravo por nome João, nação Benguela, por um mulato do dito por nome João. O qual parecendo lhe ser escravo aceitou pela troca do dito negro e com efeito levando para a cidade de São Paulo sucedeu achar-se no engano por se saber que o dito mulato é do gentio da terra oriundo de uma negra carijó, e porque os tais se não podem aliar nem a doar nem com eles fazer convenção ou trato algum por serem de sua natureza forros e livres, o quer fazer tornar ao dito seu administrador para que este lhe satisfaça entregue do dito seu negro escravo como também haver dele o serviço do dito negro em decurso de três anos a esta parte pelo dolo e malícia com que fez a dita troca sabendo era o dito mulato do gentio da terra [...]. 5 5 DEAP BR PR APPR PB045 PC246.7. Autuação de um mandado vindo do juízo da Ouvidoria Geral da Comarca a requerimento de Manoel da Rocha contra Pantaleão Rodrigues. Curitiba, 1738.
João, tido por mulato escravo, foi trocado por um africano escravo, também chamado João, de nação Benguela. Pantaleão Rodrigues, o dono do administrado João, pagou a Manoel da Rocha 21$400 réis, certamente porque o africano valia mais. Pantaleão, no entanto, fez um ótimo negócio, pois trocou um administrado, sem valor algum, por um escravo africano Benguela, no qual pagou apenas 21$400 réis. O negócio, porém, não foi bem sucedido, o “dolo e a malícia” de Pantaleão foram descobertos por Manoel, que recorreu à Ouvidoria de Paranaguá, e não ao juízo ordinário da vila de Curitiba, por temer que os juízes não citassem ao suplicado, por ser ele casado e conhecido de todos. No dia 22 de maio de 1738, vinte e dois dias depois de um mandado do ouvidor, as partes desfizeram a troca e Manoel da Rocha devolveu a quantia que havia recebido de Pantaleão.
Esse caso mostra como as fronteiras entre ser administrado e escravo eram bastante fluidas. O mulato João provavelmente era filho de mãe indígena e pai negro, ou seja, era um mestiço que foi vendido por seu administrador como cativo. Este deve ter sido um artifício bastante usado por senhores para seguirem negociando seus administrados, ao menos aqueles que carregavam o sangue negro de seus pais e o indígena de suas mães. As características físicas dos mestiços convenceriam o comprador de que se tratava de um escravo legítimo, como aconteceu com Manoel da Rocha, que chegou a levar o administrado para São Paulo. Não há detalhes sobre como a notícia de que João era “gentio da terra” chegou até Manoel, mas é possível que o próprio administrado o tenha alertado, ou ainda que pessoas que conheciam Pantaleão e João o tenham avisado. O fato de Manoel da Rocha ser homem forasteiro na vila de Curitiba também contribuiu para que fosse facilmente enganado, uma vez que não mantinha relações estreitas com pessoas da vila, as quais tinham mais condições de saber quem eram os pais e avós dos administrados.
Os mestiços, fossem filhos de índios com brancos, índios com negros ou negros com brancos, sofriam forte discriminação e ocupavam posições socialmente desqualificadas. Schwartz, no entanto, faz uma reflexão importante sobre o peso da miscigenação para as pessoas de origem indígena:
Na medida em que a população geral crescia, a indígena declinava e seu papel como mediadora perdia relevância. Mais importante ainda foi que com a chegada de um grande número de africanos e o aumento da população mulata o status dos miscigenados declinou devido ao estigma atribuído aos africanos, tanto por sua associação com a condição de escravo, como por ideias raciais. Todas as categorias intermediárias tendiam a ser agregadas como pardos (SCHWARTZ, 2003SCHWARTZ, S. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas. Áfro-Ásia, 29/30, 2003, p. 13-40., p. 35).
No caso de João, ele foi identificado como mulato e sofreu justamente com essa agregação de categorias apontadas por Schwartz. Este mesmo autor, mais adiante em seu texto, afirma que, apesar da miscigenação ser responsável por produzir novas formas de classificação racial e multiplicar as categorias sociais, a elite tendia a vê-las todas da mesma maneira (SCHWARTZ, 2003SCHWARTZ, S. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas. Áfro-Ásia, 29/30, 2003, p. 13-40., p. 35), o que aumentava significativamente as chances de um administrado ser vendido como mulato escravo.
O estigma de ser índio, africano, afrodescendente ou descender do cruzamento de ambos, mesmo que tivesse o status legal de pessoa livre, era carregado por gerações. Outro processo judicial, datado do ano de 1744, na vila de Curitiba, trata de uma justificação apresentada por Joaquim Monteiro da Conceição. Conforme seus termos:
Diz Joaquim Monteiro da Conceição, natural da cidade de São Paulo, filho natural de Bartolomeu Rodrigues da Conceição e de sua mãe Marcelina Monteira, que ele suplicante para certos requerimentos que tem que fazer no Juízo onde lhe competir quer justificar em como é solteiro livre e desimpedido como também quer mostrar ser isento de qualquer cativeiro e administração [...].6 6 DEAP BR PR APPR PB045 PC497.14. Autuação de petição de justificação em que é justificante Joaquim Monteiro da Conceição. Curitiba, 1744.
Joaquim possivelmente estava envolvido em outra demanda judicial, na qual teve que comprovar suas origens, dizendo ser livre de “qualquer cativeiro e administração”. As palavras usadas na petição do justificante refletem a proximidade que havia entre ser escravo e ser administrado, duas condições sociais restritivas e estigmatizadas pela sociedade. Se Joaquim Monteiro da Conceição precisou justificar que não era nem uma coisa e nem outra, seguramente tinha características físicas que depunham contra ele. Provavelmente era um mestiço livre ou liberto, com pais também livres, mas de origem indígena ou africana.
Quatro testemunhas foram interrogadas no processo judicial e todas elas confirmaram o que foi alegado por Joaquim em sua petição. Uma delas, Antonio Pereira Rodrigues, morador dos Campos Gerais, solteiro e de 50 anos, disse, em seu depoimento, que “o dito justificante era solteiro livre e desimpedido e forro e isento de todo o cativeiro e que não é sujeito a administração alguma”. A informação de que ele era “forro” só aparece nesse depoimento e pode indicar que Joaquim fosse descendente de gentios da terra ou de afrodescendentes libertos.
Na segunda metade do século XVIII, um novo elemento reforçou ainda mais a diferenciação existente entre africanos, afrodescendentes e indígenas. Trata-se da política implementada por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marques de Pombal. Durante a sua atuação junto ao gabinete real, os índios ganharam muita atenção. Uma das primeiras ações de Sebastião José de Carvalho e Melo nesse sentido foi a promulgação da Lei de 6 de junho de 1755, a qual declarou livres todos os indígenas do Estado do Maranhão e Grão-Pará. O rei Dom José I retomou várias leis e alvarás expedidos no século XVII e os reforçou, declarando que todos os indígenas do referido Estado ficariam livres e com direito à propriedade, da qual até então muitos eram privados. Três anos depois, em 8 de maio de 1758, o rei assinou um Alvará no qual ampliou o texto da Lei para todo o Estado do Brasil (SILVA, 1830SILVA, A. D. Collecção da Legislação Portugueza. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Typografia Maigrense, 1830., p. 369-376 e 604).
Já nos primeiros anos de atuação de Sebastião José de Carvalho e Melo, é sensível a diferença no tratamento dado a negros e indígenas. A Lei de Liberdade dos Índios, de 6 de junho de 1755, conferiu a eles um status superior ao dos negros e mulatos. Nessa Lei, o rei Dom José I deixou claro que "Desta geral disposição excetuo somente os oriundos de pretas escravas, os quais serão conservados no domínio de seus atuais senhores" (SILVA, 1830SILVA, A. D. Collecção da Legislação Portugueza. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Typografia Maigrense, 1830., p. 373). Ou seja, aqueles escravizados que tivessem pai indígena e mãe escrava africana ou afrodescendente, não se beneficiariam com a Lei de 1755. O que valia era a linha de ascendência materna. Isto não impediu que alguns mestiços tentassem fazer uso de sua ascendência indígena, ainda que fosse por parte de pai.
Esse foi o caso do mulato Antonio, enviado para Viamão para ser vendido por seu dono, Braz Domingues Vellozo, que o entregou a um padre religioso de São Francisco, que ficaria encarregado de fazer a venda. No entanto, no ano de 1759, Braz Domingues Vellozo foi ao juízo ordinário da vila de Curitiba requerer uma justificação. O mulato Antonio, após chegar a Viamão, afirmou não poder ser vendido, pois seria um administrado da capela de Tamanduá. Vellozo foi à justiça para comprovar que Antonio era de fato um escravo. Em sua petição disse:
[...] porque hoje há notícia que o dito se faz forro dizendo ser oriundo do gentio da terra, e da administração da capela de Nossa Senhora da Conceição do Tamanduá, o que é falso; porque foi nascido de uma escrava do suplicante por nome Florencia de nação Angola e criado na mesma casa do suplicante até o dito tempo que o mandou vender [...].
As testemunhas chamadas pelo justificante para depor a seu favor, afirmaram que Antonio era filho de Florência, de nação Angola. A testemunha Josefa da Silva, viúva de 40 anos, disse em seu depoimento
[...] que o tal escravo Antonio de que o justificante trata na sua petição é escravo por filho de uma negra escrava da nação Angola este filho a ficar mais claro foi por ser filho que diziam ser filho de um administrado da capela do Tamanduá de Nossa Senhora da Conceição e a esse respeito se quer o dito Antonio chamar administrado não que seja por parte da mãe pois ela é escrava diretamente [...].7 7 DEAP BR PRAPPR PB045 PC1217.37. Autos cíveis de justificação que faz o tenente coronel Braz Domingues Vellozo a respeito de um mulato chamado Antonio. Curitiba, 1759.
Josefa informa que Antonio era filho de um administrado e que, por isso, ficou “mais claro”, mas sua mãe, não havia dúvidas, era uma “negra escrava de nação Angola”. É muito provável que Antonio tenha se aproveitado de sua cor de pele mais clara para alegar que era livre por ser descendente de indígenas. Em Viamão ninguém conhecia sua mãe e nem seu pai, sendo a oportunidade perfeita para tentar se passar por “gentio da terra”, com a ajuda de seu tom de pele. O plano não deu certo, pois todas as testemunhas foram unânimes em dizer que era filho de uma negra escrava e que, portanto, seria ele também escravo.
Como foi dito acima, a Lei de 6 de junho de 1755, que concedia liberdade aos indígenas, excluía deste privilégio os "oriundos de pretas escravas", como parece ser o caso de Antonio. A lei, portanto, era conhecida pelos colonos e proprietários de escravos, que se faziam valer dela para garantirem seu direito de propriedade. Por outro lado, Antonio, o mulato, sabia que se fosse administrado não poderia ser escravizado, pelo que fez a tentativa de dizer para a justiça que era indígena e não afrodescendente. As distinções e discriminações legais havidas entre índios, africanos e afrodescendentes, portanto, eram conhecidas por todos os níveis da hierarquia social. Ainda que não haja menção direta à legislação pombalina nesse documento, é muito provável que os colonos já tivessem conhecimento dela. Ademais, a proibição de vender gentios da terra não era uma novidade trazida pela política de Pombal, que apenas reforçou e incluiu a importância da miscigenação entre índios e brancos e a sua integração à sociedade. Para aqueles filhos de mães negras, no entanto, nada mudou. Seguiam na sua condição de escravos.
Dois anos após a Lei de 1755, o Diretório dos Índios, de 1757, também veio para reforçar as diferenças entre os ameríndios e os africanos e afrodescendentes escravizados. Em seu parágrafo 10, o Diretório proibia os índios de serem chamados de negros. Conforme o texto original:
Entre os lastimosos princípios, e perniciosos abusos, de que tem resultado nos índios o abatimento ponderado, é sem dúvida um deles a injusta, e escandalosa introdução de lhes chamarem Negros; querendo talvez com a infâmia e vileza deste nome, persuadir-lhes, que a natureza os tinha destinado para escravos dos Brancos, como regularmente se imagina a respeito dos Pretos da Costa da África (SILVA, 1830SILVA, A. D. Collecção da Legislação Portugueza. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Typografia Maigrense, 1830., p. 510).
Nada mais elucidativo da distância cada vez maior entre negros e índios, no que se refere à sua situação perante as autoridades portuguesas, do que este parágrafo 10 do Diretório dos Índios. Negro era sinônimo de escravo e, este termo, só estaria adequado aos “pretos da Costa da África”, ao menos nesse momento. A preocupação do parágrafo do Diretório em proibir os índios de serem chamados negros refere-se ao fato de que muitos indígenas foram assim chamados durante mais de 200 anos de colonização. Os negros da terra viviam e trabalhavam, muitas vezes, ao lado dos negros da Guiné. No entanto, mesmo sabendo que, na prática, a submissão de indígenas a trabalhos forçados ocorreu em larga escala e de maneira muito semelhante à que estavam sujeitos os africanos, não se pode deixar de notar as diferenças de tratamento dadas aos dois grupos por parte da legislação referida.
Outro caso que mostra a fluidez das fronteiras entre negros e índios, e a mobilidade social a que estavam sujeitos, é o de Aleixo e sua família, que, no ano de 1753, entraram na justiça para provar que eram descendentes de gentios da terra e não da Guiné. Em uma das muitas petições existentes no processo, Faustina de Ramos, mãe de Aleixo, apresentou um histórico familiar, desde Madalena, sua bisavó, “carijó do gentio da terra de cabelo corredio vinda do sertão de Corytiba”, conforme suas palavras - ainda que traduzidas pelo escrivão. Desde esse tempo, a família esteve submetida a senhores em Santos e Paranaguá, sendo nesta última vila que ela e seus filhos se achavam em poder de Matheus da Costa Rosa. Em uma petição inicial do processo, destinada ao ouvidor da Comarca de Paranaguá, Aleixo assim se expressou:
Diz Aleixo dos Reis Pinto [por ele] e em nome de sua mãe Faustina de Ramos que eles procedendo do gentio da terra tiveram na vila de Santos justificação em como são legítimos descendentes de nação de carijós cuja justificação se julgou de nenhum efeito por falta de citação no Doutor Matheus da Costa Rosa em cujo poder se acham violentados em rigorosa escravidão [...] (grifo meu). 8 8 DEAP BR PR APPR PB045 PC1730.52. Traslado do segundo apenso da causa que correu entre partes Aleixo dos Reis Pinto e o Doutor Matheus da Costa Rosa. Paranaguá, 1771.
Mais uma vez, a referência à escravidão aparece na petição apresentada pelos indígenas, numa clara comparação com a relação violenta e submissa a que estavam submetidos os escravos africanos e afrodescendentes, e também ao passado dos próprios índios, que também foram submetidos ao trabalho escravo. Aleixo dos Reis Pinto litigou com o doutor Matheus da Costa Rosa, citado na petição, durante mais de dez anos em busca de sua liberdade. Esse processo se arrastou até o ano de 1765, sem que Aleixo conseguisse provar suas origens e obter sua liberdade e a de sua família. Na justiça, Matheus da Costa Rosa, seu senhor, insistia que Aleixo, sua mãe e irmãos eram oriundos de uma negra da Guiné, chamada Madalena; a outra parte, por sua vez, alegava que eram oriundos de uma negra do gentio da terra, também chamada Madalena. Por fim, foi a versão de Matheus da Costa Rosa que prevaleceu.
Outros dois documentos, ambos datados do ano de 1778, quando então as principais leis de Pombal referentes à população indígena já estavam em vigor, trazem exemplos em que os índios buscaram demonstrar o seu afastamento dos negros e mulatos. São processos da mesma natureza, justificações, nas quais duas mulheres vão à justiça para provar igualdade com seus noivos. A petição de Ana Maria do Rosário diz que “já corridos os pregões para casar com Francisco Álvares, veio diante do reverendo vigário da vara Ana Pereira, viúva mãe do contraente, afetando desigualdade dizendo que a suplicante era de menor qualidade e desigual a seu filho”. Quem denunciou a suplicante, portanto, foi sua futura sogra, Ana Pereira. Logo em seguida, ainda em sua petição, Ana Maria do Rosário expõe suas razões que provam não ser ela de qualidade inferior a seu noivo:
A justificante é filha legítima de Antonio da Silva, já defunto, e de sua mulher Ignácia Álvares da Cunha, também defunta, os quais não têm, nem seus antepassados, nunca em tempo algum tiveram em a sua geração casta de negro ou mulato. Que suposto os antepassados da justificante procedam de gentio da terra, também a impediente Ana Pereira é filha de gente da terra, que procede do gentio, em cujos termos não pode haver a desigualdade que se quer afetar. 9 9 DEAP BR PRAPPR PB045 PC2099.67. Autos cíveis de justificação em que são partes Ana Maria do Rosário, justificante, e Ana Pereira, justificada. Paranaguá, 1778.
A justificante é clara ao argumentar que não tem em sua família “casta de negro ou mulato”, o que seria um impedimento, segundo Ana Pereira, para que se casasse com Francisco Álvares. No entanto, Ana Maria do Rosário alegou que seu noivo e sua mãe, a denunciante, eram também oriundos do “gentio da terra”, sem que houvesse fundamento o impedimento alegado por sua futura sogra. No último item exposto por Ana em sua petição, a justificante vai além e diz que mesmo que “só tivesse casta de gentio da terra e o contraente não, nem por isso se pode chamar desigualdade, porque a Lei de 6 de junho de 1755 os nobiliza (sic) e os não distingue dos que procedem de branco”. Ana Maria do Rosário, descendente de indígenas, fez uso da legislação pombalina para garantir seus interesses. Demonstrou que conhecia e usou a Lei de 6 de junho de 1755 para argumentar que agora índios e brancos não eram distintos, mas, sim, equiparados uns aos outros.
Na sequência do processo, Ana Maria do Rosário apresentou três testemunhas para corroborarem suas alegações, o que, de fato, todas fizeram. Vicente Pereira Rosa, uma das testemunhas, disse que sabia que a justificante era filha de Antonio da Silva e Ignácia Álvares da Cunha, “dos quais em tempo nenhum houve a menor nota de mulato ou negro”, e que sabia que a justificante descendia do gentio da terra “que hoje por Lei de sua majestade se reputam por brancos”. Havia um esforço, portanto, por parte dos índios, para se afastar dos negros e mulatos, esses ainda com nota de infâmia, ao passo que eles, os indígenas, de acordo com as leis do Reino, seriam reputados por brancos. O projeto de Pombal para Portugal e seus domínios era justamente equiparar vários grupos sociais, elevando o status daqueles que antes ocupavam lugares sociais baixos dentro da hierarquização natural que existia nas sociedades de Antigo Regime, transformando todos em súditos reais.
Os índios na América portuguesa foram um desses grupos que teve seu status equiparado ao dos brancos a partir da legislação pombalina, como a própria testemunha, na vila de Paranaguá, lembrou. É preciso, por outro lado, relativizar essa equiparação, pois, na prática, o estigma em relação aos indígenas em muitas ocasiões seguia acontecendo, apesar da legislação prever o contrário. Patrícia Sampaio, em trabalho sobre os sertões do Grão-Pará, no século XVIII, chamou a atenção para as distâncias que existiam entre o projeto colonial de Pombal e os processos coloniais, marcados por tensões e violências e por questões forjadas pelos diferentes atores dentro de cada sociedade. A autora exemplifica com o caso do sargento Felipe Muniz, de origem indígena, que, no início do século XIX, teve sua promoção na carreira militar negada por ser “tapuio”. Ou seja, mais de meio século depois da legislação pombalina tornar os indígenas vassalos sem quaisquer distinções, o caso de Felipe mostrou que, na prática, muitas vezes não era o que acontecia (SAMPAIO, 2011SAMPAIO, P. M. M. Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdade na colônia. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2011. , p. 133-135).
Para os negros e mulatos, no entanto, as novas ações executadas pelo Reino, principalmente em relação a essa população no Novo Mundo, nunca foram a eles direcionadas e nem voltada à sua equiparação a outros grupos sociais e a elevação de seu status. Como bem observou Priscila de Lima, “as figuras do negro e do mestiço ainda eram admitidas como sinônimo de infâmia. Estes eram grupos tratados de forma diferenciada no interior das políticas do período” (LIMA, 2011LIMA, P. De libertos a habilitados. Interpretações populares dos alvarás anti-escravistas na América portuguesa (1761-1810). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2011., p. 30). E também o eram pelos próprios indivíduos que compunham a sociedade, o que incluía os índios, que sofreram um processo de mudança de status com as novas leis do Reino. Os indígenas, eles próprios estigmatizados, lançavam mão de recursos que os distinguia dos negros e mulatos, estes muito mais discriminados do que aqueles.
De volta ao processo judicial, após o depoimento das testemunhas, foi ouvida Ana Pereira, a mãe do noivo, que disse “que quanto a razão do sangue da justificante não tinha nota alguma que lhe pusesse, mas que a razão só que tinha era que o referido seu filho era o seu encosto e de quatro filhos que tem”. Na justiça, Ana Pereira fez um discurso diferente, não questionando a “pureza de sangue” de sua futura nora, mas alegando que seu filho era arrimo de família. O ouvidor geral da Comarca, Antonio Barbosa de Mattos Coutinho, emitiu sua sentença sobre o caso em dezembro de 1778, favorável à justificante Ana Maria do Rosário, considerando “frívolos” os motivos alegados pela mãe do noivo.
Sobre o outro processo judicial, trata-se de Elena Micaela de Souza que estava contratada para se casar com Ignácio da Costa, também no ano de 1778. O pai do contraente, Francisco da Costa, foi até o reverendo vigário da vara para denunciar desigualdade. O caso também se passou na vila de Paranaguá e Elena recorreu ao ouvidor-geral da Comarca para que pudesse justificar que ela não era de qualidade inferior a de seu futuro esposo. Em sua petição, Elena diz que seu pai e sua mãe são descendentes do gentio da terra “sem mistura de mulato ou negro na sua geração”. Na sequência, a justificante faz uma séria acusação à família de seu noivo:
P[rovará] que o contraente Ignácio da Costa é filho do dito Francisco da Costa, descendente do gentio da terra, e nesta parte com igualdade com a suplicante, porém da parte materna é muito inferior, porque p[rovará] que Isabel dos Santos, mãe do contraente, descende de uma negra mina a qual chamada Francisca era avó do dito contraente Ignácio da Costa pela parte materna, e nestas circunstâncias não tem o suplicado pai do contraente motivos para dirimir o matrimônio com desigualdade em conformidade da Lei Novíssima porque a melhoria da suplicante fica manifesta e só ela e seu pai é que podiam impedir, se quisessem, e não o suplicado sendo de inferior condição.
Elena Micaela afirma que a mãe de seu noivo era filha de uma negra mina e que se alguém poderia alegar desigualdade seria ela e seu pai, de acordo com a “Lei Novíssima”. Certamente a Lei refere-se ao Diretório dos Índios, que incentivava o casamento dos índios com brancos, mas não o de índios com negros, considerando “injusta e escandalosa a introdução de lhes chamarem negros”, deixando bem marcada a diferenciação que havia entre um e outro grupo (SILVA, 1830SILVA, A. D. Collecção da Legislação Portugueza. Legislação de 1750 a 1762. Lisboa: Typografia Maigrense, 1830., p. 510). Não obstante as “Leis Novíssimas” e a recriminação do próprio grupo, os casamentos mistos ainda existiam, como demonstra esse caso de Elena Micaela, disposta a se casar com Ignácio da Costa, um mestiço que tinha negros em sua geração.
No entanto, não era o que Francisco da Costa, o pai do noivo, alegava. Ele apresentou contestação da petição da justificante, dizendo ser falso que ele era descendente de gentios da terra, “mas sim desde seus avós paternos e maternos é branco legítimo”. E sobre a família de Elena Micaela, Francisco disse:
P[rovará] que é falso dizer a autora que a negra mina chamada Francisca é avó do contraente, porque o é da mãe do contraente e vem a ser bisavó do mesmo contraente vindo a ficar em quarto grau tal parentesco e extinta conforme o Direito Canônico a nota de mulato de sorte que se se pretendesse ordenar outro qualquer cargo que requeira limpeza de sangue o havia de conseguir por ficar extinta semelhante nota, o que acontece pelo contrário com a autora porque p[rovará] que a mesma autora procede de carijó com negro porque Ana carijó teve de um mulato por nome Antonio, cativo do defunto Manoel Gonçalves Carreira uma filha por nome Luzia e esta casou com um carijó por nome Thomé Rangel dos quais procedeu Joanna, mãe da autora, termos em que se mostra bem claramente a desigualdade do réu por ser melhor a sua geração e para mostrar a inferioridade da autora basta olhar para a cor dela que bem mostra por negra a sua qualidade. 10 10 DEAP BR PR APPR PB045 PC2129.69. Autos cíveis de justificação em que é justificante Elena Micahela de Souza e justificado Ignácio da Costa. Paranaguá, 1778.
Note-se que, pelas palavras de Francisco da Costa, a justificante Elena Micaela também seria a quarta geração sem que houvesse negros ou mulatos na família, da mesma maneira que ele alegou sobre a família de sua mulher. Ainda assim, Francisco da Costa insistiu em desqualificar a justificante, dizendo que bastava “olhar para a cor dela que bem mostra por negra”. Francisco alegou que seu filho, Ignácio, poderia ocupar qualquer cargo que desejasse, pois era parente de uma negra em quarto grau, o que significava que a nota de mulato já estaria extinta, conforme o Direito Canônico. Apesar de no processo não estar referida nenhuma lei específica para os indígenas, como a de 1755 e o Diretório, que os equiparava com os brancos, fica subentendido que o problema não era descender de gentios da terra, mas, sim, de negros e mulatos.
No dia 3 de julho de 1778, o ouvidor Antonio Barbosa de Mattos Coutinho emitiu sua sentença, favorável à justificante. Coutinho argumentou que nada impedia o casamento dos contraentes e que o pai do noivo não apresentou prova alguma do que alegava, ao contrário de Elena, que apresentou duas testemunhas. Francisco da Costa, no entanto, não desistiu. Apresentou embargos à sentença apontando erros no processo, que não foram aceitos pelo ouvidor. Apelou para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro e também teve seu pedido negado. Somente em 23 de setembro de 1779, mais de um ano após a primeira sentença do ouvidor da Comarca de Paranaguá, foi enviada a carta da sentença ao vigário da vara para que casasse Elena Micaela e Ignácio da Costa. O pai, Francisco da Costa, conseguiu adiar por mais de um ano o casamento de seu filho com a mulher que ele julgava ser inferior. O desprezo por Elena Micaela apareceu também no agravo de Francisco, que ao se reportar ao Tribunal da Relação escreveu que “impedindo o agravante o tal casamento pela desigualdade que entre um e outro havia, por ser a agravada mulata fusca e o filho do agravante homem branco já de seus antepassados”.
Os dois exemplos apresentados mostram como, a partir da segunda metade do século XVIII, as ações implementadas pela Coroa portuguesa, e em grande parte orquestradas por Sebastião José de Carvalho e Melo, refletiram na relação entre índios e negros. Os primeiros tiveram seu status elevado em relação aos últimos, distanciando socialmente os dois grupos, antes muito mais próximos. O esforço dos descendentes de “gentios da terra”, como mostraram os dois processos judiciais, era para afastar qualquer resquício de sangue negro ou mulato que tivessem herdado de seus antepassados, pois isso os colocava em posição de inferioridade, como mostrou o caso do mulato Antonio, filho de pai indígena e de mãe negra. Nesse sentido, Cacilda Machado, ao analisar as relações entre escravos e livres, e também entre brancos, pardos e negros na freguesia de São José dos Pinhais, também pertencente à Comarca de Paranaguá, na passagem do século XVIII para o XIX, argumentou que os grupos buscavam se diferenciar uns dos outros, reiterando as desigualdades, na tentativa de uma mobilidade ascendente na hierarquia social (MACHADO, 2008MACHADO, Cacilda. A trama das vontades, negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social do Brasil escravista. Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.). Essa reiteração das desigualdades observada pela autora entre escravos e livres é também observada nessa análise aqui proposta, mas entre negros e indígenas, em que estes últimos, quando era de seu interesse, faziam uso dessas diferenças para reafirmar sua “superioridade” na tentativa de ascender na hierarquia social e se distanciar do status de pessoas escravizadas ou administradas.
Contudo, ao mesmo tempo em que a legislação pombalina afastou os negros e os índios, também mostrou o quão próximos eram esses dois grupos. A mestiçagem entre eles não foi nada incomum na Comarca de Paranaguá, como já foi exemplificado com alguns casos e ainda outros que serão vistos a seguir. Ademais, tanto Elena Micaela quanto Ignácio da Costa, casal do último processo judicial exposto, tinham antepassados negros e também ameríndios em sua família. Nesse momento, descender de indígenas tinha muito mais vantagens do que descender de negros e mulatos, estes muito mais estigmatizados pela sociedade colonial. A possibilidade dada pela legislação pombalina de equiparação com os brancos forçou os indígenas a demonstrarem que não descendiam de negros ou mulatos e, por outro lado, gerou denúncias como a dos dois processos judiciais acima exemplificados, evidenciando a aproximação que existia entre os dois grupos.
Os índios e seus descendentes, colocados em posição de superioridade em relação aos negros nessa nova organização social, passaram a fazer parte da sociodinâmica da estigmatização, como chamou Norbert Elias. Em uma sociedade em que um grupo se considera superior ao outro e se vê ameaçado por ele, o coloca em condição de inferioridade, estigmatizando-o (ELIAS, 2000ELIAS, N. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000., p. 23). Foi o que fez Ignácio da Costa, um descendente de indígenas, que desprezou Elena Micaela por seu tom de pele mais escuro e pelos seus antepassados negros e mulatos. As medidas de Pombal para equiparação de diversos grupos sociais tornaram as relações entre índios e negros ainda mais complexas na América portuguesa, especialmente em regiões como a Capitania de São Paulo, onde havia um alto nível de miscigenação entre as pessoas. O convívio entre negros e índios, proporcionado pelo lento e gradual processo de transição do uso da mão de obra indígena para a africana, ocorrido ao longo do século XVIII, permitiu que essas pessoas mantivessem relações interdependentes nos mais variados níveis, incluindo a formação de famílias mestiças, como será visto adiante.
A convivência inevitável e as relações interdependentes
Desde os anos iniciais da ocupação da América por portugueses e espanhóis, os ameríndios e os africanos escravizados foram submetidos a diferentes formas de sujeição e integraram o nível mais baixo dessa sociedade. A convivência era inevitável. No entanto, essa convivência era temida pelos europeus, que trataram de utilizar os indígenas como força militar para justamente se opor aos escravos africanos, ao menos em algumas regiões da colônia. No nordeste dos séculos XVI e XVII, não foram raros os casos de grupos de índios usados para destruir comunidades de cativos fugidos, formando o que Schwartz chamou de “blindagem étnica”, na tentativa de inibir o agrupamento de índios e negros, que poderiam se unir para lutar contra os colonos (SCHWARTZ, 2003SCHWARTZ, S. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas. Áfro-Ásia, 29/30, 2003, p. 13-40., p. 17). Na Bahia e também em Pernambuco, as tropas indígenas foram bastante usadas pela Coroa portuguesa, principalmente para desmantelar quilombos e coibir a formação de novas comunidades de escravos fugidos. Ronald Raminelli escreveu artigo sobre a família Camarão, índios da etnia potiguar que receberam ordens e patentes militares da Coroa portuguesa, demonstrando sua participação significativa nas guerras e conflitos ao lado dos colonos no Novo Mundo (RAMINELLI, 2008RAMINELLI, R. Privilegios y malogros de la familia Camarão. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colóquios, 17 Março 2008. Disponível em: http://nuevomundo.revues.org/27802. DOI: 10.4000/nuevomundo.27802
http://nuevomundo.revues.org/27802. DOI:...
).
Essa era, no entanto, a realidade do Nordeste da América portuguesa, que não se aplicava ao restante da colônia. O próprio Schwartz lembra que, em Minas Gerais, no século XVIII, o sistema de capitães do mato indígenas para a captura dos escravos fugidos não funcionou devido à grande extensão territorial, ao crescimento rápido da população e ao pequeno número de índios submetidos aos colonos para fazer frente ao grande número de escravos. Schwartz também menciona o Maranhão, onde o baixo volume do tráfico de africanos antes de 1680 não permitiu que houvesse muitas oportunidades para interação entre índios e negros. Essa realidade mudou quando houve uma expansão econômica no Estado do Grão-Pará e Maranhão, que permitiu o aumento do tráfico de escravos para a região. Já em Goiás, a presença de índios hostis, como grupos falantes do Jê e também os guaranis, que fugiram da escravização dos paulistas, formava uma barreira natural que dificultava a entrada de brancos e de negros (SCHWARTZ, 2003SCHWARTZ, S. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas. Áfro-Ásia, 29/30, 2003, p. 13-40., p. 26-27). Cada região da colônia, portanto, tinha sua própria realidade e configuração social, gerando diferentes níveis de interação entre indígenas e africanos.
Apesar da óbvia coexistência de índios e negros no mesmo espaço e período no Novo Mundo, pouco se escreveu sobre essa convivência. Ademais, como alertou Schwartz, o pouco que se sabe sobre esse relacionamento reflete os interesses do regime colonial (SCHWARTZ, 2003SCHWARTZ, S. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas. Áfro-Ásia, 29/30, 2003, p. 13-40., p. 14). Por conta disso, se sabe muito mais sobre as hostilidades entre índios e negros do que as interações amigáveis que aconteceram entre os dois, como o próprio artigo de Schwartz mostrou, ao evidenciar com maior afinco os enfrentamentos e a oposição entre os dois grupos, principalmente na destruição de quilombos. Esse era o tipo de relação desejada pelas autoridades coloniais entre as duas classes mais baixas da hierarquia social e que compunham mais da metade da população da colônia.
Contudo, esse desejo dos colonizadores de manter as relações entre índios e negros apenas no nível do conflito não se concretizou. Em livro organizado por Mathew Restall, que traz nove artigos sobre as relações entre os nativo-americanos e os africanos no Novo Mundo, os autores se preocuparam em trazer em suas análises não apenas as relações de hostilidade, mas também aquelas de integração. Segundo Restall, na América espanhola havia uma tendência de enxergar as relações entre índios e negros como hostis e antagônicas, mas a preocupação dos autores do livro foi justamente a de mostrar a relação dialética hostilidade-harmonia que figurava entre os dois grupos (RESTALL, 2005RESTALL, M. Beyond Black and Red. African-native relations in Colonial Latin America. Albuquerque: University of New Mexico Press , 2005., p. 2-3). Patrick Carrol, nesse mesmo livro, realiza uma revisão das análises que se fizeram sobre as relações entre negros e ameríndios no México Colonial, que as enxergavam muito mais como hostis do que amigáveis. Estas últimas, quando aconteciam, eram consideradas excepcionais. No entanto, o que Carrol argumenta em seu artigo é que a relação entre índios e negros era muito mais equilibrada do que se supõe, oscilando entre a hostilidade e a harmonia (CARROL, 2005CARROL, P. Black Native Relations and the Historical Record in Colonial Mexico. In: RESTALL, M. Beyond Black and Red. African-native relations in Colonial Latin America (p. 245-267). Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005, p. 235-267., p. 248-249). As relações entre índios e negros mantidas na Capitania de São Paulo, e que puderam ser evidenciadas nos processos judiciais aqui analisados, também se mostram oscilantes entre a hostilidade e a harmonia. O contato e o compartilhamento de experiências resultavam em aproximações entre os dois grupos e também entre os mestiços, filhos de índios com brancos, negros com brancos, e também de índios com negros.
O indício mais antigo encontrado nos documentos aqui consultados de convivência entre indígenas e negros na Comarca de Paranaguá foi registrado em inventários post mortem. Conforme já foi dito anteriormente, mesmo com a proibição da escravização de indígenas, bem como sua legação e partilha em inventários, imposta pela legislação da Coroa portuguesa, esse ainda era o uso e o costume nas vilas paulistas em finais do século XVII e primeira metade do XVIII. E, algumas vezes, ao lado das pessoas indígenas escravizadas, constavam alguns escravos de origem africana.
Esse foi o caso do inventário de João Leme da Silva, aberto no dia 8 de abril de 1698, na vila de Curitiba, que trazia arrolado entre seus bens 62 pessoas escravizadas, sendo 36 de origem indígena, qualificados em sua maioria como “negros do gentio da terra”, e 26 qualificados como “mulato”, ou simplesmente “negro”11 11 DEAP BR PR APPR PB045 PC0002.1. Autos de inventário de João Leme da Silva. Curitiba, 1698. . Há que se fazer uma ressalva em relação à qualificação. É possível que alguns dos qualificados apenas como negros fossem também de origem indígena, uma vez que era um termo comum usado tanto para índios como para africanos e crioulos, como já foi dito anteriormente. Ainda assim, há aqueles que aparecem como “mulatos”, esse, sim, um termo mais comumente usado para se referir a africanos e afrodescendentes.
Há ainda outros três exemplos de inventários que trazem arrolados indígenas e negros na mesma propriedade, todos abertos na vila de Curitiba. Em 1715, o inventário de Izabel do Prado apresentou três pessoas escravizadas: Pascoal, do gentio da terra, por quarenta mil réis, um rapaz por nome João, em vinte e dois mil réis, e uma negra por nome Luiza, em quarenta mil réis. Em 1720, entre os bens do falecido José da Costa Vasconcellos, constavam duas pessoas qualificadas como gentios da terra e um mulato, totalizando o valor de setenta e oito mil réis. Por fim, o inventário de Balthazar Carrasco dos Reis, datado de 1733, traz também a evidência da convivência entre negros e indígenas, mas em outros termos. Enquanto os três exemplos de inventários citados acima atribuem valor às pessoas de origem indígena, nesse elas vêm apenas arroladas como “treze peças da administração do gentio da terra”. Há um único escravo negro assim descrito: “Foi visto e avaliado um negro do gentio da Guiné já ancião por nome Lourenço em noventa mil réis”.12 12 DEAP BR PRAPPR PB 045 PC08.1. Auto de inventário dos bens que ficaram por morte de Izabel do Prado. Curitiba, 1715; DEAP BR PRAPPR PB 045 PC10.1. Auto de inventário dos bens que ficaram por morte de José da Costa Vasconcellos. Curitiba, 1720; DEAP BR PR APPR PB045 PC0105.3. Auto de inventário dos bens que ficaram por morte de Balthazar Carrasco dos Reis. Curitiba, 1733.
A não avaliação dos indígenas reflete justamente as mudanças que vinham cada vez mais sendo impostas aos colonos da Capitania de São Paulo, por meio da legislação da Coroa portuguesa, e também pela atuação de seus agentes. No ano de 1721, o ouvidor da Capitania de São Paulo, Rafael Pires Pardinho, em visita em correição à vila de Curitiba, deixou provimentos por escrito, entre os quais o artigo 108 proveu que “[...] os juízes não mandem avaliar os carijós e seus descendentes, que forem da administração dos defuntos, como por repetidas leis se tem declarado, pois sendo estes por elas libertos não admitem valor e nem estimação [...]” (PÁGINAS escolhidas, 2003PÁGINAS escolhidas: história. Curitiba: Assembleia Legislativa do Paraná, 2003., p. 138). Mais tarde, em 1727, o ouvidor da Comarca de São Paulo, Francisco Galvão de Affonseca, em carta ao governador da Capitania, Rodrigo César de Menezes, opinou sobre a regulamentação da administração e também apontava para o arrolamento dos indígenas nos inventários e sua partilha entre os herdeiros, ainda que não tivessem valor (DOCUMENTOS interessantes, 1913DOCUMENTOS interessantes para a história e os costumes de São Paulo. (vol. III). Typografia Cardozo Filho & Cia: São Paulo, 1913, p. 85-92, p. 85-92).
Os inventários demonstram que a convivência entre os dois grupos acontecia mesmo durante a primeira metade do século XVIII, ainda que os indígenas fossem maioria entre os submetidos à coerção. Nesse período, mantinham um status muito próximo, pois ambos eram tratados como escravos. Conviviam enquanto trabalhadores forçados nas propriedades dos senhores mais abastados que conseguiam adquirir algumas poucas pessoas escravizadas de origem africana. Certamente dividiam tarefas e obrigações, mantinham amizades e desafetos e, em alguns casos, podem até ter constituído família.
Um processo judicial datado de 1738, iniciado na vila de Curitiba, dá conta de outras formas de interação não apenas entre negros e indígenas, mas também entre eles e a população branca e mestiça. Gaspar Carrasco dos Reis é o autor e se queixa contra Jerônimo da Veiga Cunha, o réu. O primeiro era filho do capitão povoador de Curitiba, Balthazar Carrasco dos Reis, e o segundo, juiz ordinário da vila de Curitiba, no ano de 1737. Eram, portanto, duas figuras influentes e que ocupavam lugares de prestígio na sociedade. O autor demandou na justiça que o réu lhe pagasse a quantia referente a várias cabeças de gado que lhe pertenciam e que teriam sido mortas pelos filhos e escravos de Jerônimo da Veiga Cunha. O prejuízo, segundo Gaspar, chegava a 375 mil réis, provenientes de 150 reses que foram mortas a mando de Jerônimo. Os dois eram proprietários de fazendas de gado na região dos campos de Curitiba, com um número significativo de animais, o que reflete o início do período de desenvolvimento dessa atividade na região. São as testemunhas que fornecem informações interessantes a respeito da convivência que havia nas terras desses dois senhores. João Carvalho de Assunção disse, em seu depoimento, que “sabia que na ausência do réu seus filhos bastardos e seus negros matavam gado fronteiro ao sítio dele testemunha”.13 13 DEAP BR PR APPR PB045 PC0235.7. Causa cível de libelo entre partes em que é autor o alferes Gaspar Carrasco dos Reis e réu o sargento mor Jerônimo da Veiga Cunha. Curitiba, 1738. Roque Fernandes da Costa, outra testemunha, também afirmou ter visto os “filhos do réu e seus negros” matando gado na fazenda do autor. Jerônimo da Veiga Cunha, assim como vários outros homens da vila de Curitiba, tinha filhos bastardos, ou seja, com mulheres indígenas. Esses filhos viviam lado a lado com os negros escravizados da fazenda, cuidando do gado e, segundo o autor do processo, matando gado do vizinho. Além disso, constam nesse documento informações de casamentos mistos, entre homens brancos e administradas, e também com mulatas, todos eles testemunhas no processo judicial em questão. Era, portanto, um universo bastante complexo onde as relações interdependentes eram mantidas por pessoas de diferentes níveis sociais. Escravos africanos e afrodescendentes, bastardos, homens livres e indivíduos de origem indígena dividiam o mesmo espaço e, inevitavelmente, compartilhavam experiências, vínculos e tensões.
Outro processo bastante interessante e elucidativo no que se refere aos níveis de interação entre negros e índios na sociedade colonial é datado de 1743, mas é alusivo a um crime ocorrido no final do ano de 1741, nas estâncias do Viamão. O réu era Manoel Nunes de Brito, que estava sendo acusado da morte de quatro soldados e um índio. O libelo apresentado pela justiça diz:
Provará que sendo o réu morador na povoação do Rio Grande, nas estâncias do Viamão, vieram dar a sua casa no fim do ano de 1741 entrada de 1742, quatro soldados [...] desertados do Regimento e Estabelecimento do dito Rio Grande e um índio chamado Salvador, da administração do coronel Francisco Pinto do Rego a pedir-lhe hospedagem e com efeito lha deu com o perverso ânimo de os matar e roubar. Provará que depois de os ditos soldados e índio terem passado no sítio do Rio alguns dias e estando bem descuidados comendo em um terreiro, o réu com outros seus parceiros lhe atiraram vários tiros com que os mataram, e os enterraram no mesmo sítio aonde seus corpos foram achados ainda inteiros nas sepulturas e logo foi notório em toda aquela povoação que o réu havia feito o referido malefício. 14 14 DEAP BR PR APPR PB045 PC416.12. Traslado de uns autos crimes em que são partes a justiça autora contra Manoel Nunes de Brito que se mandam remeter com o mesmo réu preso para o Juízo da Ouvidoria de Paranaguá. Rio de Janeiro, 1743.
Foi na contrariedade do libelo apresentado pelo réu que o relacionamento entre negros e índios foi revelado. Manoel Nunes de Brito afirmou que os quatro soldados eram mulatos. A trama revelada pelo réu para tentar se livrar da culpa dos assassinatos é bastante complexa. Segundo ele, Sebastião de Brito queria casar com uma de suas filhas e por ele não consentir, tornou-se seu inimigo, sempre tentando o matar. Segundo o réu, foi a mando de Sebastião que os quatro soldados, e mais o índio Salvador, foram até seu sítio para o matar. Antes disso, o índio Diogo teria ido até a casa do réu a fim de conseguir armas, também a mando de Sebastião. Diogo, no entanto, foi pego numa emboscada preparada pelo réu, que manteve o tal índio em suas terras. Dias depois, chegaram os quatro soldados desertores acompanhados de Salvador, também indígena. O grupo ficou arranchado na casa do réu, segundo ele, planejando o seu assassinato e o rapto de sua mulher e filhas.
Ainda de acordo com a versão de Manoel Nunes de Brito, o soldado João do Prado foi morto dias depois pelos próprios companheiros, que o acusaram de ser traidor. Da mesma maneira, foi morto o índio Diogo, por seus companheiros acreditarem ter ido ele contar o plano ao réu. Salvador, o outro índio, havia sido golpeado também por seus companheiros, ficando gravemente ferido. Nesse meio tempo, chegaram também ao sítio de Manoel outros três soldados, estes brancos, e também pediram para permanecer um tempo em suas terras. Os soldados mulatos, ao encontrarem com os brancos, festejaram bastante, pois eram conhecidos. Depois de alguns dias, os soldados brancos teriam descoberto as verdadeiras intenções dos mulatos e contaram tudo ao réu, que lhes implorou ajuda para salvar a sua vida e a de sua família. Os soldados brancos prontamente atenderam ao pedido e cada um tratou de matar um dos soldados mulatos. Interessante no libelo do réu é a insistência em distinguir os soldados brancos dos mulatos, numa clara tentativa de desmerecer estes últimos e valorizar os primeiros. O processo é bastante longo e seu caminho jurídico é curioso. Depois de feita a devassa na vila de Laguna, a cargo do juiz ordinário da localidade, o auto foi remetido para a Ouvidoria Geral da Capitania do Rio de Janeiro. Depois de mais de trezentas páginas de processo judicial, o ouvidor-geral da referida Capitania não expediu sentença sobre o caso, mas apenas ordenou que os autos, juntamente com o réu, fossem remetidos à Ouvidoria da Comarca de Paranaguá, jurisdição à qual Laguna pertencia e onde o caso poderia ser melhor julgado, devido à proximidade e o melhor conhecimento dos delitos. Nada consta sobre a sentença emitida pelo ouvidor de Paranaguá.
A falta de um desfecho para a história, no entanto, não prejudica o entendimento que se pode ter das relações mantidas por afrodescendentes e indígenas na extensa Comarca de Paranaguá. Soldados mulatos, desertores, juntaram-se a dois indígenas e viveram enquanto grupo durante alguns dias no sítio de Manoel Nunes de Brito, até serem executados. Esses homens de diferentes origens, sem dúvida tinham muito em comum. Daniel Mandell chamou atenção para a convergência entre negros e índios, reunidos pelo compartilhamento de condições demográficas, econômicas, legais e sociais (MANDELL, 1988MANDELL, D. Shifting Boundaries of Race and Ethnicity: Indian-Black Intermarriage in Southern New England, 1760-1880. The Journal of American History, vol. 85, nº 2, p. 466-501, sep. 1988., p. 468). Não se pode negar que havia, de fato, muito em comum entre um e outro grupo, submetidos a ocupar o nível mais baixo da hierarquia social, ainda que houvesse distanciamentos, principalmente a partir da implementação das leis pombalinas.
Há também dois casos em que administrados serviram de testemunha de crimes cometidos por ou contra escravos ou libertos, o que também é mais uma evidência de que as experiências entre os dois grupos eram compartilhadas. O assassinato do pardo forro Pedro, cometido por Joaquim José Alvarez no ano de 1766, em Curitiba, gerou um processo judicial em que uma das depoentes foi uma bastarda chamada Romana, que disse ter sido ela quem acudiu o pardo logo após receber os ferimentos que lhe levaram à morte.15 15 DEAP BR PR APPR PB045 PC1811.56. Autos crimes de livramento entre partes em que é autora a justiça por seu promotor e réu o tenente Joaquim José Alvarez. Curitiba, 1773. Já no caso de roubo cometido pelo escravo Gonçalo, em Paranaguá, no ano de 1778, o administrado Lucas Dias Pedroso foi uma das testemunhas e informou em seu depoimento que sabia que o escravo era o autor do roubo por ter lhe contado uma das escravas de Francisco da Silva Ilhas, o acusador de Gonçalo e a vítima do roubo.16 16 DEAP BR PR APPR PB045 PC2115.68. Auto de libelo cível entre partes em que é autor Francisco da Silva Ilhas e réu Amaro Moreira da Rocha. Paranaguá, 1778. Esse processo judicial revela que, ainda em finais do século XVIII, na Comarca de Paranaguá, o trato entre indígenas ou seus descendentes com a população negra, escrava ou liberta, era possível e real. Gonçalo, um escravo de origem africana, e Lucas, um administrado, podem ter mantido uma relação pouco amigável depois do processo, já que o segundo acusou o primeiro de ter cometido um roubo. Os conflitos entre índios e negros, portanto, seriam resultantes dessa convivência bastante próxima e cotidiana. Os desentendimentos e as rixas certamente faziam parte do dia a dia e, em alguns poucos casos, chegavam até a justiça.
Desventuras e conflitos
Na Comarca de Paranaguá do século XVIII, não havia a mesma relação entre indígenas e africanos e afrodescendentes que em outras regiões da América portuguesa. Se, no Nordeste, os conflitos eram frequentes, em função do uso dos índios para combater os escravos fugidos, na região aqui analisada, os conflitos eram mais locais e específicos, muito mais resultado da convivência entre um e outro grupo, do que de uma ação mais ampla partindo da própria administração colonial. A configuração social das vilas da Capitania de São Paulo, marcada pela miscigenação e pelo compartilhamento de experiências entre pessoas que ocupavam diferentes níveis na hierarquia social, gerava conflitos e também relações amistosas entre negros e índios. A seguir serão apresentados dois casos que são resultado dessa convivência inevitável entre os dois grupos e que geraram situações de conflito, intencionais ou não. Ambos tratam de homicídios.
O primeiro deles ocorreu no ano de 1727, na vila do Rio de São Francisco, mas foi somente em 1732 que chegou à Ouvidoria Geral da Comarca de Paranaguá. A justiça foi a autora no processo e o libelo apresentado pelo promotor Manoel Gonçalves Junqueira dizia:
P.[rovará] que tendo o reverendo padre Antonio Ferreira da Cruz em seu sítio na vila do Rio de São Francisco e de portas adentro ao réu e a outro administrado por nome Antonio, o réu de seu mote próprio com ânimo danado e rixa velha em trinta e um de outubro de 1727 anos fizera uma cilada ao dito Antonio, e nela o matara com um tiro de espingarda com o qual logo sem mais demora alguma dera a alma a Deus com tal barbaridade e pouco temor a Deus que pelo dito caso deve o réu de ser punido e castigado na forma da lei por ser o caso atroz.
O réu era Ventura, mulato escravo pertencente ao padre Antonio Ferreira da Cruz. Pela acusação do promotor, entende-se que escravo e administrado tinham uma rixa antiga que motivou Ventura a atirar em Antonio com uma espingarda. No entanto, toda a argumentação do réu, através de seu procurador, se baseou na alegação de que tudo não passou de um acidente. Ventura, na época do ocorrido, tinha apenas 14 anos de idade, conforme alegou em sua contrariedade de libelo:
P.[rovará] ele réu que no tempo em que se deu o dito tiro no dito defunto, sendo ele réu de menor idade de catorze anos, estando quieto e pacífico, e como rapaz que era [?] com o sentido em folgar como são os daquela idade, o dito defunto sendo maior começou a zombar com ele réu e para lhe fazer medo pegara em uma arma de fogo com a qual havia naquele dia seu senhor o reverendo Antonio Ferreira da Cruz feito tiro a um gavião que lhe fazia dano as aves de seu terreiro, e parecendo-lhes ao dito defunto e a ele réu que estava descarregada começaram a brincar com ela fazendo seus remessos e sucedendo dar volta com a dita espingarda que já o dito defunto tinha posto [de cabo] armado disparou e feriu ao dito defunto [...].
A causa da morte do administrado, portanto, seria não uma rixa antiga ou conflito entre os dois, mas, sim, uma brincadeira, que acabou com um deles morto e o outro, preso. Ventura estava na cadeia da vila de Paranaguá, aguardando julgamento. Não é possível saber, através do documento, desde quando ele estava preso, mas é provável que logo após a morte, em outubro de 1727, ele tenha sido encarcerado na enxovia de Rio de São Francisco, para depois ser remetido a Paranaguá. Cinco anos já haviam se passado desde o ocorrido, quando, finalmente, o ouvidor-geral da Comarca iniciou a apreciação do caso. Ventura já estava com 20 anos.
As 30 testemunhas ouvidas foram unânimes em afirmar que havia sido de fato um acidente e que Ventura não tivera culpa. Francisco de Miranda Tavares, um lavrador de 56 anos, disse que
ouviu ele testemunha dizer por boca do dito defunto que estando folgando com seu parceiro Ventura lançou mão de uma arma de fogo que estava no seu rancho dizendo que o ia matar e que lhe dissera seu parceiro Ventura não brincasse com armas e que fora lançar mão dela e como o defunto tinha já o cano levantado se disparara e feriu ao defunto pela barriga dois dedos acima do umbigo [...].
Manoel Alvarez de Siqueira, também lavrador, disse que
[...] indo no sítio do padre vigário aonde estava bebendo um mate de congonha ouviu um tiro e saindo ao terreiro ouviu uns gritos em um rancho dos negros do dito padre vigário e acudindo a ele a este rapaz Antonio com a mão na barriga e cheio de sangue e perguntando o que houve lhe dissera o rapaz é uma desgraça e eu mesmo tive culpa [...].17 17 DEAP BR PR APPR PB045 PC90.3. Livramento crime de Ventura, escravo do reverendo padre Antonio Ferreira da Cruz. Paranaguá, 1732.
As palavras dos depoentes deixam transparecer a convivência que havia entre Ventura e Antonio, um escravo e outro administrado, vivendo na mesma propriedade e sob as ordens e cuidados do mesmo senhor. O “rancho dos negros” era frequentado também pelos indígenas e, desta inevitável convivência, surgiam relacionamentos, amigáveis ou não. Pelos depoimentos das testemunhas, Ventura, ainda um menino na época do ocorrido, não tinha nenhuma rixa com Antonio, o administrado, que também era bastante jovem quando faleceu, contando apenas 16 anos. O crime foi pura falta de sorte, ou ainda, uma desventura para ambos. Vários depoentes usaram as palavras “folgando com seu parceiro”, ou seja, eram vistos como companheiros e, para ir mais além, como dois indivíduos que ocupavam o mesmo lugar nessa sociedade, qual seja, o de subordinados. Uma das definições de Raphael Bluteau para a palavra “folgar” é a de cessar o trabalho ou andar ocioso e, ao citar alguns ditados portugueses com a palavra, consta o seguinte: “Cada um folga com seu igual” (BLUTEAU, 1728BLUTEAU, R. (1728). Vocabulário Portuguez & Latino, 1728, vol. 4., p. 158). Ventura, um escravo afrodescendente, folgava com Antonio, um índio administrado.
Apesar de índios e negros possuírem status diferentes na sociedade colonial, pois as implicações sociais e jurídicas de ser administrado e de ser escravo eram distintas, não há dúvida de que os dois grupos compartilharam muitas experiências. A documentação mostrou muito mais as relações harmoniosas entre negros e índios do que as hostilidades. O caso de Ventura e Antonio, apesar de violento, não foi resultado de uma rivalidade ou conflito, mas, sim, de uma “desgraça”, como o próprio administrado se referiu ao acontecido a uma das testemunhas. A relação entre os dois era a de indivíduos que partilhavam momentos juntos, no trabalho e nas horas de folga. Essa convivência de negros e índios mostra como a transição para o uso da mão de obra africana em substituição à indígena foi de fato um processo longo e gradual na Capitania de São Paulo, dando margem para que um e outro grupo se encontrassem e mantivessem relações interdependentes.
No dia 20 de julho de 1733, o ouvidor Antonio dos Santos Soares proferiu sua sentença sobre o caso. Mesmo com as 30 testemunhas da devassa afirmando que o tiro dado havia sido acidental, o ouvidor o condenou a três anos de degredo para fora da vila do Rio de São Francisco. Além do tempo que ficou preso, Ventura teria que viver três anos longe da vila onde residia na época do ocorrido e onde provavelmente tinha familiares e amigos. Não é mencionado no documento o local do degredo, e nem com quem ele ficaria durante esse período. É possível que Paranaguá tenha sido o destino do escravo, já que estava preso na cadeia desta vila.
O segundo processo judicial é datado de 1750 e, como já foi informado, relata também a história de um homicídio, apesar de indiretamente. O autor da causa foi Ignácio da Silva Moura, fazendeiro do sargento-mor, Cristovão Pinheiro, na fazenda chamada Capão dos Porcos. Moura, o autor, se queixou contra Manoel Marques, dizendo que este lhe devia 32 mil réis pelo tratamento que deu aos ferimentos de um escravo do réu, chamado Bernardo, durante 42 dias. O motivo de tais ferimentos, segundo o autor, foi que o dito escravo, vindo de uma fazenda chamada Furnas na companhia de um “carijó”, perto da fazenda do autor, “o referido carijó deu um tiro de espingarda no dito Bernardo e o feriu gravemente com uma bala e perdigotos que por morto o deixou”. Bernardo não morreu imediatamente. Sobreviveu por 42 dias na casa do autor, que continuou em seu libelo:
P.[rovará] que o autor assistiu ao doente em todo o medicamento necessário e sustento de galinhas e ovos e o mais sustento não só ao ferido se não também a uma filha dele chamada Anna que também assistia em casa dele autor que também adoeceu e foi necessário assistir-lhe com cura e sustento necessário.18 18 DEAP BR PR APPR PB045 PC732.22. Causa cível de libelo entre partes em que é autor Ignácio da Silva Moura e réu Manoel Marques. Curitiba, 1750.
Toda a discussão no processo está centrada nas despesas feitas pelo autor com o escravo Bernardo e sua filha Anna, ambos pertencentes ao réu, e na falta de pagamento dos tais gastos por parte de Manoel Marques. O documento foi encerrado com um termo de composição feito entre autor e réu, que chegaram a um acordo amigável sobre a forma que seria paga a dívida. Sobre os motivos do tiro disparado pelo “carijó” no escravo nada é dito, nem ao menos seu nome. A única informação sobre o crime é a de que Bernardo, escravo, e o indígena sem nome vinham juntos da Fazenda das Furnas e, no caminho, o crime foi cometido. É possível que se trate de mais uma desventura, como a que ocorreu com Ventura e Antonio do caso referido há pouco, e que uma falta de sorte tenha provocado o disparo e os ferimentos em Bernardo. Mas, nesse caso, não se pode deixar de considerar a hipótese de um desentendimento entre os dois e no uso deliberado da espingarda por parte do indígena contra Bernardo.
Mas, para além de saber se os homicídios foram intencionais ou acidentais, esses dois processos judiciais mostram a convivência e o compartilhamento de experiência que havia entre negros e índios na Capitania de São Paulo. Os dois documentos são datados na primeira metade do século XVIII, um em 1732 e outro em 1750, mostrando que mesmo nesse período em que a presença de escravos africanos e afrodescendentes ainda era reduzida na região, houve a possibilidade de contato e do estabelecimento de relações bastante próximas entre pessoas de um e de outro grupo. Diferentemente das hostilidades e enfrentamentos entre índios e negros apresentados por Schwartz para o nordeste da América portuguesa, na Capitania de São Paulo as relações entre eles foram muito mais próximas e pontuais.
Na Comarca de Paranaguá do século XVIII, não há evidências de que houvesse interesse por parte da Coroa portuguesa e nem dos próprios colonos em opor índios e negros. A documentação aqui analisada mostrou que essa era uma população bastante miscigenada e pouco abastada, que, durante a primeira metade do século XVIII, se fazia valer dos indígenas apresados no sertão e de seus descendentes, muitos dos quais bastardos, e de alguns poucos escravos de origem africana, cujo número aumentou conforme o século XVIII avançava. Para uma população pobre e que dependia de braços administrados e escravos para o trabalho, certamente não valeria a pena colocar uns contra os outros, mas, sim, somar o trabalho de ambos. Para um proprietário, sem dúvida, era vantajoso manter em suas terras o máximo de pessoas subordinadas que conseguisse, fossem elas escravas, libertas, administradas ou livres pobres.
Parcerias e uniões
Por meio dos processos judiciais, foi possível identificar alguns casos que trazem evidências do envolvimento entre homens negros e mulheres indígenas e vice-versa, não necessariamente de cunho amoroso. A situação mais antiga data do ano de 1747, e aconteceu na vila de Curitiba. Maria Bueno da Rocha, esposa de João Carvalho de Assunção, foi até a justiça para justificar que Antonio, um mulato forro, havia levado em sua companhia uma administrada de sua casa. Em sua petição consta o seguinte:
[...] que tendo ela suplicante uma rapariga administrada por nome Pellonia, e ficando esta em casa da suplicante quando veio a esta vila, agora de presente tem a suplicante notícia certa que na sua ausência foi Antonio mulato forro tirar a dita rapariga, e a levou consigo para Tinguiquera, e quer a suplicante que os oficiais deste juízo vão na dita paragem a trazer a dita rapariga para o poder da suplicante [...].
Maria diz que seu marido não estava em casa, e que quando ela foi de seu sítio para a vila de Curitiba por ocasião da festa de Páscoa, Antonio levou Pellonia de sua casa. O escrivão da vila foi até a paragem chamada Tinguiquera atrás da administrada, mas encontrou apenas Antonio, o mulato, que foi levado preso para a cadeia de Curitiba. Depois de feita a prisão, Maria Bueno da Rocha apresentou nova petição na qual alegou que Pellonia não foi encontrada por ter sido escondida por Antonio e solicitou que o mesmo fosse remetido em prisão para a Ilha de Santa Catarina para trabalhar nas obras de sua Majestade. Para tanto, a justificante apresentou três testemunhas que afirmaram ter sido Antonio o autor do furto da administrada. No dia oito de abril de 1747, apenas três dias após Antonio ter sido preso, Francisco de Siqueira Cortes, juiz ordinário, proferiu sua sentença:
[...] Maria Bueno da Rocha mulher casada com João Carvalho de Assunção que estando pacífica e sossegadamente em sua casa em ausência do dito seu marido e tendo vários administrados alimentando-os com toda a indução que por Lei é admitido e na ocasião que veio a esta vila em ausência do dito seu marido assistir ao culto divino e deixando entre os mais administrados uma rapariga por nome Pellonia no seu sítio fora um mulato forro chamado Antonio e tirou de sua casa a dita rapariga e a levou para donde lhe pareceu [...] julgo que o mulato Antonio como agressor seja logo debaixo de prisão remetido a vila e praça da Ilha de Santa Catarina a trabalhar nas obras de sua Majestade que Deus Guarde por evitar semelhantes absurdos que comumente resulta de semelhantes sujeitos [...].19 19 DEAP BR PR APPR PB045 PC593.17. Autuação de justificação em que é justificante Maria Bueno da Rocha, por cabeça de seu marido João Carvalho de Assunção. Curitiba, 1747.
Em três dias e com o depoimento de apenas três testemunhas, o juiz ordinário condenou Antonio a seguir para a Ilha de Santa Catarina, onde trabalharia nas obras das fortificações que lá estavam sendo construídas. Interessante notar a preocupação do juiz ordinário em frisar que os administrados que a autora possuía eram tratados como a Lei permitia e em nenhum momento Maria Bueno da Rocha foi chamada de “senhora” de Pellonia, mas, sim, de “administradora”. No ano de 1747, portanto, as autoridades defendiam e justificavam a administração dos índios, também pelo fato de muitos deles serem administradores, mas com o cuidado de diferenciá-los dos escravos. Ao fim da sentença, Francisco de Siqueira Cortes reforçou o estigma que havia sobre os mulatos forros dizendo que o condenava para “evitar semelhantes absurdos que comumente resulta de semelhantes sujeitos”. Ou seja, os mulatos seriam inclinados a cometer crimes.
No entanto, em março de 1748, um ano após o julgamento, o processo judicial foi visto em correição pelo ouvidor-geral da Comarca de Paranaguá, Manoel Tavares de Siqueira, que mandou prender Francisco de Siqueira Cortes e o condenou a pagar 10 mil réis de multa pela desordem com que procedeu no processo. Não constam os detalhes do motivo de tal atitude do ouvidor, mas é muito provável que, em um caso como esse, apenas o depoimento de três testemunhas, sendo uma delas o escrivão que fez a prisão do mulato Antonio, não fosse suficiente para a condenação. O fato é que Antonio foi para a Ilha de Santa Catarina, pois consta inclusive o recibo de sua entrega. Pelo menos durante um ano, o mulato deve ter prestado serviços para cumprir sua pena. Após a interferência do ouvidor, não consta nenhuma informação sobre o que aconteceu a Antonio.
Em nenhum momento do processo judicial há menção a algum envolvimento amoroso entre Antonio e Pellonia, mas certamente havia algum tipo de relacionamento de muita confiança entre os dois e até entre seus parentes. Uma das testemunhas, Pedro Rodrigues Pinto, afirmou que ouviu do próprio mulato Antonio que fora ele quem furtara a administrada Pellonia, mas que fez por “mandado e conluio do pai da dita administrada por nome Salvador”. Se o depoimento da testemunha for verdadeiro, não havia somente um relacionamento entre Pellonia e Antonio, mas também com o pai dela, que junto com o mulato forro planejou o furto. Fica evidente, portanto, que índios e negros, indivíduos vivendo sob pesadas coerções sociais, estabeleciam redes de ajuda mútua nessa sociedade colonial fortemente miscigenada e que contava, em sua população, com pessoas dos mais variados status, eles mesmos em constante transformação.
No ano de 1762, na vila de Curitiba, o bastardo Gabriel, portanto de origem indígena, também foi acusado de furtar uma escrava de João Gonçalves Teixeira, chamada Joana. O processo é curto e não constam muitas informações sobre as motivações de Gabriel. O autor afirma que Joana estava há um mês e meio em companhia do bastardo, que era “natural das partes de São Paulo”, pelo que temia que ambos fugissem. Antes disso, porém, Gabriel foi preso na cadeia de Curitiba. O bastardo solicitou que fosse solto com a promessa de que nunca mais voltaria para a vila e, caso voltasse, poderia ser preso novamente. O autor aceitou a proposta e Gabriel foi solto, pagando as custas e se comprometendo a nunca mais voltar para Curitiba ou para o termo de São José. Nada mais foi dito sobre a escrava Joana, que provavelmente retornou para a casa de seu antigo senhor.20 20 DEAP BR PR APPR PB045 PC1356.41. Causa de requerimento cível e crime entre partes em que é autor João Gonçalves Teixeira e réu Gabriel Antonio de Carvalho. Curitiba, 1762.
Da mesma maneira que Pellonia e Antonio, não há menção a algum envolvimento amoroso entre Gabriel e Joana, mas também é certo que havia algum tipo de relacionamento entre os dois ou, no mínimo, entre o senhor de Joana e o bastardo Gabriel. No termo assinado por autor e réu para que este último fosse embora da vila, consta a informação de que João Gonçalves Teixeira devia para Gabriel, que descontaria da dívida os dias que usou do serviço de Joana. É possível, portanto, que o bastardo tenha furtado a negra Joana para satisfazer o que o autor lhe devia, mas, por outro lado, pode ser que Gonçalves Teixeira tenha aproveitado o ocorrido para se livrar de parte da dívida que tinha com Gabriel. Conjeturas à parte, o que esses dois processos judiciais mostram é que índios e negros, independentemente de seus status, mantinham relacionamentos interdependentes entre si nas vilas da Comarca de Paranaguá. O convívio inevitável e as experiências compartilhadas por ambos geravam uma rede de relacionamentos dos mais variados tipos, que poderia beneficiá-los ou não.
Entre os processos judiciais há apenas um caso em que uma união mista é claramente explicitada. Trata-se do caso de Francisca Rodrigues da Cunha, uma mulher indígena acusada de feitiçaria no ano de 1775. Francisca e sua filha Luiza Rodrigues da Cunha foram presas na vila de Curitiba e, no auto de prisão, hábito e tonsura das duas consta o seguinte:
[...] se fez exame em suas pessoas e se achou ser a mãe de mediana estatura, nação carijó, cabelo corredio e comprido que mostra ter de idade sessenta anos pouco mais ou menos, tinha vestida uma saia de algodão e coberta com uma baeta azul, descalça de pé e perna; a filha de estatura ordinária, de cor mais trigueira que da mãe por ser filha desta com um negro, cabelo comprido, mostra ter de idade vinte e três anos pouco mais ou menos, tinha vestida uma saia de baeta verde e coberta com uma baeta azul, descalça de pé e perna [...] (grifo meu).
Já no auto de prisão há a informação de que Luiza, a filha, tinha um pai negro. Francisca já estava com 60 anos e sua filha com 23, indicando que o envolvimento da indígena com o negro era antigo. O auto de prisão segue:
[...] e pela mãe me foi respondido que foram presas pelos oficiais deste juízo na tarde do dia sábado quatro do corrente, que se chamava Francisca Rodrigues da Cunha, natural desta vila, que é casada com João de Araújo, escravo do hospício desta dita vila, moradora no rocio da mesma e que vive dos alimentos que lhe dá o dito seu marido (grifo meu).21 21 DEAP BR PR APPR PB045 PC1947.61. Auto de prisão, hábito e tonsura feito a Francisca Rodrigues da Cunha e a sua filha Luiza Rodrigues da Cunha, 1775.
Francisca estava casada com o negro João de Araújo, um escravo do hospício da vila de Curitiba, que era quem sustentava mãe e filha, provavelmente com seu trabalho nos feriados, domingos e dias santos. No libelo apresentado pelas rés, Francisca informa que “há mais de 30 anos é casada com o preto João escravo dos religiosos do Hospício desta vila vivendo com o dito seu marido como Deus manda procedendo bem e servindo aos ditos religiosos com o seu préstimo”. Sendo assim, Francisca e João se casaram ainda na década de 1740, permanecendo juntos ainda no ano de 1775. Mãe e filha foram absolvidas por falta de provas de que realmente eram feiticeiras.
As interações se davam em todos os níveis da sociedade colonial nas vilas da Comarca de Paranaguá, permitindo que um escravo negro se casasse com uma indígena. As fronteiras sociais eram bastante fluidas e móveis e a própria composição social permitia uma maior proximidade entre pessoas que ocupavam diferentes níveis hierárquicos. Nos processos judiciais, em razão de sua natureza, foi possível verificar apenas uma união mista entre negros e índios e de forma indireta. Mas em outros tipos de documentos, como os autos de casamentos, é viável identificar outras uniões entre negros e índios. A Mitra Arquidiocesana de São Paulo possui em seu acervo processos de dispensas matrimoniais e de autos de casamentos, muitos dos quais dizem respeito às vilas da Comarca de Paranaguá. Uma breve e parcial consulta de cópias microfilmadas desses documentos, mostrou que os casamentos mistos entre indígenas e negros não eram raros. Entre os anos de 1770 e 1777, foram encontrados sete autos de casamentos mistos, evidenciando que, mesmo na segunda metade do século XVIII, quando o status dos indígenas já sofria modificações em função das leis pombalinas de incorporação e de igualação destes aos brancos, ainda aconteciam interações e uniões entre eles e os africanos e afrodescendentes.22 22 Autos de casamentos, 1770-1777. Rolos de microfilme 11, 12, 13 e 14, pertencentes ao acervo do CEDOPE (Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses) - UFPR. Originais no Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva da Mitra Arquidiocesana de São Paulo.
Um desses autos de casamento chamou a atenção. No ano de 1770, em Curitiba, Calisto, administrado de Antonia da Cruz França, solicitou autorização para se casar com Maria, escrava da mesma senhora.23 23 Auto de casamento entre Calisto, administrado e Maria, escrava. Curitiba, 1770. Rolo de microfilme 11, pertencente ao acervo do CEDOPE-UFPR. Originais no Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva da Mitra Arquidiocesana de São Paulo. Antonia da Cruz França era uma senhora abastada que possuía, no momento de sua morte, 158 escravos africanos e afrodescendentes.24 24 DEAP BR PR APPR PB045 PC1654.50. Traslado de autos de inventário de Antonina da Cruz França. Curitiba, 1770. O auto de casamento entre um administrado e uma escrava de sua propriedade deixa transparecer que, ao lado dessas 158 pessoas escravizadas, viviam também pessoas de origem indígena, que partilharam experiências e mantiveram relações de conflito e também amigáveis, além de eventuais envolvimentos matrimoniais, como aconteceu com Calisto e Maria.
Os casamentos mistos na Capitania de São Paulo já foram objeto de estudo de alguns historiadores e historiadoras. Eliana Goldschmidt se dedicou especificamente ao estudo dos casamentos mistos nessa Capitania, entre os anos de 1728 e 1822, fazendo uso justamente dos autos de dispensas matrimoniais e casamentos do Arquivo da Mitra Arquidiocesana, centrando sua análise na cidade de São Paulo. Sobre esses autos, a autora informa que pertenciam à justiça eclesiástica e antecediam o casamento, trazendo depoimentos de testemunhas e informações sobre o casal (GOLDSCHMIDT, 2004GOLDSCHMIDT, E. M. Casamentos mistos: liberdade e escravidão em São Paulo colonial. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2004., p. 14). Essas pesquisas, portanto, vêm para reforçar a inegável convivência que existiu entre índios e negros na Capitania de São Paulo durante o século XVIII, quando o processo de transição do uso da mão de obra indígena para a escrava africana estava se consolidando.
Os casamentos mistos entre negros e índios também foram observados na América inglesa. Daniel Mandell estudou esse tipo de união em New England e constatou que não foram raros os casos de casamentos inter-raciais. Essas uniões, além das motivações sentimentais, eram carregadas de significados para um e outro lado e de vantagens mútuas. Casar-se com alguém de outro grupo significava adquirir novas habilidades, conexões políticas e sociais e outras formas de poder dentro da comunidade. Os homens africanos ou afrodescendentes escravos que casassem com mulheres indígenas, tinham o benefício, por exemplo, de ter filhos nascidos livres (MANDELL, 1988MANDELL, D. Shifting Boundaries of Race and Ethnicity: Indian-Black Intermarriage in Southern New England, 1760-1880. The Journal of American History, vol. 85, nº 2, p. 466-501, sep. 1988., p. 469-470). Este foi o caso de Francisca Rodrigues da Cunha, indígena citada há pouco, casada com um escravo chamado João há mais de trinta anos. A filha dos dois, Luiza, nasceu livre e vivia ao lado da mãe. Por outro lado, os casamentos mistos também podem ter interessado aos senhores, que ao casar seus escravos com mulheres indígenas poderiam contar também com a mão de obra de uma agregada, esposa do escravo, que, mesmo sendo livre, viveria ao lado do marido cativo. Sobre o caso de Francisca e João não foi possível saber se a mulher e sua filha viviam ao lado do marido ou em local separado, mas, para a cidade de São Paulo, Nizza da Silva encontrou exemplos de senhores que perderam suas administradas que se casaram com pessoas escravizadas de origem africana (SILVA, 1998SILVA, M. B. História da família no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998., p. 116-117).
Considerações finais
Os casos relatados neste artigo mostraram que a convivência entre negros e indígenas nas vilas da Comarca de Paranaguá durante o século XVIII eram mais frequentes nessa sociedade que nas demais figurações sociais formadas na América portuguesa no mesmo período. Partilhavam espaços de sociabilidade, como o trabalho, os momentos de folga e até a família. Mantinham, portanto, relacionamentos sociais interdependentes uns dos outros, formando uma complexa rede de relações que poderia ser de amizade ou de desavença. A convivência nas ruas, nos campos, nas áreas de trabalho e nas casas, resultava em conflitos e alianças.
A presença significativa de indígenas ainda no século XVIII, e o crescente número de africanos e afrodescendentes especialmente na segunda metade desse século, possibilitado pela articulação da região ao restante da colônia, permitiu que indígenas e seus descendentes mantivessem relações de todo o tipo com os africanos e seus descendentes. Um retrato dessas relações é a forte presença da miscigenação nessa sociedade, que contava com mestiços filhos não apenas de índios com brancos e de negros com brancos, mas também de índios com negros, o que deixava essa sociedade ainda mais complexa.
Índios e negros, portanto, viviam muito próximos uns dos outros, dividiam espaços sociais e infalivelmente estabeleciam relações. Algumas delas chegaram até a documentação judicial, ainda que de maneira indireta, sendo possível perceber as nuances dessas interações. Os mundos de um e de outro eram tão próximos que, muitas vezes, se confundiam, ao mesmo tempo em que havia um esforço por parte dos indígenas, em determinadas situações, de se afastar do estigma sofrido pelos negros. As crescentes proibições da Coroa portuguesa da escravização dos indígenas e, mais tarde, a política implementada por Sebastião José de Carvalho e Melo, fizeram com que os indígenas recorressem à justiça para provar que eram descendentes de “gentios da terra”, afastando-se do status social de escravos, ocupado, então, pelos africanos e afrodescendentes.
Se, por um lado, as diferenciações jurídicas e sociais entre um e outro grupo existiram e foram significativas, por outro, indígenas e negros compartilharam experiências de vida e mantiveram relações interdependentes entre si. Não era incomum, na Comarca de Paranaguá do século XVIII, que suas histórias fossem conectadas. Essas conexões eram forjadas no convívio e no compartilhamento de suas realidades, formando uma complexa rede de relações, conforme a discussão feita ao longo deste artigo pretendeu demonstrar.
Referências
- BLUTEAU, R. (1728). Vocabulário Portuguez & Latino, 1728, vol. 4.
- BORGES, J. N. Das justiças e dos litígios. A ação judiciária da câmara de Curitiba no século XVIII (1731-1752). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2009.
- BUENO, B. P. Dilatação dos confins: caminhos, vilas e cidades na formação da Capitania de São Paulo (1532-1822). Anais do Museu Paulista, v. 17, n.2, p.251-294. Jul-dez, 2009.
- CARROL, P. Black Native Relations and the Historical Record in Colonial Mexico. In: RESTALL, M. Beyond Black and Red. African-native relations in Colonial Latin America (p. 245-267). Albuquerque: University of New Mexico Press, 2005, p. 235-267.
- DOCUMENTOS interessantes para a história e os costumes de São Paulo (vol. III). Typografia Cardozo Filho & Cia: São Paulo, 1913, p. 85-92
- ELIAS, N. Os estabelecidos e os outsiders Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000.
- FLORENTINO, M.; RIBEIRO, A. V.; SILVA, D. D. Aspectos comparativos do tráfico de africanos para o Brasil (séculos XVIII e XIX). Afro-Ásia, 31 (2004), 83-126.
- FRAGOSO, J. Homens de Grossa Aventura. Acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro, 1790-1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
- GOLDSCHMIDT, E. M. Casamentos mistos: liberdade e escravidão em São Paulo colonial. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2004.
- KOPYTOFF, Igor. Slavery. Annual Review of Anthropology, vol.11, 1982, p. 207-230.
- LIMA, P. De libertos a habilitados. Interpretações populares dos alvarás anti-escravistas na América portuguesa (1761-1810) Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2011.
- LUNA, F. V., & KLEIN, H. S. Evolução da Sociedade e Economia Escravista de São Paulo, de 1750 a 1850 São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2005.
- MACHADO, Cacilda. A trama das vontades, negros, pardos e brancos na produção da hierarquia social do Brasil escravista Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.
- MANDELL, D. Shifting Boundaries of Race and Ethnicity: Indian-Black Intermarriage in Southern New England, 1760-1880. The Journal of American History, vol. 85, nº 2, p. 466-501, sep. 1988.
- MONTEIRO, J. M. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
- PÁGINAS escolhidas: história Curitiba: Assembleia Legislativa do Paraná, 2003.
- PEGORARO, J. W. Ouvidores régios e centralização jurídico-administrativa na América portuguesa: a Comarca de Paranaguá (1723-1812) Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2007.
- PORTELA, B. M. Gentio da terra, gentio da Guiné: a transição da mão de obra escrava e administrada indígena para a escravidão africana. (Capitania de São Paulo, 1697-1780) Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2014.
- RAMINELLI, R. Privilegios y malogros de la familia Camarão. Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Colóquios, 17 Março 2008. Disponível em: http://nuevomundo.revues.org/27802. DOI: 10.4000/nuevomundo.27802
» http://nuevomundo.revues.org/27802. DOI: 10.4000/nuevomundo.27802 - RESTALL, M. Beyond Black and Red. African-native relations in Colonial Latin America Albuquerque: University of New Mexico Press , 2005.
- SAMPAIO, P. M. M. Espelhos partidos: etnia, legislação e desigualdade na colônia. Manaus: Editora da Universidade Federal do Amazonas, 2011.
- SCHWARTZ, S. Segredos Internos. Engenhos e escravos na sociedade colonial 1550-1835. São Paulo: Companhia das Letras , 1988.
- SCHWARTZ, S. Tapanhuns, negros da terra e curibocas: causas comuns e confrontos entre negros e indígenas. Áfro-Ásia, 29/30, 2003, p. 13-40.
- SCHWARTZ, S. Escravos, roceiros e rebeldes Bauru: EDUSC, 2001.
- SILVA, A. D. Collecção da Legislação Portugueza. Legislação de 1750 a 1762 Lisboa: Typografia Maigrense, 1830.
- SILVA, M. B. História da família no Brasil Colonial Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
- WESTPHALEN, C. M. Dicionário histórico-biográfico do Paraná Curitiba: Chain e Banco do Estado do PR, 1991.
- WESTPHALEN, C. M. Afinal, existiu ou não regime escravo no Paraná? Revista da SBPH, nº 13: 25-63, 1997.
Notas
-
1
A Capitania de São Paulo só passou a ter esse nome no ano de 1765. Seu território, no início do século XVIII, era dividido entre as Capitanias de São Vicente e Santo Amaro. No ano de 1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que abrangia, além de São Paulo, parte dos atuais territórios de Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Goiás e Rio Grande do Sul. Até o ano de 1748, parte desses territórios se desmembraram e, nesse mesmo ano, a Capitania de São Paulo foi extinta, ficando apenas como Comarca subordinada ao Rio de Janeiro, para então, em 1765, ser restaurada como Capitania de São Paulo (BUENO, 2009BUENO, B. P. Dilatação dos confins: caminhos, vilas e cidades na formação da Capitania de São Paulo (1532-1822). Anais do Museu Paulista, v. 17, n.2, p.251-294. Jul-dez, 2009.).
-
2
O recorte de 21 processos judiciais foi feito a partir de um conjunto maior de 366 documentos levantados para a elaboração da tese de doutorado da autora (PORTELA, 2014PORTELA, B. M. Gentio da terra, gentio da Guiné: a transição da mão de obra escrava e administrada indígena para a escravidão africana. (Capitania de São Paulo, 1697-1780). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal do Paraná, 2014.), que analisou um total de 2.265 processos tramitados na Comarca de Paranaguá, datados entre 1697 e 1780. Foram selecionados os 366 documentos que faziam alguma referência a indígenas, africanos ou afrodescendentes, que representam 16,16% do conjunto total de processos para o período, sendo 13,11% referentes a africanos e afrodescendentes, 2,5% a indígenas e 1% envolvendo ambos os grupos.
-
3
Kopytoff sugere que se pense a escravização dos africanos, a sua entrada no Novo Mundo, a sua vida em cativeiro e a alforria como partes de um mesmo processo, dentro do qual os status dessas pessoas se modificavam. Exemplificando: uma pessoa capturada na África e trazida para a América portuguesa como escrava, chegava como estrangeira, mas logo alterava seu status por se integrar à nova realidade a qual foi submetida. A escravidão poderia durar por gerações ou esse mesmo africano transformar novamente seu status para liberto. O mesmo pode ser pensado para os índios. Aqueles apresados no sertão chegavam às vilas dos colonos como “estrangeiros”. Logo se adaptavam, muitas vezes formando família, para depois tentar obter sua liberdade. É neste sentido que se usa aqui o conceito de “processo de mudança de status”.
-
4
Departamento Estadual de Arquivo Público do Paraná (doravante DEAP) BR PR APPR PB045 PC94.3. Petição em que é suplicante Anna Gonçalves e suplicado José, seu administrado. Curitiba, 1733.
-
5
DEAP BR PR APPR PB045 PC246.7. Autuação de um mandado vindo do juízo da Ouvidoria Geral da Comarca a requerimento de Manoel da Rocha contra Pantaleão Rodrigues. Curitiba, 1738.
-
6
DEAP BR PR APPR PB045 PC497.14. Autuação de petição de justificação em que é justificante Joaquim Monteiro da Conceição. Curitiba, 1744.
-
7
DEAP BR PRAPPR PB045 PC1217.37. Autos cíveis de justificação que faz o tenente coronel Braz Domingues Vellozo a respeito de um mulato chamado Antonio. Curitiba, 1759.
-
8
DEAP BR PR APPR PB045 PC1730.52. Traslado do segundo apenso da causa que correu entre partes Aleixo dos Reis Pinto e o Doutor Matheus da Costa Rosa. Paranaguá, 1771.
-
9
DEAP BR PRAPPR PB045 PC2099.67. Autos cíveis de justificação em que são partes Ana Maria do Rosário, justificante, e Ana Pereira, justificada. Paranaguá, 1778.
-
10
DEAP BR PR APPR PB045 PC2129.69. Autos cíveis de justificação em que é justificante Elena Micahela de Souza e justificado Ignácio da Costa. Paranaguá, 1778.
-
11
DEAP BR PR APPR PB045 PC0002.1. Autos de inventário de João Leme da Silva. Curitiba, 1698.
-
12
DEAP BR PRAPPR PB 045 PC08.1. Auto de inventário dos bens que ficaram por morte de Izabel do Prado. Curitiba, 1715; DEAP BR PRAPPR PB 045 PC10.1. Auto de inventário dos bens que ficaram por morte de José da Costa Vasconcellos. Curitiba, 1720; DEAP BR PR APPR PB045 PC0105.3. Auto de inventário dos bens que ficaram por morte de Balthazar Carrasco dos Reis. Curitiba, 1733.
-
13
DEAP BR PR APPR PB045 PC0235.7. Causa cível de libelo entre partes em que é autor o alferes Gaspar Carrasco dos Reis e réu o sargento mor Jerônimo da Veiga Cunha. Curitiba, 1738.
-
14
DEAP BR PR APPR PB045 PC416.12. Traslado de uns autos crimes em que são partes a justiça autora contra Manoel Nunes de Brito que se mandam remeter com o mesmo réu preso para o Juízo da Ouvidoria de Paranaguá. Rio de Janeiro, 1743.
-
15
DEAP BR PR APPR PB045 PC1811.56. Autos crimes de livramento entre partes em que é autora a justiça por seu promotor e réu o tenente Joaquim José Alvarez. Curitiba, 1773.
-
16
DEAP BR PR APPR PB045 PC2115.68. Auto de libelo cível entre partes em que é autor Francisco da Silva Ilhas e réu Amaro Moreira da Rocha. Paranaguá, 1778.
-
17
DEAP BR PR APPR PB045 PC90.3. Livramento crime de Ventura, escravo do reverendo padre Antonio Ferreira da Cruz. Paranaguá, 1732.
-
18
DEAP BR PR APPR PB045 PC732.22. Causa cível de libelo entre partes em que é autor Ignácio da Silva Moura e réu Manoel Marques. Curitiba, 1750.
-
19
DEAP BR PR APPR PB045 PC593.17. Autuação de justificação em que é justificante Maria Bueno da Rocha, por cabeça de seu marido João Carvalho de Assunção. Curitiba, 1747.
-
20
DEAP BR PR APPR PB045 PC1356.41. Causa de requerimento cível e crime entre partes em que é autor João Gonçalves Teixeira e réu Gabriel Antonio de Carvalho. Curitiba, 1762.
-
21
DEAP BR PR APPR PB045 PC1947.61. Auto de prisão, hábito e tonsura feito a Francisca Rodrigues da Cunha e a sua filha Luiza Rodrigues da Cunha, 1775.
-
22
Autos de casamentos, 1770-1777. Rolos de microfilme 11, 12, 13 e 14, pertencentes ao acervo do CEDOPE (Centro de Documentação e Pesquisa de História dos Domínios Portugueses) - UFPR. Originais no Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva da Mitra Arquidiocesana de São Paulo.
-
23
Auto de casamento entre Calisto, administrado e Maria, escrava. Curitiba, 1770. Rolo de microfilme 11, pertencente ao acervo do CEDOPE-UFPR. Originais no Arquivo Metropolitano Dom Duarte Leopoldo e Silva da Mitra Arquidiocesana de São Paulo.
-
24
DEAP BR PR APPR PB045 PC1654.50. Traslado de autos de inventário de Antonina da Cruz França. Curitiba, 1770.
-
Organizadoras:
Juciene Ricarte Apolinário e Maria Adelina Amorim
Editado por
Editores:
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
12 Nov 2021 -
Data do Fascículo
2021
Histórico
-
Recebido
26 Out 2020 -
Aceito
05 Jul 2021