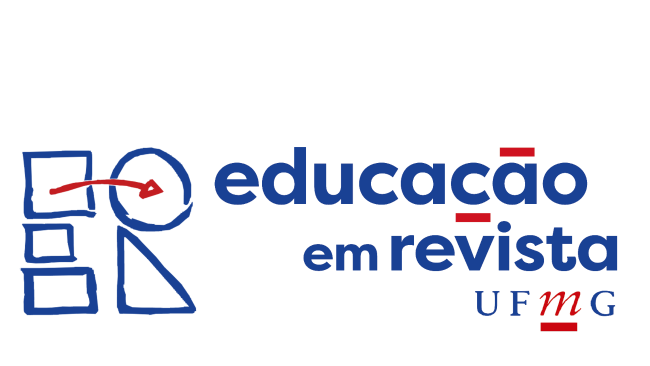Resumos
A expressão "fazer de sua vida uma obra" tornou-se um slogan que necessita ser questionado. Com efeito, se lembrarmos a distinção aristotélica entre ação e produção, práxis e poiese, não se trataria de uma confusão de categorias? Podemos conceber a vida como um modo de produção? Se for de fato uma produção artística, o que significa então pensar a vida sob uma modalidade estética? Não seríamos levados a explicitar as tensões que não deixam de se manifestar entre estética, ética e moral? Enfim, "fazer uma obra de sua vida" supõe antes de tudo desdobrá-la sob a forma de narrativa para poder avaliar o que nos conduz a explorar - na direção de Paul Ricoeur (1984; 1985) - os dilemas da escrita de si.
Narrativa de Vida; Romance de Formação; Formação; Moral; Estética; Ética
The phrase "to make of one's life a work of art" has become a slogan. It is time to put it into question. If one goes back to Aristotle's distinction between action and production, praxis and poiesis, then this phrase will sound like a category mix up. Can we think of life in terms of production? And if the production implied is the artistic one, what does it mean to think of life from an aesthetic point of view? Isn't one led to examine the tensions arising between aesthetics ethics and moral? Finally, "to make of one's life a work of art" entails that life should be first made the object of a narrative form in order to be evaluated: this is the reason why we are led - following here Paul Ricoeur (1984-1985)- to examine the dilemmas raised by the writing of the self.
Life Narrative; Bildungroman; Formation; Moral; Aesthetic; Ethics
L'expression «faire de sa vie une œuvre» est devenue un slogan qu'il faut interroger. En effet, si l'on se souvient de la distinction aristotélicienne entre action et production, praxis et poiesis, ne s'agit-il pas d'une confusion de catégories ? Peut-on concevoir la vie sur le mode de la production ? S'il s'agit bien d'une production artistique, que signifie ici penser la vie sous une modalité esthétique ? N'est-on pas emmené à expliciter les tensions qui ne manquent pas de se manifester entre esthétique, éthique et morale ? Enfin, « faire oeuvre de sa vie » suppose d'abord de la déployer sous forme de récit pour pouvoir l'évaluer ce qui nous conduit à explorer - à la suite de Paul Ricoeur (1984, 1985) - les dilemmes de l'écriture de soi.
Récit de Vie; Roman de Formation; Formation; Morale; Esthétique; Ethique
DOSSIÊ
(AUTO)BIOGRAFIA E EDUCAÇÃO: PESQUISA E PRÁTICAS DE FORMAÇÃO
"Fazer de sua vida uma obra"1 1 Tradução feita por Eric Maheu, tradutor e mestre em Antropologia pela Universite Laval/Canadá, Professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Revisão Científica feita por Maria da Conceição Passeggi, pós-doutora pela Universidade de Nantis/França e professora Titular do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O texto foi publicado na Revista L'orientation scolaire et professionnelle [En ligne], Travail biographique, construction de soi et formation, v. 33, n. 4, p. 535-549, L'Inetop/CNAM, Paris, 2004.
"Faire de sa vie une uvre"
"To make of one's life a work of art"
Michel Fabre
Doutor em Ciências da Educação e Pesquisador do Centre de Recherche em Éducation de Nantes (CREN); Professor Titular da Universidade de Nantes (França). E-mail: michel.fabre@univ-nantes.fr
Contato
RESUMO
A expressão "fazer de sua vida uma obra" tornou-se um slogan que necessita ser questionado. Com efeito, se lembrarmos a distinção aristotélica entre ação e produção, práxis e poiese, não se trataria de uma confusão de categorias? Podemos conceber a vida como um modo de produção? Se for de fato uma produção artística, o que significa então pensar a vida sob uma modalidade estética? Não seríamos levados a explicitar as tensões que não deixam de se manifestar entre estética, ética e moral? Enfim, "fazer uma obra de sua vida" supõe antes de tudo desdobrá-la sob a forma de narrativa para poder avaliar o que nos conduz a explorar na direção de Paul Ricoeur (1984; 1985) os dilemas da escrita de si.
Palavras-chave: Narrativa de Vida; Romance de Formação; Formação; Moral; Estética; Ética.
RÉSUMÉ
L'expression «faire de sa vie une uvre» est devenue un slogan qu'il faut interroger. En effet, si l'on se souvient de la distinction aristotélicienne entre action et production, praxis et poiesis, ne s'agit-il pas d'une confusion de catégories ? Peut-on concevoir la vie sur le mode de la production ? S'il s'agit bien d'une production artistique, que signifie ici penser la vie sous une modalité esthétique ? N'est-on pas emmené à expliciter les tensions qui ne manquent pas de se manifester entre esthétique, éthique et morale ? Enfin, « faire oeuvre de sa vie » suppose d'abord de la déployer sous forme de récit pour pouvoir l'évaluer ce qui nous conduit à explorer à la suite de Paul Ricoeur (1984, 1985) les dilemmes de l'écriture de soi.
Mots cles: Récit de Vie; Roman de Formation; Formation; Morale; Esthétique; Ethique.
ABSTRACT
The phrase "to make of one's life a work of art" has become a slogan. It is time to put it into question. If one goes back to Aristotle's distinction between action and production, praxis and poiesis, then this phrase will sound like a category mix up. Can we think of life in terms of production? And if the production implied is the artistic one, what does it mean to think of life from an aesthetic point of view? Isn't one led to examine the tensions arising between aesthetics ethics and moral? Finally, "to make of one's life a work of art" entails that life should be first made the object of a narrative form in order to be evaluated: this is the reason why we are led - following here Paul Ricoeur (1984-1985)- to examine the dilemmas raised by the writing of the self.
Keywords: Life Narrative; Bildungroman; Formation; Moral; Aesthetic; Ethics.
A expressão "fazer de sua vida uma obra" vem de longe. Os estoicos já concebiam a vida como um teatro no qual o ator era apenas parcialmente dono do seu papel. Mais tarde, absorvendo a lição do humanismo greco-latino, o filósofo Plotin proclamará: "É necessário esculpir sua própria estátua". O romance de formação, sobretudo a partir de Wilhelm Meister, de Goethe, retoma a ideia e a formulará. A Bildung designa o trabalho sobre si, uma cultura de si que podemos assimilar a uma "escultura de si" (ONFRAY, 1993). A ideia de Bildung provém da mística medieval na qual o homem é feito à imagem de Deus. Na modernidade, trata-se de dar a si mesmo sua própria forma. Atualmente, em nossa sociedade secularizada, essa expressão, liberada de suas conotações religiosas ou metafísicas, e do ideal iluminista, que animava o romantismo alemão, tornou-se um slogan que precisamos questionar. O que significa o fato de pensar sua vida como uma obra?
Em sua autobiografia intelectual, Paul Ricoeur (1995) evoca um período doloroso de sua vida em que perdeu seu filho Olivier e seu amigo Mircea Eliade. Assistindo ao funeral de Eliade, o filósofo refletiu sobre o contraste entre a vida do grande historiador das religiões e a vida de seu filho. A primeira marcada com a chancela da realização, a outra, a de seu filho, terminava, ao contrário, com a marca do fracasso, da incompletude e, finalmente, do suicídio. Podemos dizer que Olivier fez de sua vida uma obra? "Aquela morte observa Ricoeur que deixava atrás de si uma obra tornava mais cruel essa outra que não parecia deixar nenhuma". E ele conclui: "precisava aprender que igualando os destinos, a morte convidava a transcender as diferenças aparentes entre não-obra e obra" (RICOEUR, 1995, p. 79).
Essa fala comovente de Ricoeur remete primeiramente à ambiguidade da ideia de obra. A obra é o que se faz, o que se cria e, ao mesmo tempo, o que se faz da vida e, portanto, o que se é. Mas será que podemos pensar da mesma maneira, ou seja, com as mesmas categorias, o que se é e o se faz? De igual modo, temos critérios que fazem com que uma vida possa ou não ser qualificada como uma obra: o que é uma vida bem-sucedida (FERRY, 2002) e que tipo de sucesso exige a ideia de obra?
Entre a objetividade de um rastro na história e a subjetividade de um sujeito mais ou menos satisfeito de si mesmo, como avaliar o que faz da vida uma obra? E quem pode fazê-lo? Basta dar sentido à vida, conferindo-lhe unidade narrativa? Falar de "escultura de si" parece sugerir apenas a produção de si por si mesmo e o julgamento íntimo. Mas a obra não supõe sempre um destinatário pelo menos virtual? Serei realmente o único a poder dizer que fiz da minha vida uma obra, ou esse tipo de julgamento concerne igualmente a outrem, e, nesse caso, de que maneira? Finalmente, o vocabulário estético é suficiente quando se trata da vida em si mesma? Em que medida nós não somos levados da questão de uma vida bela à questão de uma vida boa, da estética à ética e talvez até à moral.
Gostaríamos de sublinhar, aqui, os paradoxos, as aporias e outros dilemas aos quais nos expõe essa expressão aparentemente inocente: "fazer de sua vida uma obra".
1. Uma confusão de categoria? Práxis e poiese
O Petit Robert2 2 Trata-se de um dicionário muito conhecido e com forte peso epistemológico. O Houaiss da França. [N. do T.] define a obra (oeuvre) como "um conjunto organizado de signos e de materiais próprios de uma arte, que toma forma pela mente criadora; produção literária ou artística". Com a obra, estamos frente a uma produção, mas uma produção que provém da arte, em oposição a trabalho (ouvrage), definido mais prosaicamente como: "um conjunto de ações coordenadas pelas quais colocamos alguma coisa em obra, efetua-se um trabalho".
O que significa dizer que a vida se dá como uma obra de arte? É paradoxal pensar a vida como categoria de produção se, aceitando os termos gregos, remontarmos à fonte de nosso vocabulário da formação (como imposição de uma forma a uma matéria-prima) que se situa na Física e na Metafísica de Aristóteles (FABRE, 1994). Aristóteles opõe poiese (produção) a práxis (o que se traduz inabilmente por ação). Poiese concerne a uma causalidade transitiva. É o caso quando o efeito é separado de sua causa e que se pode distinguir o fim ou a finalidade dos meios a serem utilizados ou ainda o começo e a finalização do processo. Por exemplo, quando o escultor faz uma estátua, há, de um lado, o artista e, do outro, o objeto. O escultor age sobre um objeto e não sobre ele mesmo: ele não se forma, ele dá forma a uma matéria que lhe é externa. No processo, podemos dissociar os meios (a matéria-prima, as ferramentas, o trabalho) do fim, ou seja, do produto acabado. Em suma, o processo artístico tem um começo e um fim determinados.
Podemos pensar a vida como produção? Não, diz Aristóteles, pois se trata precisamente de uma causalidade imanente, de uma práxis. Quando o escultor esculpe a si mesmo, não há, de um lado, a causa e, do outro, o efeito. Podemos distinguir aqui os meios e os fins? Essa separação tem sentido? Qual é a finalidade da escultura de si? Seria melhor perguntar, diz Aristóteles, qual é a finalidade da vida: a finalidade da vida é a própria vida. No máximo, poderíamos acrescentar: viver melhor! Quanto à questão, quando começa e acaba a escultura de si, provavelmente, é quando começa e acaba a vida em si mesma.
No contexto do pensamento aristotélico, é então difícil atribuir um sentido a expressão "fazer de sua vida uma obra". Trata-se de uma confusão categorial. Mistura-se a ordem da fabricação e a ordem da vida. Essa confusão produz efeitos ruinosos no domínio da educação. Francis Imbert (1992) e Philippe Meirieu (1997) a denunciaram energicamente. De fato, o projeto de fabricar um homem constitui uma tentação permanente da intenção de educar, como mostra bem o tema de Frankenstein (MEIRIEU, 1996). O aluno é um produto que a escola deve fabricar ou, ao contrário, deve ser considerado em sua própria vida como um ator livre? E qual é a finalidade da educação senão a educação em si mesma, posto que, de fato, trata-se de educar não alguém para outro ou para alguma coisa, mas para si mesmo, para sua vida.
Essa distinção aristotélica entre poiese e práxis já animava o projeto de Hannah Arendt (1983). De certo, para os gregos, a práxis mais elevada se realizava na contemplação, o que não é mais o caso para os modernos. Doravante, é a vita activa que se torna referência. Entretanto, essa vita activa se diferencia em si mesma por suas três dimensões: o trabalho, a obra e a ação. A finalidade do trabalho e de prover à vida biológica. Ele é marcado pelo eterno retorno da produção e refere-se ao homem como Animal laborans. A obra constitui a reificação do processo de trabalho, que tenta assim escapar da produção cíclica, criando permanência, duração: é a esfera do Homo faber. Finalmente a ação (e em particular a ação política) refere-se a outros homens, sem o uso de objeto como intermediário. Para Hannah Arendt, é nessa forma de vida que o destino propriamente humano se realiza. A modernidade dá razão a Aristóteles por outro viés: o homem é de fato um animal político.
No quadro aristotélico, que ainda anima nosso pensamento, a expressão "fazer de sua vida uma obra" implica misturar duas ordens de realidade, a ordem da produção (poiese) e a ordem da práxis. As distinções de Arendt recolocam a noção de obra no seu devido lugar entre o trabalho e a vida, mas não na própria vida. O vocabulário da produção não é adequado para pensar a vida. Logo, é importante avaliar adequadamente o paradoxo que repousa no fundo dessa expressão "fazer uma obra de sua vida" que, sem refletir, tomamos frequentemente como um slogan. A expressão nos convida, sem dúvida, a identificar uma existência ao que o sujeito faz dela, mais precisamente o que eu sou pode ser reduzido ao que eu faço? Sartre (1963) desenvolveu toda uma problemática das relações entre transcendência e facticidade para destacar, ao mesmo tempo, a irredutibilidade do sujeito a suas obras e a necessidade para este de assumi-las. Se, como lembra Ricoeur, a morte acaba igualando todos os destinos, negando a diferença entra obra e ausência de obra, nós não poderíamos dizer o contrário da vida de Olivier, que ela transcende o que ele fez de sua vida ou o que a vida fez dele?
2. As aporias da estética
O que pode atenuar essa confusão de categorias é a dimensão estética da obra. De fato, a obra não é um trabalho qualquer. Ela provém da arte. Ora, como afirmava Kant, em Crítica da faculdade de julgar, nós podemos atribuir ao objeto artístico uma finalidade sem um fim. A arte não tem serventia, não é ordenada por uma finalidade externa. A arte é, em sua essência, arte pela arte. A beleza basta a si mesma. Ela diz respeito apenas a um acordo subjetivo entre nossa sensibilidade e nosso entendimento. Apenas expressa a harmonia de nossas faculdades. Logo, a obra de arte não é uma produção como as outras.
Então, o que significa pensar a vida segundo categorias estéticas? Kant nos dá um elemento de resposta ao distinguir beleza e perfeição. A perfeição de um objeto ou de um ato é a adequação ao seu conceito. A perfeição indica a realização de um ideal, de uma norma. Em nada é igual à beleza. O belo, diz Kant, é o que agrada sem conceito. Quando eu digo: "esta rosa é linda", eu não estou dizendo que ela é perfeita, entendo que essa experiência faz nascer em mim uma impressão de harmonia. Trata-se de um julgamento em reflexão, pois nenhum conceito preexiste a essa experiência para orientá-la. Atribuir à vida um julgamento estético é colocar-se a distância de certa normatividade: minha vida não é um sucesso porque obedece a um modelo qualquer de perfeição (moral, religioso, político, filosófico). Ela é um sucesso porque podemos dizer que ela é "bela". O uso dessa categoria estética só pode ser compreendido no horizonte da secularização da sociedade e do declínio dos ideais tradicionais ou ainda das "grandes narrativas" (LYOTARD, 1979), que davam um sentido determinado à vida.
Na estética kantiana há, todavia, uma valorização do relativismo, pois pode se distinguir nela duas expressões: "isso me agrada" e "isso é bonito". Dizer "isso me agrada" é enunciar um simples acordo singular entre mim e o objeto: "eu gosto do verde, você prefere o vermelho". Dizer: "isso é bonito" significa, ao contrário, enunciar uma pretensão à universalidade: "o que eu acho bonito, todo mundo, pelo menos na minha esfera cultural, deve achar bonito". Em síntese, "Eu gosto de verde e você de vermelho, mas se a Monalisa é bela, então, você e eu e todos os visitantes do Louvre devemos achar que ela é bela, que ela nos agrade ou não!" Em Kant, as cores podem ser discutidas, mas não os gostos. Entretanto, a distinção entre o que agrada e o que é belo só se sustenta se acreditarmos em algo como uma cultura comum. Nesse caso, podemos dizer que o belo é o que agrada universalmente sem conceito: entre a subjetividade necessariamente singular do que agrada e a universalidade do conceito, há espaço para uma universalidade intersubjetiva que é a adesão a um gosto comum.
É essa pretensão à universalidade que é questionada hoje. Decerto, pelo fato de a vida não ser mais avaliável em função de modelos não significa que ela fuja ao controle de uma normatividade qualquer. Não posso dizer que uma mulher é bela sem me referir aos cânones da beleza vigentes em minha época. Nesse sentido, precisamos desconfiar da pretensão à originalidade, à singularidade, que, muitas vezes, trata-se somente do avesso do modismo. Doravante, a universalidade do julgamento de valor se desfaz diante da multiplicidade de modos e padrões que coexistem sem principio de hierarquização (LIPOVETSKY, 1987). De maneira que a única fonte de legitimação poderia ser, finalmente, o que me agrada, sem que eu esteja à altura de elevar uma pretensão qualquer à universalidade, aliás, se ela viesse a ser formulada, passaria imediatamente por imperialista. É importante entender que essa tolerância aparente é somente o avesso da falta de critérios. Logo, se nos referimos à estética para pensar a vida, só pode ser uma estética relativista que reduz o belo à aprovação individual.
Na realidade, quando se trata de pensar a vida, a estética fornece apenas um vocabulário emprestado, pois, de fato, a questão diz respeito à ética. Mas em nossa ética pós-moralista, que pretende livrar-se da ideia de dever (LIPOVETSKY, 1992), a beleza não é mais só o símbolo da moralidade, como queria Kant, ela se torna seu substituto. Isso se percebe muito bem em Michel Onfray, que publicou uma obra intitulada A escultura de si, com o subtítulo A moral estética. De fato, se fazer de sua vida uma obra não remete a padrões preestabelecidos (santidade, heroísmo patriótico, altruísmo...), somos levados a uma avaliação puramente estética da existência. Assim Onfray na linha de Nietzsche mobiliza-se numa busca de figuras exemplares como a do condottiero veneziano ou ainda a do dândi, que expressam a necessidade de um grande estilo, de uma elegância de vida, de uma generosidade aristocrática. Em poucas palavras, são os valores do artista que Onfray destaca: o individualismo radical, a afirmação de uma singularidade oposta ao espírito de rebanho, o culto da excelência contra o espírito de igualitarismo e, acima de tudo, a criação de novas formas de existência. Se Onfray invoca Kant não é o Kant da Metafísica dos costumes, mas o Kant de a faculdade de julgar. De todo modo não é a categoria do belo que chama a atenção aqui, mas a categoria do sublime. O belo remete às boas formas do gosto e a uma experiência da harmonia. O sublime nos arrasta a formas preestabelecidas para nos abrir o que nos ultrapassa. Frente ao furor da tempestade ou mesmo ao horror da guerra dizia Kant , a alma se eleva à ideia de infinita grandeza ou de infinito poder da qual nenhuma representação adequada pode ser dada e que só se pode evocar. Dispondo a estética moderna na categoria do sublime, Lyotard (1988) evocava a sentença bíblica: "Não farás imagens esculpidas". O sublime constitui um horizonte de sentido jamais figurável, mas que coloca a alma em movimento. E é nessa experiência do sublime que Onfray alicerça sua moral estética. O sublime constitui o sentimento específico da formação de si por si mesmo: "O sublime qualifica a operação que autoriza o movimento em direção a um grau superior, a progressão e a passagem para um novo patamar. Em matéria de escultura de si, o sublime é o trabalho paciente que desintegra o informe em proveito da forma, que é convidada a invadir cada vez mais a matéria bruta até a produção de uma figura" (ONFRAY, 1993, p. 209). Será que podemos ainda falar de figura quando qualquer figuração estável parece ser recusada na experiência do sublime?
De qualquer maneira, a questão do relativismo coloca-se então no plano da ética. Se na ética, como na estética, gosto não se discute, não se percebe bem o que permitiria dizer que Madre Teresa teve uma vida mais bela do que um serial killer, dedicado a tornar seus crimes obras de arte. Como destaca Charles Taylor (1994), parece que a autenticidade tende a se impor hoje como o único critério ético. A autenticidade não designa aqui a conformidade a um modelo externo (a autenticidade de um Van Gogh). Trata-se ainda da verdade, mas de uma verdade inteiramente subjetiva. Ser autêntico significa estar em sintonia consigo mesmo, ser si próprio ou tornar-se si mesmo, encontrar-se. A linguagem da autenticidade aproxima-se daquela do romance de formação, com a pequena diferença que a adaptação à sociedade é doravante concebida de maneira plural, flexível, em suma, relativista. Mesmo reconhecendo o valor ético dessa ideia de autenticidade, Charles Taylor observa, entretanto, que parece difícil privar-se de um horizonte de sentido, definindo o que tem ou não importância, o que se revela ou não significativo, numa determinada tradição cultural. Na falta disso, a busca de si pode parecer derrisória. Podemos colocar no mesmo plano: a busca de si na provocação indumentária, no crime ou no engajamento humanitário?
De onde vem, finalmente, essa estetização da vida? Gianni Vattimo (1987) comenta a famosa sentença de Hegel sobre a finalidade da arte. Se a arte deve ter uma finalidade, é como existência, separada da vida. Depois do Quadrado branco sobre fundo branco, de Malevitch, ou de A Fonte (urinol), de Duchamp, a fronteira entre a arte e a vida se anula completamente. A finalidade da arte significa, na verdade, a difusão da arte fora do museu: a arte está na vida, a arte é a vida e a vida é obra de arte. A sentença de Hegel não anuncia o desaparecimento do sentimento do belo, mas, ao contrário, a estetização da vida. Depois da aventura das vanguardas que destruíram um a um todos os pressupostos culturais da arte, a vida permanece a única obra de arte possível. Como se surpreender do surgimento de um paradigma estético em educação ou em formação? (KERLAN, 2003)
3. Os dilemas da escrita de si
Para pensar em termos de obra de arte, duas "belas artes" oferecem seus serviços: a escultura e a tragédia, ou, extrapolando as duas, a narrativa de vida. É esta última via que precisamos explorar. Como posso afirmar ter feito de minha vida uma obra sem ter produzido uma narrativa sobre ela? Desde a vida dos homens ilustres até a autobiografia das pessoas comuns, é somente a narrativa que pode autorizar a avaliação de si por si mesmo ou por outrem: a narrativa é o que "parece ser" aquilo que é. Antes de qualquer consideração sobre a distância eventual entre o ser e o parecer, é necessário considerar à maneira de Heidegger o parecer como a manifestação do ser, seu brilho. Como a vida, na sua diacronia, poderia se manifestar a não ser sob a forma narrativa? A narrativa é a única maneira susceptível de manifestar a "glória" de meu pai, a de Napoleão ou a minha! Poderíamos retraçar a gênese dessas problemáticas das narrativas de vida na tradição da Bildung e da hermenêutica alemã de Schleiermacher a Dithley e a Gadamer (DELORY-MOMBERGER, 2001), mas podemos também fazê-lo a partir da obra de Paul Ricoeur, que, em O si-mesmo como um outro (1990), conclui, depois de toda uma reflexão, sobre a narratividade, inaugurada pela meditação sobre a fenomenologia e a hermenêutica.
Ricoeur nos permite colocar um dilema. O que sou não me é diretamente accessível, eu só me descubro numa história, refletindo sobre meus atos depois que eles acontecem. Eu sou quem me tornei, o que a vida fez de mim ou o que eu fiz de minha vida. Não sendo assim, quem poderia me assegurar a continuidade da minha história? O eu que narra e o eu narrado são o mesmo eu? Se, verdadeiramente, eu sou somente o que me tornei, quem era então aquele de quem empreendo a narrativa e que não tinha ainda encontrado ele mesmo? A expressão "si mesmo como um outro" dá conta adequadamente das dificuldades de pensar minha vida como uma obra. O "si" (pronome reflexivo) marca o primado da mediação reflexiva sobre a posição imediata do sujeito, na primeira pessoa. O advérbio "mesmo" obriga a dissociar duas modalidades de identidades: a do idem e a do ipse, sem as quais eu não posso me pensar, no tempo. Finalmente, essa expressão "como um outro" articula a dialética do si e do outro, que é a dialética íntima de quem quer retomar sua vida na reflexão.
Desde O conflito das interpretações (1969), Ricoeur tenta o que ele chama um enxerto da hermenêutica na fenomenologia de Husserl e de Heidegger. De fato, o cogito cartesiano, o ato pelo qual eu apreendo minha própria existência diante da prova da dúvida, revela-se uma operação "tão vazia quanto invencível" (RICOEUR, 1969, p. 21). Ora, é de fato sobre o cogito, sobre essa evidência primeira e irrecusável de minha existência, que se constrói a fenomenologia como projeto de captar diretamente o sujeito. Mas essa verdade permanece vazia enquanto o ego cogito "não é apreendido no espelho de seus objetos, de suas obras e finalmente de seus atos" (RICOEUR, 1969, p. 21). Em outras palavras, o sujeito, o si mesmo, não pode ser captado pela via curta da mirada fenomenológica (que só alcança estruturas da existência). Desdobrar o conteúdo substancial de si implica a via longa e aparentemente indireta de uma reflexão sobre as obras e as expressões de sua vida. Ricoeur remete à filosofia de Jean Nabert, para a qual a reflexão é a tentativa de apreender-se "pelo viés de uma descodificação aplicada aos documentos de sua vida!" (RICOEUR, 1969, p. 21) e, igualmente, à tradição hermenêutica. Se Ricoeur permanece, apesar de tudo, fenomenólogo, é mais à maneira de Hegel que de Husserl. Na Fenomenologia de Hegel, o Espírito mostra suas figuras históricas e se realiza, torna-se ele próprio. Hegel escreve de fato o romance de formação da humanidade. Mas Ricoeur permanece, todavia, fiel a Hussel, recusando a ideia de um Espírito transcendendo as consciências individuais para se manter numa filosofia do sujeito. Fazer de sua vida uma obra supõe então dar sentido à sua história, refletir sobre os acontecimentos e os atos que preenchem efetivamente o cogito. Mas é, sobretudo, por um olhar retrospectivo inseparável de um projeto de vida, de reapropriação de seu esforço para existir, de seu desejo de existir. Em outras palavras, precisamos passar de uma filosofia da consciência plenamente maravilhada da certeza de minha existência a uma filosofia reflexiva que traz o questionamento sobre o que eu sou de fato. Essa existência é verdadeiramente a minha? Ela é submetida a mim ou posso dizer que eu sou autor dela? Será que posso me reconhecer nos meus atos, assumi-los e, em consequência, me encontrar?
Deslocando o questionamento da certeza de existir para a interrogação sobre si mesmo, é finalmente a concepção inteira do sujeito que deve ser remanejada. Não só o cogito é vazio, mas está sempre ocupado por um falso cogito, por uma falsa consciência de si, assim como Nietzsche, Marx e Freud nos ensinaram. No lugar do sujeito cartesiano, certo dele mesmo, é preciso pensar um sujeito em busca de si, nunca completamente seguro do que ele é e envolvido na desconstrução de falsos selfs. Isso explica o interesse nunca desmentido de Ricoeur (1965) pelas hermenêuticas da suspeita e, em primeiro lugar, pela psicanálise. Podemos entender a que se expõe qualquer narrativa de si: como não se deixar levar pela complacência de si próprio, como evitar contar histórias, pretendendo contar sua história? A não ser que possamos compreender que a narrativa de vida, que o sujeito realiza aqui e agora, só constitui uma elaboração provisória completamente exposta a correções ulteriores; que faz parte da história do sujeito, e que deverá continuar a ser vivida e a ser elaborada. Se assim for, quando estarei certo de ter feito de minha vida uma obra? Como reconhece Ricoeur (1990), o tipo de certeza reflexiva que posso alcançar quando encaro minha vida como uma obra não é de ordem apodíctica: trata-se de uma certeza mais frágil que a do cogito cartesiano, e também de outra natureza. Ela provém de uma certeza moral, de uma atestação, de um "Eis-me aqui", que é simultaneamente uma espécie de fé ou de aposta.
Na sua luta contra os falsos selfs, a atestação corre o risco de desenhar linhas de vida mais ou menos imaginárias. Porém seu trabalho é antes de tudo juntar todos os fragmentos do eu, todos os fragmentos da vida, para alinhá-los. Encarar sua vida como uma obra de si significa poder captar a si mesmo, no tempo. Supondo, finalmente, que eu tenha me tornando eu, como posso apreender esse movimento que parte de um eu, que não era ainda aquele no qual me tornei? Como narrar o processo de se tornar si mesmo? O que tenho em comum com essa criancinha que brinca na foto? Quando digo "sou eu", será que isso significa "sou eu mesmo, eu me reconheço" ou, ao contrário, "fui outrora essa criança, mas já não sou mais ela". Logo, pensar a continuidade de um sujeito no tempo exige distinguir duas ordens de permanência: a ordem da "mesmidade" e a ordem da ipseidade. A "mesmidade" supõe a identidade numérica e a similitude: podemos dizer que um vilarejo não mudou quando ainda tem o mesmo número de casas e preservou a mesma configuração. A ipseidade diz mais respeito à relação de si para consigo, que se mantém quando tudo muda: tal é a promessa que engaja quem a profere ou ainda a constância na amizade apesar das desventuras. A identidade pessoal só pode ser pensada articulando-se esses dois modelos de permanência no tempo. O "caráter" designa as marcas distintivas do indivíduo, o conjunto das disposições (desde o estado civil até as características biopsicológicas duráveis) nas quais se reconhece uma pessoa (RICOEUR, 1990, p. 146). É o que do quem, o conjunto das disposições adquiridas pelas quais o ipse se enuncia sobre o pano de fundo de um idem. Ao contrário, o modelo da palavra mantida remete à manutenção de si irredutível ao idem. A ipseidade concerne a uma identidade histórica. O que é um sujeito só pode se realizar numa narrativa que dialetiza o idem e o ipse. É de fato a possibilidade de se tornar história que confere a esse sujeito sua unidade e sua permanência no tempo. A narrativa de vida veste assim seu fundamento ontológico.
A atestação do si nos remete, então, mais uma vez, à estética, ou melhor, a uma poética narrativa da qual Ricoeur busca a fonte na Poética de Aristóteles. Obviamente, a assimilação da narrativa de vida à narrativa ficcional não é evidente. Na narrativa de vida, sou simultaneamente autor e ator. Por outro lado, partes inteiras de minha vida estão imbricadas na vida dos outros. Finalmente, a narrativa de vida não tem essa forma de fechamento da narrativa literária, posto que o início e o final revelam-se problemáticos. Mas isso não basta para invalidar o modelo narrativo para pensar a vida. Em compensação, a narrativa de vida está sujeita às mesmas tensões que a narrativa ficcional. A tessitura da intriga supõe uma síntese do heterogêneo. Como fazer uma história com histórias pergunta Aristóteles a propósito da tragédia , como dominar os três fatores de turbulência que são as peripécias, os reconhecimentos e a representação da violência? As peripécias conferem interesse à intriga, mas ameaçam sua unidade. A violência torna o espetáculo insustentável. Finalmente, o reconhecimento (quando Édipo se revela a si próprio quando aquele que se acreditava bom revela-se vil ou vice-versa) nos expõe às miragens do ser e do parecer quando não sabemos mais quem é quem. Seria bastante fácil transpor: tanto a narrativa de vida quanto a tragédia são sempre ameaçadas de um triplo ponto de vista, pragmático, cognitivo e patético. Dificilmente consegue-se reabsorver a multiplicidade na unidade, expõe-se ao desconhecimento de si ou aos reconhecimentos difíceis, esbarra-se, enfim, algumas vezes, no indizível.
Se a obra de vida se pensa com categorias narrativas, precisamos discernir os gêneros literários. Como sugere Ricoeur, poderíamos esboçar uma tipologia dos gêneros em função do papel reservado ao idem ou ao ipse. Há casos em que os personagens são reduzidos à identidade de um caráter, como nos contos de fada, nos quais posso identificar os papéis narrativos segundo seus papéis temáticos: o ogro e o lobo são, com certeza, agressores potenciais; o cavaleiro é um salvador em potencial; e o rei se revelará, sem dúvida, justiceiro. Em outros casos, é a ipseidade que domina a "mesmidade". Existem gêneros literários nos quais a intriga tem o sentido apenas de problematizar a identidade do personagem. É o caso do romance psicológico, é também diz Ricoeur o caso do romance de aprendizagem (1990), que, aliás, pode ir até a perda de identidade, como em o Homem sem qualidades, de Musil. Todavia, permanece aí uma ancoragem na "mesmidade", à medida que os personagens conservam suas inscrições corporais, permanecem terrestres. Só mesmo a ficção científica coloca em questão o próprio idem.
Prolongando a reflexão de Ricoeur, poderíamos nos perguntar em que medida o projeto de contar sua vida se revela tributário de um gênero literário. Conhecemos as condições de possibilidades sócio-históricas da emergência da narrativa de vida (DELORY-MOMBERGER, 2004): secularização da religião cristã numa sociedade burguesa, marcada pelo individualismo; substituição de uma causalidade psicológica pela causalidade externa de uma providência; tomada de consciência da historicidade da existência; e substituição da problemática da formação de um caráter pela manifestação do caráter já formado de um homem ilustre.
Podemos constatar que, apesar de todas essas evoluções, a secularização da "religião" conserva, assim mesmo, dois traços fundamentais: o formato narrativo e o eu unificado. Ora, esses traços são colocados em xeque pela pós-modernidade. Se admitirmos a pertinência do modelo narrativo para pensar a obra de vida, com qual gênero literário eu vou poder contar hoje a minha vida? A forma clássica do romance é colocada em questão ("nouveau roman", escrita fragmentada, "obra aberta"...). Que tipo de unidade narrativa poderei atribuir à minha vida como obra? Posso dizer que fiz da minha vida uma obra se narrá-la apenas justapondo simples fragmentos? Ou, inversamente, eu, que, na pós-modernidade, sou um homem plural, um eu fragmentado, serei obrigado a adotar uma forma de unidade clássica? O sublime caro a Onfray só pode ser evocado a partir do inacabamento, da desarmonia, das dissonâncias. Mas admitindo uma dose mais ou menos forte de turbulência e de alteridade, não sou obrigado a reinterpretar o "como um outro"? Na expressão "eu mesmo" havia a ideia de alteridade reabsorvida. E é nessa tal reabsorção que se podia inscrever a obra de vida como formação, como trabalho sobre si para eliminar os falsos cogito, as falsas atestações de si. Será que posso me mostrar menos exigente em matéria de unidade de vida sem ceder à outra dimensão do sublime: a elevação de si? Será que posso me liberar de uma unidade final, de uma unidade conquistada sobre a pluralidade? Finalmente, eu, tal como em mim mesmo, minha narrativa me transforma! Podemos constatar que as pessoas que praticam a narrativa de vida tendem a manter sua forma clássica. Será somente um efeito induzido pelos dispositivos de formação ou, ao contrário, uma passagem necessária?
É provável que o eu fraco da pós-modernidade, em busca constante de identidade, seja submetido a um tipo de injunção biográfica, a um imperativo que o obriga a pilotar sua própria vida. Essa "cultura heróica do sujeito" (DELORY-MOMBERGER, 2004) não investe em um trabalho de distanciação com as formas pós-modernas do eu fragmentado. Se fazer da sua vida uma obra supõe produzir uma narrativa unificada, não se trataria, finalmente, de buscar sempre formas literárias clássicas ou inéditas, em todo caso secularizadas, dessa conversão que Pascal colocava em oposição ao divertimento?
4. As tensões entre estética, ética e moral
E de fato, é possível que o vocabulário estético se revele insuficiente para pensar a obra de vida, como era pressentido na "moral estética" de Onfray. O interesse da reflexão de Ricoeur é, de certo modo, nos mostrar que a ética já está na estética, pois a narrativa de vida propõe possíveis existenciais para a avaliação dos destinatários.
Essa inerência da ética na estética aparece nas três Mimeses analisadas por Ricoeur (1983). Qualquer narrativa se enraíza numa primeira organização da ação, a das histórias ou de fragmentos de histórias da vida cotidiana. A narrativa tem origem no mundo da vida, que já está carregado de avaliações éticas, pois sempre se trata de amor ou de violência, de generosidade ou de covardia (Mimese I). Na Mimese II, quando se elabora o enredo propriamente dito, a dimensão ética surge mais claramente. A tragédia ensina Aristóteles tem como tema as tribulações de um homem "semelhante a nós" que passa da felicidade à infelicidade e que é infeliz sem merecer. Partindo da tragédia para outros gêneros literários, poderíamos dizer: para que histórias valham a pena ser contadas é preciso que aconteçam histórias aos personagens. Mas essas histórias não são unicamente problemas para resolver, são igualmente provas. É então no interior da obra que se faz um espaço de identificação no qual o espectador da tragédia experimentará o receio e a piedade pelo que acontece não só com os outros. É por isso que, na Mimese III na reconfiguração da obra na recepção , ler uma história significa atribuir avaliações éticas. Decerto, não se trata ainda de julgamentos morais. A leitura pode muito bem se situar além ou aquém do bem e do mal. Avaliação ética quer dizer aqui que a literatura constitui para o leitor um "laboratório" no qual lhe são apresentadas possibilidades de vida. Uma narrativa não é somente recebida como um jogo intelectual, mas como a evocação de uma experiência de vida que interpela tanto o autor quanto o leitor. Seguindo a lógica aristotélica, não pode haver estética narrativa sem ética, notadamente, na narrativa de vida. Assim, fazer de sua vida uma obra implica que não se pode avaliá-la, unicamente, com base em critérios estéticos, tais como unidade, totalidade, harmonia, pois toda história possui uma proposição estética.
A vida como uma obra implica, portanto, expor sua experiência sob o modo narrativo. E a tessitura da intriga constitui-se um gesto ético, à medida que o sujeito (se ele puder) se reunifica por meio da diversidade de sua história, reapropria-se de seu esforço para existir e tenta, finalmente, afirmar: "Eis-me aqui!" (RICOEUR, 1990, p. 194-197). Essa afirmação requer que ele tome conta de sua existência para medir e assumir a parte que depende dele, segundo o adágio estoico. Se a narrativa de si marca a passagem de uma causalidade externa (seja pela providência seja pelo destino) a uma causalidade psicológica interna (mesmo se o destino se interiorizou no inconsciente), essa problemática da imputação aparece como determinante.
Nas narrativas de vida nas quais sou, ao mesmo tempo, ator e autor, quem além de mim poderá dizer se eu fiz ou não de minha vida uma obra? Mas será que mesmo uma narrativa íntima não requer no movimento de atestação, não só uma exposição ao outro, mas também um desejo de ser compreendido, aprovado, reconhecido e mesmo perdoado? Por mais secularizado que seja o "Eis-me aqui" da atestação, ele responde a um apelo que vem de si, mas não se endereça a si. A atestação se realiza ao mesmo tempo como responsabilidade e como justificação. Em A Ilha Misteriosa, Jules Verne coloca em cena o capitão Nemo agonizante, contando sua história de anarquista revoltado e, entretanto, filantropo (FABRE, 2003). A narrativa se encerra com essa interrogação: "Agora que conhecem a minha vida, julguem-na... O que pensam de mim, Senhores?" No surpreendente diálogo que se segue, vemos Cyrus Smith pesar os prós e os contras, hesitar entre admiração, reconhecimento e piedade, sem nunca condenar. Nemo justifica-se: "Eu estava na justiça e no direito... Eu fiz por toda parte o bem que eu pude e também o devido mal. A justiça não está no perdão!" (FABRE, 2003, p. 810). Será que Nemo fez de sua vida uma obra? Certamente, no plano estético, trata-se de uma bela vida, que suscita admiração. Mas será que isso basta? Nemo, assim como Cyrus Smith, faz apelo ao julgamento de Deus e da história.
Quando Onfray pensa a escultura de si na categoria do sublime, ele não enfatiza suficientemente essa dialética da responsabilidade pessoal e do apelo ao outro, que nos parece constitutiva da atestação. "Uma existência é sublime quando ela dobra, não importa em que grau, a história universal ou a mais pessoal: quando a singularidade informa seu tempo, pois, frequentemente, é o inverso e os indivíduos são apenas caricaturas do que sua época produz" (ONFRAY, 1993, p. 211). Decerto, nem todos marcam sua época da mesma maneira. Há então graus no sublime, aquiesce Onfray. Se não há nenhuma dúvida sobre o êxito de algumas existências, uma vida aparentemente bem-sucedida pode ser vivida como um fracasso na intimidade do sujeito. Inversamente, uma existência socialmente medíocre pode esconder uma realização. Não vemos como o sujeito poderia remeter-se a outrem para julgar o valor da sua vida. Mas, o sujeito pode decidir sozinho, sem recorrer, de algum modo, ao sentimento do outro? A ideia de obra, no plano artístico, intelectual, político ou mesmo no sentido artesanal, não implica um olhar externo, um julgamento exterior? É nessa necessidade de reconhecimento que pode se inscrever o que poderíamos chamar, na sequência da reflexão de Ricoeur (num terreno que ele não renegaria, posto que se trata de uma problemática que vem da teologia, particularmente da teologia protestante), a problemática da justificação. É verdade que se trata de uma justificação pelas obras, e não pela fé, mesmo não sendo as obras coisas, que poderiam ser consideradas, independentemente do sentido que os sujeitos lhes atribuem.
Se o julgamento de valor que eu faço sobre minha própria vida remete a uma dialética de atestação, na qual assumo, plenamente, a responsabilidade sobre minha vida ao tempo que dirijo ao outro um pedido de compreensão ou de reconhecimento, não somos conduzidos da ética à moral? As pretensões éticas do condottiero evocadas por Onfray , as novas formas de vida que ele inventa, não seria ele levado a justificá-las como formas de vida humanamente possíveis e até desejáveis. Ele não estaria admitindo implicitamente que os valores que o filósofo artista dá a sua vida devem ser discutidos. Assim Onfray apresenta, na continuidade de Nietzsche, seus personagens conceptuais, essas figuras emblemáticas (o Condottiero, o Dândi...) como potencialidades afirmativas, e não reativas. Em outras palavras, eles não agem em relação aos outros, mas afirmam seus próprios valores. Onfray não para de defender suas figuras contra o filisteu, o burguês ou ainda contra a moral cristã. Ao mesmo tempo, ele deve prever todos os contrassensos que fariam do condottiero um homem violento, um tirano. Fazer de sua vida uma obra é, assim, domar a violência para traduzi-la em força, é domar as potencialidades do caos para fazer delas um conjunto harmonioso, uma forma. É estender a absoluta soberania sobre si, e não a alienação dos outros (ONFRAY, 1993, p. 60).
Tudo acontece como se as figuras do filósofo artista devessem fazer-se reconhecer como válidas, como se o condottiero, por pouco reativo que seja, tivesse de passar uma parte do seu tempo a se justificar. Ora, esse exame das pretensões éticas é precisamente o que Ricoeur chama de momento da moral. É preciso, certamente, reconhecer o primado da ética sobre a moral. A ética é a mirada de uma vida boa com e para o outro em instituições justas. Sem esse fim ético, a própria ideia de existência, essencialmente humana, seria impossível. Entretanto, a mirada ética e os modelos de vida que ela propõe devem passar pelo crivo da razão prática. É o momento da moral e de seus testes que constituem as máximas kantianas: o que aconteceria se todo mundo fizesse como eu? Posso querer que todos façam como eu? Se fazer de sua vida uma obra remete de fato à singularidade e até à exceção, posso me eximir das exigências de universalidade e de reciprocidade que a razão prática me dita? Ao mesmo tempo, Ricoeur mostra bem que além dos testes da razão prática, é preciso sempre retornar da letra ao espírito: saber em que caso a mentira, mesmo contrariando as máximas de universalidade, constitui um ato heroico eminentemente ético, o ato do justo que se recusa a entregar à Gestapo a família judia que ele esconde em sua casa. O momento da sabedoria prática logo constitui então a interrogação da norma moral pela intenção ética. Ele se revela necessário para driblar as armadilhas do farisaísmo.
A apreciação de sua vida requer então uma dialética entre julgamento estético, avaliação ética e norma moral. Nemo certamente viveu uma vida extraordinária, sublime. Entretanto esse sucesso estético não o dispensa de um questionamento de outra ordem, como mostra a continuação do diálogo. Nemo está certamente numa situação delicada face às máximas kantianas. Sua vida focada na vingança não pode ser erguida como um exemplo para a humanidade. Todavia Cyrus Smith não o condena. A última palavra é entregue a Deus e à história, digamos à ética para além da moral, mas não para além do bem e do mal.
5. Em conclusão
Mircea Eliade teria feito de sua vida uma obra, e não Olivier? O que quer dizer fazer de sua vida uma obra? A expressão é paradoxal porque ela remete a dois vocabulários diferentes: o da práxis e o da poeise, ou da produção. Ora, parece igualmente tão difícil separar obra e vida quanto colar uma sobre a outra. Sartre advertiu suficientemente contra a má-fé que seria operar qualquer uma dessas reduções. Certamente, a metáfora "obra de vida" remete de fato à finalidade sem fins da arte, o que faz da obra de vida uma produção bem específica. Mas o uso das categorias estéticas do belo ou do sublime deve, doravante, não se ater à universalidade do julgamento de valor e se expor ao relativismo. Como posso avaliar a obra de minha vida, como saber se efetivamente ela constitui uma obra verdadeira, na ausência de qualquer critério além do sentimento tão subjetivo de autenticidade? Como, nessas condições, escapar do derrisório?
Só posso saber se minha vida, a de Eliade ou a de Olivier constituem obras no momento de contá-las. Ora, a perspectiva narrativa obriga a problematizar as características estéticas da obra: sua unidade, sua totalidade, sua harmonia. Ela questiona o tipo de unidade que o eu pode atribuir à sua vida e às formas culturais nas quais ela pode ou não se expressar. A vida de Eliade e a de Olivier não seriam constituídas por numerosos "eu" que a ideia de obra só consegue reunir de maneira artificial? Na perspectiva inversa, uma vida que só se dá sob a forma de fragmentos poderia pretender ser uma obra?
Finalmente, esse vocabulário estético revela-se suficiente para pensar a vida? Reorganizar sua vida para desvelar seu caráter de obra é apropriar-se de seu esforço para existir, atestar o si mesmo. Ora, essa atestação requer uma dialética entre responsabilidade e reconhecimento, ou justificação, feita de tensões entre apreciação estética, ética e moral.
"Fazer de sua vida uma obra", a permanência dessa preocupação não deve ser vista com excesso. Ela requer uma significação muito diferente tanto no contexto do neoplatonismo, em que Plotin podia conceber a unidade do verdadeiro, do belo e do bem, quanto no contexto da Bildung-roman, que carregava ainda os ideais do Iluminismo e a grande narrativa emancipatória, ou no contexto atual, em que os critérios que permitiriam pensar que uma vida é bela, que uma vida é boa ou ainda que ela é uma "verdadeira" vida se revelam, ao mesmo tempo, múltiplos e incertos. O que permanece é, sem dúvida, essa aspiração ética a uma vida digna de ser vivida, que tenha sentido para mim e, se possível, para outrem. Que deixe algum rastro no mundo ou, pelo menos, nas lembranças dos meus próximos, e da qual eles e eu possamos nos orgulhar, qualquer que seja a fraqueza dos critérios que permitam apreciar suas qualidades.
NOTAS
Contato:
Université de Nantes
UFR des Lettres et Langage
Département Sciences de l'éducation
Chemin de la Censive du Tertre BP 81227
44.312
Nantes Cedex 3 França
Recebido: 12/03/2010
Aprovado: 25/09/2010
- ARENDT, H. Condition de l'homme moderne Paris: Calmann-Lévy, 1983.
- DELORY-MOMBERGER, Ch. Le Sens de l'histoire, Moments d'une biographie Paris: Anthropos, 2001.
- DELORY-MOMBERGER, Ch. Les Histoires de vie. De l'invention de soi au projet de formation. 2 ed. Paris: Anthropos, 2004.
- FABRE, M. Penser la formation Paris: PUF, 1994.
- FABRE, M. Le problčme et l'épreuve. Formation et modernité chez Jules Verne. Paris: L'Harmattan, 2003.
- FERRY, L. Qu'est-ce qu'une vie réussie? Paris: Grasset, 2002.
- IMBERT, F. Vers une clinique du pédagogique. Un itinéraire en sciences de l'éducation. Vigneux: Matrice, 1992.
- KANT, E. Critique de la faculté de juger Paris: Vrin, 1965.
- KERLAN, A. Une Philosophie pour l'éducation Paris: ESF, 2003.
- LIPOVETSKY, G. L'Empire de l'éphémčre. La mode et son destin dans les sociétés modernes. Paris: Gallimard, 1987.
- LIPOVETSKY, G. Le crépuscule du devoir. Paris: Gallimard, 1992.
- LYOTARD, J.-F. Le post-moderne expliqué aux enfants Paris: Gallimard, 1988.
- LYOTARD, J.-F. La Condition post-moderne Paris: Minuit, 1979.
- MEIRIEU, P. Frankenstein pédagogue Paris: ESF, 1996.
- MEIRIEU, P. Le Choix d'éduquer Paris: ESF, 1997.
- ONFRAY, M. La Sculpture de soi. La morale esthétique. Paris: Grasset, 1993.
- RICOEUR, P. Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris: Editions Esprit, 1995.
- RICOEUR, P. Soi-męme comme un autre. Paris: Seuil, 1990.
- RICOEUR, P. Temps et Récit III. Le temps raconté. Paris: Seuil, 1985.
- RICOEUR, P. Temps et Récit II. La configuration dans les récits de fiction. Paris: Seuil, 1984.
- RICOEUR, P. Temps et Récit I. Paris: Seuil, 1983.
- RICOEUR, P. Le Conflit des interprétations Essais d'herméneutique. Paris: Seuil, 1969.
- RICOEUR, P. De l'Interprétaion Essai sur Freud. Paris : Seuil, 1965.
- SARTRE, J.-P. L'Ętre et le Néant. Paris: Gallimard, 1963.
- TAYLOR, C. Le Malaise de la modernité Paris: Les éditions du Cerf, 1994.
- VATTIMO, G. La Fin de la modernité. Nihilisme et herméneutique dans la culture post-moderne. Paris: Seuil, 1987.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
01 Jun 2011 -
Data do Fascículo
Abr 2011
Histórico
-
Aceito
25 Set 2010 -
Recebido
12 Mar 2010