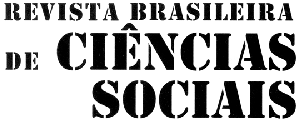Por que rir da Filosofia Política?, ou a Ciência Política como techné
Renato Lessa
Eu tenho, agora, a satisfação de passar a palavra para mim mesmo. Mais do que isso, eu gostaria, na verdade, e de uma forma um pouco bizarra, de agradecer a mim mesmo por ter me convidado para esta mesa, em função do que ouvi dos três colegas que me precederam. Há, com certeza, muito o que acrescentar ao que por eles foi dito. O problema é que eu talvez não tenha meios de fazê-lo. E já que meus limites são implacáveis comigo, quero começar adotando um outro ângulo de ataque que, creio, converge para nossa conversa aqui nesta manhã. Começar com uma pequena e paroquial estória; curta, mas que nos ajuda a esclarecer o sentido intelectual e político do que pretendo apresentar aqui hoje.
Há um tempo atrás não muito remoto , em uma avaliação de um conceituado programa de pós-graduação em Ciência Política do Brasil, que resultou em um parecer elogioso (tudo acabou tendo um final feliz), o(a) avaliador(a) deixou escapar o seguinte comentário: trata-se de um bom programa de Ciência Política; o que há a registrar é uma preocupante presença excessiva de temas de Filosofia Política. Pano rápido.
O que pretendo aqui fazer é devolver ao riso colérico dos que riem da Filosofia Política um outro tipo de riso, que incide sobre a vetusta postulação de uma distinção funda e de, no limite, uma incomunicabilidade entre uma reflexão de corte filosófico e normativo e o trabalho, a meu juízo fundamental, que se realiza na dimensão empírica da disciplina. Se minha exposição for minimamente bem-sucedida, pretendo deixar claro que todos perdemos com essa distinção. Ela é obscura, obscurantista e não faz justiça a essas duas áreas de trabalho, que são fundamentais para a constituição da nossa disciplina. Uma dá sentido à outra. Uma não pode existir sem a outra.
Eu gostaria de começar a construir esse argumento mencionando um episódio intelectual muito antigo. E aqui vai uma rápida digressão marginal: esse é um dos vícios de quem, como eu, se ocupa profissionalmente da Filosofia Política: falar sempre dos antigos, posto que a dimensão do tempo, quando se trata de Filosofia Política, não é a do tempo newtoniano, tempo linear. Na verdade, evocando a visão do romântico alemão Adam Müller, seria mais apropriado falar de conespacialidade do que de relações temporais de anterioridade. Sendo assim, começo minha reflexão falando de um colega contemporâneo ou conespacial que viveu no século XVI.
Encontrei-o pela primeira vez em uma ocasião, quando lia, por sugestão de José Américo Pessanha cuja voz já não mais posso escutar , o inesquecível e brilhante livro do historiador da Filosofia Pierre Maxime-Schuhl, intitulado Platão e a arte de seu tempo. Ali encontrei uma referência a um esteta italiano de nome Gregório Comanini eu juro que existe, não é molecagem borgeana, está lá no livro do Maxime-Schuhl
Gregório Comanini foi um esteta italiano, natural da cidade de Mantua. Um intelectual de segunda, terceira linha, talvez. Com certeza não foi um dos notáveis do Renascimento italiano, mas escreveu um livro curioso, chamado Il Figino, no final do século XVI, em 1591 para ser mais preciso. No livro, Comanini retrabalha a distinção feita por Platão no diálogo Sofista (daí a referência a ele no livro do Pierre Maxime-Schuhl) entre o que seria a boa mímesis e a má mímesis. Entre a boa imitação isto é, a que lida com temas nobres, relevantes, que pertencem ao mundo inteligível e a que lida com objetos mutantes, inconfiáveis, posto que presentes na vida comum e habitantes do mundo sensível. Gregório Comanini, adotando essa divisão de Platão, propõe um distinção muito mais dura; extravagante, na avaliação de Pierre Maxime-Schuhl.
Com efeito, Comanini, como um neoplatônico hard liner, propôs uma distinção radicalizada entre duas formas de imitação do mundo de representação, diríamos nós, em uma aproximação que nos é contemporânea. Uma dessas formas ele a chamou de imitação eicástica, ou imitação assemelhadora. À outra reservou a alcunha de imitação fantástica, imitação que trata de coisas aparentes. A distinção simplesmente replica os termos propostos por Platão. Mas, Comanini requalifica a distinção: a imitação eicástica ou assemelhadora imita coisas que existem; a imitação fantástica ou aparente imita coisas que não existem. Isso me encantou profundamente; isso me perdeu: a possibilidade de imitar coisas que não existem. E, uma vez cativo dessa miragem, duas ordens de perguntas me assolaram.
Em primeiro lugar, e antes de tudo: que imitação é essa, do que se trata, que exercício mimético é esse?
Consultando lá os meus oráculos platônicos, pude perceber o seguinte: a atividade de imitação do ponto de vista da letra platônica possui uma certa "neutralidade". Ela, por si só, não indica a falsidade ou a verdade do enunciado a ser produzido. O que determina a falsidade ou a verdade do enunciado a ser produzido é a natureza dos objetos considerados, e não o exercício técnico da observação. Quando a imitação incide sobre objetos nobres, reais, importantes, é uma boa imitação. Quando ela incide sobre objetos decaídos, mutantes, inconfiáveis, é uma má imitação, porque esses objetos não são, a rigor, objetos de conhecimento. São objetos de sensação e de opinião. Portanto, a distinção apresentada por essa leitura neoplatônica do século XVI demonstra admiravelmente a importância de erros geniais. Sendo assim, cabe a pergunta: como é que um erro de interpretação se é que se pode falar em erro de interpretação, vamos colocar sob suspeita essa expressão , ou a prática de interpretações heterodoxas e esquisitas acho que assim a coisa talvez fique melhor , pode ser fecundo, pode ser fértil?
O ponto básico que se deve ressaltar aqui é o de que essa imitação, tal como apresentada por essa leitura de segunda mão de Platão, incide sobre objetos que não existem. Talvez uma rápida digressão, neste momento, se imponha. Platão se afasta da ortodoxia eleática e não supõe, por exemplo, que a ordem do aparente se confunde com o que não existe, com o não ser. A aparência existe. Platão, portanto, não refuta a existência do aparente. O problema é que a existência deste é uma existência de segunda ordem. O que o comentador está a dizer e ao que tudo indica, a acrescentar é que é possível a imitação de coisas não existentes. Portanto, trata-se de uma postulação de uma outra natureza, com forte sabor eleata: quem erra, erra porque imita coisas não existentes. Mas, para nós que não estamos negativamente preocupados com o erro, o que importa é a atividade de imitar coisas não existentes. Trata-se, na verdade, não de imitação, mas de fabulação. O emprego do verbo imitar aqui talvez seja um empréstimo de um vocabulário ainda muito mimético para nomear o universo desmedido da fabulação.
O problema que agora se impõe é o de saber que imitação é essa. É o de esclarecer, entre outras coisas, o seguinte: como é que eu posso discriminar e decidir a respeito de imitações diferentes? Qual é a melhor imitação de uma coisa que não existe? Temos um belo tema, que eu acho que repõe na nossa discussão o ponto tocado pelo Renato Janine a respeito de traduzindo nos termos da minha linguagem privada uma certa incomensurabilidade existente entre sistemas de representação do mundo e sistemas filosóficos, todos eles molto benne trovatti, todos eles plenos de sentido. Não obstante, do ponto de vista de uma teoria da verdade rigorosa, eles não podem estar todos certos ao mesmo tempo. Isso é inaceitável do ponto de vista de uma teoria da verdade que exija uma correspondência absoluta entre o enunciado e uma coisa exterior, preexistente e pré-narrativa. Temos, portanto, mais esse problema: como discriminar, como escolher entre imitações de coisas que não existem.
Mas eu acho que a segunda pergunta provocada por essa distinção pós-renascentista de Comanini talvez seja mais interessante: o que são essas coisas não existentes afinal de contas?
Eu já indiquei a descaracterização da referência originária de Platão, em uma palavra, a traição de Comanini. Não preciso repô-la aqui na discussão. Mas acho que é possível que nós nos beneficiemos desse erro de interpretação e, por essa via, tentemos encontrar alguns episódios da história do pensamento ocidental que possam nos ajudar a descobrir o que significa esse domínio de coisas que não existem e que, a despeito dessa inexistência, são imitadas por algumas pessoas. Seres que recolhem fragmentos e descrevem essas coisas não existentes, transformando isso em enunciados ou até mesmo em formas de vida. Para ficar em uma referência ainda mais longínqua do que a que fiz anteriormente, o episódio que agora me ocorre foi protagonizado por meu amigo Górgias de Leontini, o sofista Górgias. De modo mais preciso, refiro-me à sua definição do estado de encantamento retórico e à própria idéia de persuasão. As passagens são longas, eu não vou lê-las (tendo falado em encantamento retórico, não quero entediá-los), mas a idéia clássica, básica e conhecida de todos nós é a da capacidade de persuasão e do encantamento retórico: a techné capaz de produzir terror, piedade, fazer jorrar lágrimas, provocar nostalgia etc., etc. As palavras mais freqüentes utilizadas por Górgias nessa discussão são encantamento e magia, como instrumentos que retiram as pessoas de seus estados originários e ordinários e as transferem para outras experiências, a partir desses hábitos de encantamento. Não obstante, são estados extraordinários esses estados de alteração de percepção provocados pelo encantamento retórico. São estados extraordinários que, ao fim e ao cabo, acabam sendo dissolvidos pela volta à experiência ordinária. Tudo reflui para a experiência ordinária que, por sua vez, é constituída por um encantamento retórico anterior, só que esse cristalizado e rotinizado. Não precisamos ter medo da regressão infinita nesse caso.
O ponto a destacar aqui é que, na reflexão de Górgias, a prova empírica da sua teoria é o evento de Helena, que teria sido raptada ou teria fugido isso aí, como vocês sabem, é controverso... se ela foi raptada ou se ela fugiu... nós jamais saberemos isso. Mas, analisando esse evento de Helena, Górgias argüi quase que in utranque partem, considerando diversas possibilidades, e a desculpa e a absolve. São várias hipóteses: se ela fugiu em função da vontade divina, se ela fugiu pela força, se ela fugiu pela paixão, se ela fugiu pela persuasão. Em qualquer um desses casos, ela não tem culpa por ter se transportado para o outro lado. É de se notar a equivalência concedida à persuasão com relação às outras forças, sabidamende sobre-humanas ou desumanas: a paixão, os deuses e a força. Peithó, a persuasão, é tão potente quanto as demais energias indicadas. Mas a evidência empírica para usar esse vocabulário poético encontrada, ela indica o que? Uma situação extraordinária, limite, como que o reconhecimento de que estados absolutos de encantamento poético e retórico não são ordinários e/ou rotineiros. Esse exemplo a fuga/rapto de Helena é dramático e liminar; dificilmente pode ser usado como um ícone de toda a persuasão ordinária que opera na vida social.
Ficamos, portanto, com um problema e podemos recompor o quadro principal dessa apresentação. Como associar os atributos dessa estética da ilusão, dessa possibilidade de criar formas de vida através da linguagem (para invocar a linguagem privada de um outro amigo), ao atributo da permanência e não ao atributo da fugacidade? Ou seja, devemos pensar a respeito da possibilidade de que estados extraordinários, tais como os mencionados acima, possam não mais ser dissolvidos pela experiência ordinária, mas antes, ao contrário, contaminá-la. Trata-se de poder pensar esta construção retórica de formas de vida como dotadas da capacidade de permanência. Como coisas que se plantam e permanecem. Ou seja, supor que, uma vez imitadas, as coisas não existentes passam a vigorar de modo pleno e, por algum estratagema, delas não se pode mais retornar: uma viagem sem volta. O verbo imitar, aqui, já não serve para mais nada, já não tem a menor utilidade. Imitar coisas não existentes significa inventar.
Inventar coisas não existentes e imaginá-las possíveis é a marca peculiar de duas modalidades precisas de ficção: a praticada pelos loucos e a estabelecida pelos filósofos políticos. Entramos, agora, no domínio da ficção que nos interessa: o da invenção intelectual de mundos sociais possíveis.
Mas, o que contêm esses mundos sociais possíveis? Antes de tudo, apresentam postulações acerca de extensões ontológicas: o que é o mundo social? como ele se constitui? quais são as regularidades causais que nele operam? há, ao menos, alguma regularidade causal nesse mundo? Mas, não se trata apenas de descrever uma ontologia imaginária mundos dotados de príncipes, de direitos naturais, de seres que deliram, temem e matam etc. As invenções intelectuais que povoam a história da Filosofia Política exibem, ainda, diferentes pretensões cognitivas: esse mundo é cognoscível? ele é apreensível pelo conhecimento humano? os agentes sociais que habitam esse mundo conhecem as suas dimensões básicas, ou as ignoram, sendo vítimas estúpidas de planos de vida traçados por estruturas não-intencionais?
A história do pensamento político contém inúmeras decisões diferenciadas com relação a todas essas questões. A elas, tal como eu disse na abertura desta mesa, se somam postulações a respeito da natureza humana. Postulações que, tal como as pretensões cognitivas e as proposições de ordem ontológica, são inverificáveis, já que é no interior mesmo dos mundos inventados que vão se fundar os mecanismos de verificação. Não há mecanismo de verificação prévio à produção dessas pretensões. Daí a idéia básica de que enunciados filosóficos são indemonstráveis. Mas isso, eu sei, está fora do alcance do metodologismo ranzinza, bizarro e intelectualmente estéril que ainda nos ronda.
Às postulações a respeito da natureza humana, de extensões ontológicas e acerca dos limites do conhecimento social se agregam corolários de ordem prática, que dizem respeito a paradigmas de justiça, padrões de racionalidade prática, dimensões morais, éticas etc. Além, é evidente, das formas e estratégias narrativas que esses modelos de mundo apresentam. Em outras palavras, a atividade de invenção de mundos sociais possíveis, praticada ao longo da história da Filosofia Política ocidental, não se limita a estabelecer proposições de natureza estritamente política. Nosso hábito, tardio e recente, de compartimentalização do conhecimento é que nos induziu a extrair do conjunto da reflexão dos nossos clássicos as "aplicações" ou "implicações" políticas.
Definir o universo da Filosofia Política como habitado por inventores de mundos sociais possíveis tem como implicação rir da loucura de supor que a variedade de respostas ali contidas deriva de uma observação positiva sobre o mundo exterior. Trata-se da suposição de que os modelos produzidos resultam da perscrutação de um mundo empiricamente construído, exterior à observação, e que a enorme diversidade de modelos de interpretação derivaria apenas de diferenças quanto à perícia analítica e à acuidade metodológica. Outro ponto que acho fundamental incorporar é a idéia de que são muitos os desenhos de mundos sociais possíveis. Cada um deles instituiu dimensões próprias: formas de realidade, escalas de relevância, sistemas de verificação e canônicas de trabalho científico.
A menção, talvez um pouco bizarra, a esse pensador secundário do século XVI, e a seu erro genial de mau intérprete de Platão, ganha dignidade se nós nos dermos conta do que acontece no âmbito da Filosofia Política, da teoria social e do pensamento humano em geral, a partir, pelo menos, dos séculos XV e XVI. Uma espécie de big bang, de explosão de várias maneiras de representar a vida social, se apresenta e se emancipa de formas mais controladas de representação da vida. Eu não estou comprando aqui nenhuma idéia rápida e débil de que a Idade Média foi algo assemelhado a uma idade das trevas; de que todos pensavam da mesma forma etc. Estou tão-somente reconhecendo o fato de que, ao menos a partir de um certo momento, que coincide com o início da modernidade, há uma dispersão inusitada de representações da vida política e da vida social que constituem mundos sociais possíveis e alternativos, alargando o âmbito da imitação de coisas não existentes. É um reducionismo brutal supor que essa pluralidade de visões significa tão-somente um conjunto de registros diferenciados daquilo que acontece.
O que sustento é que se trata de postulações diferenciadas do que deve acontecer, de como a sociedade deve ser e dos princípios dessa reconfiguração. Isso nos conduz ao reconhecimento da dimensão de fertilidade e de antecipação que a Filosofia Política encerra com relação ao que poeticamente poderíamos chamar de realidade empírica ou histórica. Essa antecipação ou fertilização diz respeito à disseminação de formas possíveis de vida. Nessa dispersão de formas possíveis de vida, nessa construção de múltiplos mundos sociais possíveis, a tradição filosófica do ceticismo teve um papel fundamental.
A partir do século XV e até pelo menos o século XVII, o ceticismo, retirado da sua circunstância original grega e pirrônica, e reinscrito na Filosofia ocidental sob a forma de uma máquina de guerra a desafiar o dogmatismo e seus enunciados téticos, infernizou a vida de vários pensadores. Um deles dedicou a sua vida intelectual a combatê-lo, e apresentou-se ao mundo como o campeão do ceticismo. Para muitos historiadores, teria fundado com esse empreedimento parte considerável da Filosofia moderna.
A história dos embates modernos do ceticismo excede os limites desta apresentação. Ela foi rica e belamente reconstituída por uma obra-prima da história da Filosofia, escrita por Richard Popkin The history of skepticism: from Erasmus to Spinosa. O que importa registrar aqui é que o ceticismo, com seus tropos e gambitos dubidativos, infernizou a vida de várias proposições dogmáticas a respeito do mundo. Como efeito indireto da sua interpelação diante dessas postulações dogmáticas, ajudou a fertilizar esse mundo, incitando novas respostas dogmáticas, novas tentativas de refutação. Teve um papel muito interessante e hoje possui enorme utilidade analítica, já que permite considerar a variedade de fabulações a respeito de mundos sociais possíveis, aqui referida, não estabelecendo como item compulsório a decisão a respeito de qual descrição de mundo possível deve ser adotada como a correta, a verdadeira, a mais próxima da realidade. O ceticismo permite representar a variedade discursiva que habita a trajetória histórica da Filosofia Política como uma pluralidade de mundos sociais possíveis, abolindo a exigência dogmática da busca de critérios de decidibilidade, que em última análise sempre repousam sobre a miragem da adequação com relação ao mundo exterior. O ceticismo, portanto, nos faz reconhecer a diaphonia existente quando esses modelos de mundo se tocam. Diaphonia que se radicaliza e estende cada vez que um novo enunciado se apresenta como portador da solução para as querelas protagonizadas por seus antecessores. Falo, pois, de seu conflito, de sua diferença e, no seu limite, de sua diferença indecidível. Esta é a idéia grega original de diaphonia. As fabulações a respeito de mundos sociais possíveis diferem entre si: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, quantos enfim?
Esses personagens deflagradores de mundos possíveis diferem entre si e divergem, ainda, a respeito da existência de uma área exterior de validação das suas discrepâncias. Daí uma certa indecidibilidade filosófica quanto à validade desses discursos. O que resulta daí? Suspensão do juízo diante dessa busca de validade? Desistir de tudo e aceitar o velho e delicioso convite de Melina Mercouri em Nunca aos domingos, ao fim de suas narrativas de tragédias gregas? Não necessariamente, embora não haja nada de patológico nessas duas alternativas, sobretudo a segunda... Mas, não precisamos ser tão ortodoxos assim: isso porque as decisões com relação a essa variedade já foram e vêm sendo produzidas ao longo do tempo. Esse fator a decidibilidade ordinária que derrota a indecidibilidade filosófica evoca a forma particular de ficção praticada pela Filosofia Política. A Filosofia Política de alguma maneira e aí caberia um grande esforço de história das idéias, de investigação empírica muito séria, diversificada a respeito decantou em cenários sociais reais. Ela foi, então, coadjuvante e co-autora da produção de identidades políticas reais, de comportamentos, expectativas, de padrões de demanda, maneiras de ver o mundo etc... Ela decantou no chamado mundo real, na vida ordinária, que, repito, é o lugar da decisão humana a respeito daquilo que no plano da Filosofia nos parece ser indecidível. Na medida em que os paradigmas decantam, eles transformam a todos nós em personagens um tanto esquizofrênicos: de manhã liberais, de tarde socialistas, de noite conservadores, eventualmente bêbados todos, depois. Há várias possibilidades: eles decantam em nós, seus pequenos tradutores e operadores, de maneira indisciplinada, de uma maneira tão selvagem que talvez fizesse com que os seus autores tremessem (e, por que não, temessem-nos) em seus túmulos, a acusar-nos de inconsistência, de contradições performáticas e coisas do gênero.
Pois bem, a Filosofia Política decanta na vida ordinária e decanta na disciplina que hoje nós praticamos. Decanta na Ciência Política. E com isso eu gostaria de fechar aqui o meu argumento, com os termos empregados por Comanini. Hoje, nós imitamos coisas existentes. A agenda da Ciência Política trata da imitação de coisas existentes; coisas existentes que foram postas no mundo por imitadores de coisas não existentes. Acho que isso junta as duas pontas da nossa tradição. Talvez chame a atenção para o obscurantismo dessa divisão absurda. Crianças hoje, que estão no berçário na maternidade de Caxambu, nascem como portadoras de direitos naturais. São admitidas por nosso mundo como seres cobertos por um padrão de equivalência moral que há três séculos eram apostas intelectuais incertas, invenções bizarras de alguns pensadores.
Não que todas essas invenções decantem na vida social. A vida social é misteriosa, tem os seus rituais internos de validação. Eu diria até que são insondáveis; mas alguma coisa decanta, mistura, estabelece promiscuidades e produz comportamento. E, em assim fazendo, produz a agenda da nossa disciplina. Isso que nós chamamos de clássicos é um conjunto de inventores sociais que nos ensinaram a perguntar coisas sobre o mundo. Acho que a Ciência Política empiricamente orientada, a nossa techné, se é praticada de forma inteligente, é uma atividade caracterizada por perguntas que nós fazemos a nossos experimentos, e não pela reificação dos dados empíricos. Aquela insuportável presunção: os dados falam por si próprios. É bom desconfiar quando alguém diz isso. Temos até boas razões corporativas para combater atos de hostilidade para com a inteligência. Nenhum dado fala. Os dados são portadores incuráveis de afasia. Eles não têm o dom da palavra. Nós é que temos. Nós é que sabemos perguntar. E aprendemos a perguntar como hóspedes de uma tradição que cria essas perguntas como dimensões relevantes de compreensão da vida.
Então, meus amigos, está na hora de rir da distinção preocupante e excessiva entre essas duas pontas da disciplina e de tentar aproximá-las. Mas, talvez mais do que isso, trata-se de dizer com toda a ênfase possível: temas cruciais da nossa agenda (da minha, pelo menos) que abriga os temas do trauma, da dizimação de formas de vida, do genocídio, do Holocausto, do sofrimento e da inescrutabilidade do futuro exigem muito mais do que a boa análise empiricamente orientada. Acho que talvez envolvam uma colaboração disciplinar muito maior do que a que hoje estamos disposto a empreender, além, é claro, de uma revisitação constante dos fundamentos da nossa tradição intelectual, já que são eles que nos distinguem. Muito mais do que isso: eles são os únicos antídotos à barbárie que parecem ainda estar a nosso dispor.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
04 Fev 1999 -
Data do Fascículo
Fev 1998