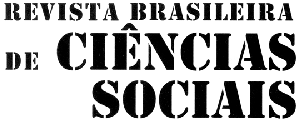Os economistas no governo: gestão econômica e democracia
Maria Rita LOUREIRO. Os economistas no governo. Gestão econômica e democracia. Rio de Janeiro, Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1997. 201 páginas.
Maria Antonieta Leopoldi
Herbert de Souza afirmava em 1993 que tinha mais medo dos economistas do que dos generais. Se antes eram os militares que ameaçavam a nossa vida pública e privada, hoje são os economistas, segmento importante das novas elites dirigentes, que determinam o nosso salário, consumo e lazer. A estabilidade monetária tornou-se, nestes tempos pós-keynesianos, o valor supremo da política governamental e este valor condiciona nosso processo de consolidação democrática, a atuação do mercado e a vida privada dos cidadãos.
Os "segredos de guerra", os "segredos da segurança militar" dos tempos da ditadura deram lugar aos "choques", aos "pacotes" medidas econômicas tomadas em gabinetes fechados, anunciadas com impacto, alterando a moeda, o câmbio e o nosso cotidiano. A insegurança política na ditadura cedeu lugar à insegurança econômica, assim como os generais deixaram o nosso imaginário de incertezas, substituídos pelos economistas no poder.
Foi a inquietação causada por sucessivos pacotes anunciados por vezes "de forma atônita e desastrada" pela televisão que levou Maria Rita Loureiro a estudar a nova elite dotada de poder para decidir assuntos fundamentais da vida nacional e individual. Seu objeto de estudo neste livro, originalmente sua tese de livre-docência para a Faculdade de Economia da USP, são os economistas no governo, mais especificamente, aqueles que estão atuando nas arenas estratégicas de gestão das políticas macroeconômicas: os Ministérios da Fazenda e do Planejamento, bem como a Presidência da República e as diretorias do Banco Central. Não estão, portanto, na sua análise os economistas que estão no governo mas fora da área macroeconômica.
O que é um economista dirigente? Ele é aqui definido como aquele que ocupa temporariamente um cargo que envolve grande poder decisório nas áreas monetária, cambial e da economia internacional. A política, para ele, é uma etapa da carreira de economista, que parte da academia, passa pelo meio empresarial, transita pelo governo, passando, a seguir, para o mundo empresarial, representado pelos escritórios de consultorias, bancos e outras empresas financeiras, onde eles vão agregar a riqueza à notabilidade adquirida nos espaços anteriores.
O livro divide-se em três capítulos. Os dois primeiros tratam da emergência e consolidação dos economistas como elite dirigente no Brasil, cobrindo o período de 1930 a 1996. O terceiro capítulo faz uma comparação entre as formas de gestão econômica e o papel dos economistas nos países de democracia estável (Grã-Bretanha, França, Estados Unidos, Japão e Israel) e nos países com regimes autoritários ou em transição para a democracia (México, Chile, Argentina e Peru).
A autora parte de questões pontuais. Por que as políticas governamentais estão sendo conduzidas, em muitos países, por economistas? Por que estes se tornaram atores políticos tão importantes? Seriam os economistas mais poderosos no Brasil do que em outros países? Teriam o poder de fato ou seriam técnicos mobilizados por presidentes e ministros? Por que os fracassos das políticas econômicas não levaram à perda da respeitabilidade dos economistas junto às elites políticas e à sociedade?
Partindo de explicações correntes na literatura sobre o papel preeminente dos economistas no governo, tais como a força das idéias econômicas como as únicas que levam à solução dos problemas, a influência das idéias keynesianas, a atuação dos economistas na promoção do desenvolvimento econômico, na solução de crises e no combate à inflação em várias partes do mundo, a autora busca respostas mais específicas para explicar a origem do economista dirigente, especialmente no Brasil. Sua metodologia reúne uma série de variáveis cuja combinação pode apontar para a presença dos economistas nas elites dirigentes. A estrutura de poder e as formas de organização do aparelho de governo explicam os tipos de gestão macroeconômica. Esta também depende do grau de autonomia do Estado diante de pressões políticas e de grupos sociais. Os vínculos entre a academia e o governo, bem como a disponibilidade de técnicos para servirem no aparelho estatal, condicionam igualmente as formas de gerir a economia. As orientações ideológicas predominantes no ambiente político influem ainda nas formas de gestão governamental, uma vez que os economistas dirigentes devem ser ideologicamente afinados com o governante, não sendo entidades dotadas de neutralidade técnica.
Maria Rita Loureiro liga a capacidade de gestão econômica à organização do aparelho do Estado, que depende, por sua vez, da coesão interna das elites e da importância da burocracia no processo decisório. Uma das conclusões desse trabalho para o caso brasileiro é a evidência de que, apesar de termos uma tradição de práticas burocráticas, pecamos pela falta de uma estrutura burocrática que privilegie a carreira e o desempenho dos quadros de funcionários. Em países desprovidos dessa estrutura burocrática e da tradição liberal, a gestão econômica tenderá a se centrar em alguns núcleos de excelência técnica, dotados de insulamento, nos quais, contudo, não vigora um padrão estável de carreira, o que facilita a presença do economista transitório como elite dirigente.
Seriam os regimes políticos importantes para explicar a maior ou menor presença dos economistas no poder no Brasil? As evidências encontradas não ligam a figura do economista dirigente aos regimes, uma vez que, na ditadura ou na Nova República, o estilo de gestão dos economistas foi muito similar, apesar das equipes econômicas serem diferentes, até em termos de geração. Os regimes políticos afetam, contudo, o tipo de gestão econômica, podendo explicar por que algumas políticas de ajuste são mais ortodoxas e as reformas mais amplas quando se administra a economia em ambiente autoritário. Da mesma forma, contextos de redemocratização e consolidação democrática tendem a estimular planos de estabilização heterodoxos e um timingmais lento das reformas.
Os economistas no governo podem atuar, segundo a autora, de quatro formas: (a) como funcionários de carreira (o caso francês); (b) como economistas dirigentes (ministros da Fazenda, presidentes ou diretores do Banco Central). Neste caso os cargos são de nomeação, resultando de escolha pessoal do presidente ou ministro. Brasil, México e Alemanha do pós-guerra apresentam figuras de economistas dirigentes. No caso alemão, porém, o economista tinha uma forte vinculação partidária. No Brasil, em geral, a escolha do nome do economista prescinde de sua atuação na política partidária; (c) como assessores de ministros e de políticos, sem poder decisório, apenas consultivo. A assessoria pode se dar dentro de uma carreira burocrática ou em caráter eventual e transitório (Estados Unidos, Grã-Bretanha); (d) como assessores eventuais. Neste caso, são chamados para trabalhar durante um período, têm poder decisório, mas não fazem carreira dentro do Estado, nem ganham posição de dirigentes (Estados Unidos).
Analisando o caso brasileiro, a autora mostra, no primeiro capítulo, a formação das escolas de Economia, a estruturação dos espaços que levam à carreira nos setores público e privado e o surgimento dos referenciais político-ideológicos dentro dos quais os economistas se posicionam. Trabalhando com o conceito de campo científico de Pierre Bourdieu, ela mostra a constituição do campo dos economistas na década de 40 e 50, a partir da criação conselhos técnicos e organismos que empregam e treinam economistas. Fora do Estado, formava-se também um centro de treinamento de economistas na Fundação Getúlio Vargas o Centro de Estudos Econômicos, criado em 1946, que deu origem ao Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV).
A "formação da competência técnica" dos economistas deu-se, pois, através de vários caminhos: organismos do governo, centros de pesquisa em economia aplicada (IBRE/FGV, Departamento Econômico da Confederação Nacional da Indústria CNI e, posteriormente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA), agências internacionais (FMI, Banco Mundial, mas especialmente a Comissão Econômica para a América Latina Cepal) e os cursos universitários. Estes surgiram no Rio e em São Paulo logo após o final da Segunda Guerra Mundial, substituindo os cursos técnicos de comércio e contabilidade.
A Faculdade Nacional de Ciências Econômicas da Universidade do Brasil foi um projeto de Eugênio Gudin, que ligou a pesquisa sobre macroeconomia feita na Fundação Getúlio Vargas com a docência na universidade. Logo montava-se uma rede ligando agências como a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), o Centro de Estudos Econômicos da FGV e a Faculdade Nacional de Ciências Econômicas. Formava-se, assim, o eixo academia-FGV-SUMOC, em torno do qual se construiria o referencial neoliberal nos anos 40 e 50. Com a influência da Cepal no país e a aliança dos estruturalistas com os assessores da Confederação Nacional da Indústria (CNI) formou-se um segundo eixo defensor do planejamento, do protecionismo industrial e de um papel mais ativo do Estado. Dois interessantes quadros (4 e 5) no capítulo 1 fazem o mapeamento dessa clivagem entre os economistas. Em São Paulo, a formação de um campo de economistas foi retardada em função das características da Faculdade de Economia da USP, cujos professores, vindos da área comercial e do Direito, ficaram distantes dos avanços da "nova ciência da Economia".
Uma característica importante do período pré-64, pouco discutida pela autora, é que, apesar de encontrarmos economistas como ministros da Fazenda (Eugênio Gudin) e como diretores da SUMOC (Octavio Gouveia de Bulhões), sua atuação nessa conjuntura era a de assessores dirigentes, na tipologia acima discutida, e não de economistas dirigentes. Isto porque, com exceção de alguns interregnos, o período de 1945 a início de 1960 teve ministros da Fazenda e autoridades monetárias submetidas ao PSD, o partido que dominou a arena política no período.
O golpe de 1964 trouxe os economistas para o poder, agora como as principais elites dirigentes, ao lado dos militares. Os que foram chamados para assumir as funções de ministro da Fazenda (Octavio Bulhões) e presidente do Banco Central (Dênio Nogueira) no governo Castello Branco provinham do grupo FGV-SUMOC, tendo tido uma atuação discreta no IPES, o que evidenciava sua oposição ao governo João Goulart.
Nos anos 70, os economistas se projetam no governo como dirigentes e assessores. No Brasil, vamos encontrá-los nos ministérios, no Banco Central, em organismos de pesquisa (IBGE, IPEA), nos bancos estaduais, no BNDE e nas secretarias econômicas dos estados e municípios. Ao longo da década os economistas dirigentes vão atuar com ampla margem de autonomia, ainda que dentro de uma orientação maior dada pelo governante militar.
Na Nova República, a gestão macroeconômica manteve o mesmo estilo de centralização decisória, concentrada em arenas restritas e insuladas das pressões da política partidária. O que mudou foi a chegada ao poder de uma nova geração de economistas, que se projetara no período final da ditadura fazendo críticas aos gestores da crise no governo Figueiredo. Com a redemocratização alterava-se também o referencial macroeconômico dos novos economistas dirigentes: os planos de estabilização e as negociações internacionais ligadas à dívida externa mudavam de filosofia e de estilo de implementação. O agravamento da inflação tornou os "choques" e "pacotes" antiinflacionários segredos de Estado. Quanto maior a inflação, maior era a ameaça de medidas de impacto, que ignoravam o Congresso e o sistema partidário.
A nova geração dos economistas da Nova República colocou largamente em prática o que a autora chama de estratégia "neopatrimonialista": sua passagem transitória pelo governo permite que adquiram um capital de conhecimento e informações sobre o governo, o sistema decisório e os recursos públicos disponíveis, informação que passa a ser usada como um bem privado nas firmas de consultoria e nos bancos que criam logo ao sair do governo.
Os traços da gestão econômica e do papel nela desempenhado pelo economista dirigente revelam, para a autora, que o sistema político brasileiro tem características que o aproximam mais de uma democracia delegativa (como a define Guillermo O'Donnell), porque nela o presidente parece estar acima dos partidos e dos interesses, julgando que seu mandato emana da vontade popular que legitima sua ação autônoma. O dilema dessa perspectiva é que ela valoriza o saber técnico, a racionalidade do mundo econômico como superior à da política. Até o Plano Real, as políticas de estabilização se davam através de choques, congelamento de preços, implantados sem negociação prévia com os setores econômicos. Havia também a incapacidade dos economistas dirigentes de escolher os ganhadores e os perdedores no processo de ajuste fiscal. Estas dificuldades de gerir os problemas macroeconômicos, que eram meramente políticas, levaram ao fracasso 13 planos de estabilização (desde 1979) e revelaram um Estado em situação de crise. O Plano Real, implementado de forma gradual e largamente anunciada em 1994, envolveu negociações com empresários (mas excluiu os trabalhadores dos entendimentos) antes e durante sua implementação. Sua implantação, bem como seu sucesso futuro, dependem de uma sintonia fina entre a política monetária e a cambial, do ajuste das contas públicas, do controle da taxa de juros, da manutenção da desindexação e da abertura do mercado, esta última considerada uma válvula de escape para o controle dos preços internos. A equipe econômica deve atuar, portanto, como uma orquestra afinadíssima, dada a instabilidade sempre presente na gestão do plano, devido a fatores internos ou crises internacionais. Essa orquestra depende também de um maestro que dê harmonia ao concerto de instrumentos diversos de política econômica.
Característico do período pós-1970 é o salto qualitativo que ocorre na capacitação técnica do economista. Os cursos de pós-graduação em Economia ganham projeção nos anos 70 (Escola de Pós-Graduação da FGV-RJ, PUC-RJ, UFRJ, FEA/USP, Instituto de Economia da Unicamp), trazendo mais prestígio e melhores salários para a profissão. Os novos cursos de Economia reproduzem teorias e metodologias dos países desenvolvidos. Surge, por essa época, um ativo intercâmbio entre universidades brasileiras e norte-americanas, patrocinado pela Fundação Ford e pelo governo dos Estados Unidos. Enquanto, no Rio, a EPGE/FGV e a PUC-RJ entram no circuito internacional, em São Paulo, a USP e a Unicamp ficam sob impacto maior da Cepal.
As clivagens existentes no campo dos economistas nos anos 80 e 90 divergem bastante daquela presente antes de 1964 A autora distingue três correntes téoricas/ideológicas: visão monetarista ortodoxa (EPGE/FGV), corrente inercialista (PUC-RJ) e corrente pós-keynesiana (UFRJ e Unicamp).
A internacionalização da ciência econômica passou a legitimar a elite dirigente brasileira e latino-americana de um modo geral. Os economistas com pós-graduação, domínio do inglês e estudo ou estágio no exterior foram recrutados para cargos da elite dirigente. Uma exceção digna de menção é a trajetória de Delfim Netto, analisada por Maria Rita Loureiro. Delfim Netto reestruturou o curso de Economia da USP nos anos 60, ao mesmo tempo em que atuou como assessor da Associação Comercial de São Paulo, aproximando-se do meio empresarial. Serviu como secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, antes de ser chamado para ser ministro da Fazenda de Costa e Silva e se tornar o czar da economia entre 1967 e 1974, voltando à cena depois, entre 1979 e 1984. Sem participar do circuito internacionalizado, Delfim conhecia teoria econômica e reunia sua capacidade técnica a uma extrema habilidade política.
As linhas principais da política econômica brasileira passaram a ser discutidas no FMI, no Banco Mundial, no Departamento de Estado dos EUA antes de serem implementadas no país. As novas idéias que desembocariam no Plano Cruzado e depois no Plano Real foram discutidas com antecedência nos meios acadêmicos e nas agências internacionais, o que configura o que a autora chama de uma "conexão internacional". Tal fato explica por que os economistas dirigentes fracassam nos seus ensaios de política econômica e não perdem credibilidade internacional. Como descredenciar uma política aprovada antecipadamente por acadêmicos de reconhecimento internacional e por membros de agências como o FMI e o Banco Mundial?
O livro termina com um capítulo denso, intitulado "Gestão econômica e democracia em perspectiva comparada", onde a autora compara o surgimento e a consolidação dos economistas no governo de vários países e analisa as arenas onde atuam e o seu grau de influência (estabelece, para tanto, um crescendo que vai da ausência de poder ao poder consultivo, seguido do poder decisório e, por fim, do poder dirigente, que torna o economista parte da elite dirigente). Avalia o tipo de burocracia de dez países e observa se o conjunto de variáveis que selecionou anteriormente para entender os condicionantes da gestão macroeconômica em cada país propicia um papel maior ou menor para o economista. Comparando os países com "democracia estável" com os de regime autoritário ou em transição para a democracia, Loureiro conclui que nos países da América Latina que estudou (México, Chile, Argentina, Peru e Brasil) os economistas chegam à posição de dirigentes políticos por sua capacidade técnica e pelo respaldo que têm na academia, no meio empresarial e na "conexão internacional". A hipertrofia de poderes nas mãos do presidente e seus ministros econômicos, tanto nas ditaduras quanto nas novas democracias latino-americanas, levam ao predomínio de formas de gestão macroeconômica extremamente insuladas e não democráticas. Os países com democracias consolidadas, por sua vez, têm regras institucionais e carreiras burocráticas que restringem o papel dos economistas a funcionários de carreira ou assessores de políticos. Mesmo nos países onde a gestão econômica tem um caráter mais intervencionista e regulador (França e Japão), os economistas não foram sequer reconhecidos como uma categoria profissional, nem ocupam posições no governo.
O trabalho de Maria Rita Loureiro vai muito além de nos ajudar a entender um dos atores políticos emergentes no Brasil a partir dos anos 60 os economistas dirigentes. Ele elucida o funcionamento das arenas decisórias responsáveis pelas políticas macroeconômicas no Brasil, ao mesmo tempo em que nos leva a pensar na premência de criarmos processos mais democráticos de controle do "insulamento" dessas arenas e institucionalizarmos procedimentos éticos que impeçam os economistas dirigentes de se valer das informações do governo para benefício de sua própria carreira e de seu bolso. Provoca-nos também para refletir sobre como se pode fortalecer uma carreira burocrática que incorpore economistas em caráter permanente, para dependermos cada vez menos dos policy-makers transitórios. No momento em que buscamos instrumentos para pensar a democracia em construção em nossas frágeis institucionalidades, um livro como este fornece ferramentas teóricas e factuais para a compreensão e a busca de saídas para os dilemas entre o mercado, o saber técnico e o poder.
MARIA ANTONIETA LEOPOLDI
é professora da Universidade Federal Fluminense (UFF).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
25 Maio 2000 -
Data do Fascículo
Fev 1999