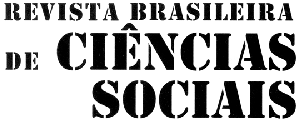O modelo sindical corporativo mudou?
Adalberto Moreira CARDOSO. Sindicatos, trabalhadores e a coqueluche neoliberal: a era Vargas acabou? Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas, 1999. 186 páginas.
Iram Jácome Rodrigues
O ano de 1978 foi fundamental para a ação sindical no Brasil. A sociedade civil foi tomada de surpresa. De repente, os trabalhadores, que raramente eram mencionados nos jornais da chamada grande imprensa, quando muito apenas nos cadernos de economia, passam a ocupar as primeiras páginas de todos os periódicos, bem como o noticiário do rádio e televisão. De um momento para outro suas greves são colocadas no centro das atenções políticas do país inteiro.
Defendendo a liberdade e autonomia sindicais, a organização dos empregados nos locais de trabalho, o fim do controle do Ministério do Trabalho sobre os sindicatos, o direito de greve, a negociação direta entre patrões e empregados, sem a ingerência do Estado, entre outras bandeiras, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo vai despontar e se consolidar no cenário político do final dos anos 70 como o pólo de um sindicalismo que se distanciava cada vez mais do trabalho desenvolvido por aqueles sindicalistas que, tanto no campo conservador quanto nas fileiras da chamada esquerda ortodoxa, não privilegiavam um contato maior com os trabalhadores nas empresas e, além disso, defendiam a permanência do Estado na esfera das relações capital/trabalho.
É, pois, a partir dos temas relacionados às condições de trabalho e salários, bem como às condições de vida dos metalúrgicos no final da década de 60 e início de 70 que o surgimento dessa nova praxis sindical altera, sobremaneira, a correlação de forças no interior do sindicalismo, resgatando, para os trabalhadores, a luta por direitos a partir do local de trabalho. E isso, sem dúvida, causará um grande impacto no conjunto dos metalúrgicos, no primeiro momento, e posteriormente em amplas parcelas das classes trabalhadoras.
A passagem de uma luta extremamente defensiva e localizada para uma ação mais ampla, no final dos anos 70 e início dos 80, quando os conflitos começam a eclodir por todos os lados, com greves por categorias, por fábricas, e mesmo greves gerais, foi um marco na história do sindicalismo brasileiro. O verdadeiro ponto de inflexão foram as greves por fábrica. Iniciadas em São Bernardo em maio de 1978, estas se estenderam, em seguida, praticamente pelo país inteiro. Tendo como ponto de partida as paralisações iniciadas em maio de 1978, o novo sindicalismo consolidou um avanço importante na experiência trabalhista em nosso país nestas últimas duas décadas.
Nos anos 90, no entanto, ocorreu uma mudança radical nas demandas do sindicalismo. Em função das transformações na produção, na organização e na gestão do trabalho a chamada reestruturação produtiva , a agenda sindical voltou-se para o interior da empresa, para a discussão de temas mais diretamente relacionados à problemática do trabalho, seja vinculados à organização e gestão do trabalho, seja relacionados à remuneração variável, como a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), ou, ainda, os que dizem respeito à flexibilização da jornada de trabalho, como banco de horas, entre outros.
Na verdade, este é o cerne das preocupações de Adalberto Moreira Cardoso e o fio condutor da análise desenvolvida no livro Sindicatos, trabalhadores e a coqueluche neoliberal, que reúne trabalhos anteriores do autor. O primeiro capítulo do livro trata da regulação do mercado de trabalho tendo como pano de fundo a questão da estrutura sindical; o segundo discorre especificamente sobre o tema da estrutura sindical; o terceiro capítulo procura dar conta da discussão da representatividade dos sindicatos no Brasil; já o quarto e quinto capítulos analisam, respectivamente, o problema da organização por local de trabalho e a legislação trabalhista.
O tema central do livro é, no entanto, a questão da estrutura sindical. Analisando a trajetória do novo sindicalismo, o autor observa que este "nasceu das entranhas do sindicalismo corporativo. Isso explica, sem dúvida, o alto grau de continuidade dessa estrutura, apesar do ímpeto reformador do novo sindicalismo." (p. 34). De outra parte, ressalta que, em certo sentido, as principais demandas do novo sindicalismo, tais como "autonomia sindical ante o Estado e os partidos; organização por locais de trabalho; demanda de novos direitos sindicais e trabalhistas [...] foram a fórmula sucinta que fez dessa forma de organização sindical uma novidade completa no cenário das relações industriais no Brasil, apesar de ela estar assentada na estrutura sindical oficial." (p. 35).
Assim, um aspecto enfatizado é o processo de fragmentação e descentralização do sindicalismo em nosso país. A partir dos dados de pesquisa do IBGE, o autor mostra que há fragmentação, mas observa que este fenômeno também significa organização de interesses, e "não apenas fragilização do movimento sindical". Além disso, procura demonstrar que "a Justiça do Trabalho não é o principal agente nas negociações trabalhistas; o imposto sindical não é a principal fonte de renda dos sindicatos; os sindicatos não contam (ouso dizer, nunca contaram) com burocracias especializadas; a prestação de serviços não é atividade central nem sequer importante para a maioria dos sindicatos brasileiros [...] O sindicalismo brasileiro está se modernizando apesar da CLT, contra ela e extravasando-a inteiramente. Não se trata de defendê-la, pois, mas de mostrar que ela se tornou incapaz de legislar sobre a realidade que ajudou a configurar, e que os sindicatos estão revelando o caminho para sua renovação." (pp. 43-44; grifos do autor).
Utilizando a pesquisa sindical do IBGE de 1992, Adalberto Cardoso sugere que a fragmentação sindical estaria relacionada com o crescimento do número de sindicatos, principalmente nos anos 80; ao mesmo tempo, aventa a hipótese da existência de uma estreita relação entre conjunturas políticas e econômicas e o processo de surgimento de novos sindicatos trabalhistas no país. O autor aponta para a existência de "uma associação bastante estreita entre `ebulição social' dos trabalhadores e o ritmo de criação dos sindicatos" (p. 49), mesmo reconhecendo que, muitas vezes, o puro e simples surgimento de sindicatos não signifique, necessariamente, uma maior organização por parte dos trabalhadores.
De outra parte, o autor discute criticamente a idéia, presente na literatura, de que o sindicalismo brasileiro só vai até a porta da fábrica, reconhecendo que esta forma de tratar a questão estaria correta "apenas em parte". Observa ser "muito provável que permaneça diminuto o [seu] poder de intervir no cotidiano fabril. Mas o enraizamento nos locais de trabalho vem-se ampliando nos últimos anos" (p. 52). Utilizando os indicadores de representação por local de trabalho (p. 53), a partir de dados de pesquisa do IBGE, Adalberto Cardoso procura demonstrar que estaria havendo um crescimento acentuado da representação por local de trabalho no Brasil: "Tomando-se os sindicatos de empregados urbanos, quase metade tinha delegados sindicais em 1991. Entre os sindicatos de trabalhadores rurais, esse percentual excedia os 50%. Em termos médios, para cada 179 empregados urbanos era possível encontrar um delegado sindical, relação que é tanto maior quanto menores as empresas." (p. 52).
O livro também trata de temas como a Justiça do Trabalho, o imposto sindical, a burocracia nos sindicatos, assistencialismo etc. Cardoso chama a atenção para o fato de "que a participação dos dissídios coletivos no total das negociações empreendidas entre sindicatos urbanos foi de menos de 32% em termos globais, e de menos de 31% se considerarmos apenas os sindicatos de empregados urbanos. Mais importante do que isso, as sentenças normativas representaram não mais que 5,2% dos resultados totais e menos de 5% entre os empregados urbanos." (p. 56). Já no que diz respeito ao imposto sindical, o estudo aponta que, em 1992, "48,5% dos sindicatos nacionais tinham 30% ou menos de sua receita compostos pelo imposto sindical". Neste caso, a conclusão do autor é "que para metade dos sindicatos brasileiros existentes em 1992 o imposto não era uma fonte de renda insubstituível, isto é, com seu fim esses sindicatos não estariam condenados ao desaparecimento" (p. 63). Utilizando dados de 1991, ele mostra que, "em média, a contribuição associativa (voluntária) respondia por 47% da receita sindical. Essa participação varia muito pouco segundo o tamanho dos sindicatos e segundo o número de associados. [Defendo] a seguinte afirmação: os sindicatos no Brasil são financiados, predominantemente, pelas contribuições associativas. O imposto sindical perde crescente espaço, mesmo diante da virtual explosão no ritmo de criação de sindicatos observada no final dos anos 80." (p. 68; grifos do autor).
No que diz respeito à prestação de serviços, os dados da pesquisa apontam, por exemplo, que 78% dos sindicatos no país não têm médicos e cerca de 70% não tinham dentistas. Além disso, embora, pela legislação atual, os sindicatos devessem prestar assistência jurídica tanto a filiados quanto a não filiados, "apenas 25% deles tinham advogados em seu staff. Finalmente, poucos sindicatos empregavam contadores, e menos ainda tinham assessores sindicais em seus quadros" (p. 72). Vale dizer, estes dados estariam corroborando a idéia de que, para a grande maioria dos sindicatos, a questão da prestação de serviços não é predominante.
Outro tema abordado no estudo refere-se à taxa de sindicalização. Apoiando-se em dados do IBGE, o autor procura demonstrar que se levarmos em conta a população economicamente ativa (PEA) com carteira assinada na cidade e no campo, mais os funcionários públicos que passaram a ter direito à sindicalização após a Constituição de 1988 , o Brasil possuiria um número elevado de empregados sindicalizados: em 1992, 1993 e 1995 a taxa era de cerca de 30%; em 1988, de aproximadamente 28%. Esta taxa seria "equivalente à encontrada na Alemanha, Itália e no Canadá; superior à encontrada nos Estados Unidos, Japão, França, Países Baixos e Suíça; e inferior apenas à de países com forte tradição social-democrata." (p. 85; dados de 1989).
Um argumento que permeia todo o trabalho é, em certa medida, a idéia de que, a despeito desta estrutura sindical corporativa, e em decorrência da exclusão social uma espécie de marca registrada da sociedade brasileira , os sindicatos têm desempenhado um papel de "escolas" de cidadania para uma parcela significativa dos trabalhadores no Brasil. Ou seja, "a extensão da malha sindical ao interior da floresta amazônica, aos sertões nordestinos, às fazendas gaúchas foi a extensão de direitos a populações inteiras de trabalhadores [que estavam anteriormente] à margem inclusive da `cidadania regulada'. Em suma, a exclusão social é tão premente e tão extensa no país que levar aos excluídos relações `arcaicas' de trabalho [...] é um avanço sem precedentes: é levar o Estado a regiões onde o Estado não comparece sequer como polícia, que dirá como agente de direito universal." (p. 78).
Isso quer dizer que o modelo sindical corporativo não é mais o mesmo? A resposta é, a um só tempo, sim e não. Se olhamos para aquelas instituições sindicais mais representativas dos trabalhadores brasileiros, certamente a resposta é afirmativa. Quando, no entanto, observamos os pequenos sindicatos, sem representação real da sua base, a resposta é negativa. Em face da heterogeneidade da força de trabalho em nosso país, poderíamos dizer que existem vários padrões de ação sindical. De um lado, um sindicalismo que tem algum poder de negociação com o empresariado, que possui certa organização nos locais de trabalho, enfim, que tem uma maior proximidade com seus representados; de outro, uma ação sindical que está muito distante dos trabalhadores e cuja prática tem uma eficácia muito pequena numa conjuntura em que os trabalhadores, em larga medida, estão na defensiva. Por exemplo, o fato de existir um delegado sindical para 179 empregados urbanos não permite afirmar que tenha havido uma ampliação do enraizamento da organização trabalhista nos locais de trabalho. Um aspecto que é importante ressaltar é que estes delegados não são eleitos e, em muitos casos, a atuação destes empregados no interior das empresas na defesa dos interesses dos trabalhadores é praticamente nula.
A tese central do autor, no entanto, está correta se levamos em conta, tão-somente, aquela parcela que é preponderante no interior do sindicalismo da Central Única dos Trabalhadores e entre aqueles sindicatos mais fortes e são poucos que estão filiados à Força Sindical. Enfim, para aquele setor sindical que realmente conta, pode-se dizer que houve uma renovação sindical a despeito da estrutura sindical corporativa. No entanto, a real democratização das relações de trabalho no Brasil só chegará com o completo desmantelamento dos elementos corrosivos do nosso modelo corporativo, tais como a unicidade sindical, o monopólio da representação, o papel ainda desempenhado pela Justiça do Trabalho e as contribuições compulsórias. Nesse aspecto, a análise desenvolvida por Adalberto Cardoso no capítulo 4, que trata da organização no local de trabalho, é extremamente atual. Sem uma ampla organização trabalhista no interior das empresas é impossível se pensar em democratização das relações capital/trabalho em nosso país. Vale dizer, mesmo com as mudanças ocorridas no modelo sindical corporativo, no sentido de sua "renovação" a partir de dentro, existem vários óbices que devem ser ultrapassados para que a democracia possa chegar a contento nas relações trabalhistas.
A experiência da CUT é emblemática nesse sentido. A Central nasceu do chamado novo sindicalismo, que baseava sua ação numa forte contestação à estrutura sindical corporativa, mas aos poucos esse aspecto da identidade cutista foi desaparecendo e dando lugar a uma certa adaptação ativa a este modelo. Esse processo teria levado a uma acomodação ao corporativismo, que se expressa, por exemplo, pela fraca penetração desse padrão sindical nas empresas, salvo algumas exceções. Outra questão relevante para a ação sindical e que ainda não foi resolvida é o tema da organização por local de trabalho. Houve algum avanço nesses anos, mas ainda há muito por fazer neste terreno. A esmagadora maioria do sindicalismo ligado à CUT não tem uma implantação muito expressiva nos locais de trabalho. Nesse aspecto, a situação no âmbito da Força Sindical é ainda pior. Além disso, o contrato coletivo de trabalho é uma das condições básicas para que a organização por local de trabalho possa se desenvolver. Ou seja, é necessário, de um lado, a liberdade de organização nos locais de trabalho e, de outro, a negociação direta entre empregados e empregadores, sem a tutela do Estado.
O mérito do livro de Adalberto Cardoso é, a partir de um amplo levantamento de dados e de uma leitura atenta da bibliografia sobre o mundo do trabalho, apontar algumas pistas sobre o significado da ação sindical no Brasil nestas duas últimas décadas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para os aspectos de ruptura/continuidade e/ou renovação/inércia organizacional do modelo sindical corporativo, explicitando um conjunto de questões que estão subjacentes no debate acadêmico mas que, não raro, "teimam" em não vir à tona. Aliás, a idéia de renovação e/ou inércia organizacional é um veio fértil para a apreensão da ação trabalhista nestas duas últimas décadas no Brasil.
IRAM JÁCOME RODRIGUES
é professor do Departamento de Economia da USP.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
06 Abr 2001 -
Data do Fascículo
Out 2000