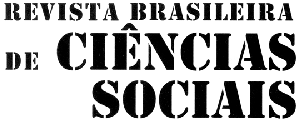RESENHAS
A ação externa dos Estados Unidos em perspectiva
Gustavo Biscaia de Lacerda
Cristina Soreanu PECEQUILO. 2003. Política externa dos Estados Unidos: continuidade ou mudança?. Porto Alegre, Editora da UFRGS. 423 páginas.
Não são poucos os autores que comentam que, da mesma forma como o século XVIII foi francês e o XIX, britânico, o século XX foi acima de tudo norte-americano assim como é possível que o XXI também o seja. Em todo caso, o fim do século XX, o chamado "pós-Guerra Fria", caracterizou-se, sem dúvida alguma, pela centralidade norte-americana. O período de transições e incertezas foi contrabalançado por inúmeras continuidades e certezas, de modo geral relativas à nação ianque: de um lado, pela existência de instituições inter e supragovernamentais em larga medida inspiradas e patrocinadas pelos Estados Unidos, e, de outro lado, por ter exatamente os Estados Unidos como a única superpotência mundial. O período inicial de hesitações externas e introversão do governo Clinton (1993-2000) e a beligerância neoconservadora e para-evangélica de George W. Bush apenas ressaltam a importância desse país para o mundo a compreensão e a análise de sua política externa tornam-se, portanto, pré-requisito fundamental para se falar do "mundo no século XXI", e é nesse sentido que a pesquisa de Cristina S. Pecequilo torna-se uma contribuição importante.
Política externa dos Estados Unidos: continuidade ou mudança? é o resultado de seu doutorado em política internacional, levado a cabo na Universidade de São Paulo. Trata-se de uma obra que se tornará referência obrigatória por ser a primeira do gênero realizada no Brasil, que analisa extensivamente como os Estados Unidos constituíram, ao longo de seus pouco mais de dois séculos de existência, os parâmetros e as ações de sua conduta externa.
Recentemente, Madeira (2002) afirmou que nos últimos anos uma crescente bibliografia sobre os Estados Unidos tem surgido no Brasil, no sentido de analisar não as relações entre a potência do Norte e os outros países, mas a própria atuação norte-americana, procurando determinar como eles próprios percebem-na e atuam no mundo. Assim como durante os anos de 1970 havia os brazilianists nas universidades estadunidenses, parece que surgem agora os "americanistas" na academia tupiniquim: sem dúvida alguma, é nesse contexto que se inclui este livro, uma pesquisa não sobre as "representações" sobre os Estados Unidos, mas sobre os "fatos" dessa política externa.
Deve-se notar que obras sobre os Estados Unidos há diversas, embora, de modo geral, refiram-se a questões localizadas ou a momentos específicos, enfatizando a perspectiva de um ator ou outro. A obra de Cristina Pecequilo, em contrapartida, refere-se apenas aos Estados Unidos, aludindo a outros atores estatais de maneira incidental e sempre na perspectiva norte-americana. Dessa forma, temos a possibilidade de entender como é que os formuladores de políticas nos Estados Unidos percebem o mundo e pensam em sua atuação nele torna-se claro, a todo momento, que os valores apresentados são dos norte-americanos e não da autora. Examinadas as referências bibliográficas que ocupam largas quarenta páginas percebe-se uma preponderância de escritores autóctones, o que confere ao livro um certo caráter etnográfico e, nesse sentido, de valor realçado.
A obra divide-se em três partes, a primeira dedicada ao período formativo da república norte-americana até os anos da Segunda Guerra Mundial; a segunda relativa ao conflito bipolar dos anos 1947 a 1989 (ou 1991, segundo alguns), isto é, à Guerra Fria, em que a participação estadunidense foi fundamental para as relações internacionais; por fim, a terceira parte dedica-se a examinar a conduta da potência após o término da Guerra Fria, período em que muita coisa muda e não se sabe exatamente o que permanece, e em que há inúmeros debates (especialmente nos Estados Unidos) sobre os rumos a seguir. Como essa última parte compreendia inicialmente apenas os governos de George Bush, pai, e de Bill Clinton, um outro capítulo foi incluído para tratar do governo de George W. Bush e do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Além disso, escrito por uma brasileira, a obra tem uma preocupação complementar, até certo ponto desnecessária em relação aos Estados Unidos em si, mas importante para nós, brasileiros e latino-americanos: em cada uma das partes dedica-se um capítulo às relações entre a potência do Norte e seus vizinhos ao Sul do rio Grande.
O livro resultou de uma preocupação considerada básica por todo analista da política internacional, qual seja, a de examinar desde as origens a política externa da principal potência mundial, discutindo ao mesmo tempo as preocupações internas e seu relacionamento com as outras potências. Nesse sentido, o subtítulo da obra "continuidade ou mudança" engana, pois não se trata, em absoluto, de examinar se há (mais) continuidade ou (mais) mudança, isto é, não se examina a questão em termos de oposição, cuja resposta seria tão simples e direta quanto pobre e insatisfatória. O que a autora faz é indicar, inicialmente, a constituição de uma certa tradição norte-americana de política externa em seus anos iniciais (final do século XVIII e século XIX), traduzida em termos de pensamento e de ações concretas, que ao longo do século XX especialmente durante e depois da Guerra Fria foi posta à prova e transformada, de tal sorte que houve, ao mesmo tempo, continuidade e mudança.1 1 Sem dúvida alguma esse é um mérito da autora, uma vez que esse truísmo sociológico freqüentemente é esquecido pelas ciências sociais, preocupadas inúmeras vezes em opor os elementos da estática aos da dinâmica sociais, geralmente em prejuízo da última. Salvo em casos extremos (desastres naturais, guerras), ao longo do tempo as coisas mudam e com elas as sociedades , mas elas mantêm suas "identidades".
O núcleo histórico, os elementos permanentes da política externa estadunidense que a autora identificou são: manutenção e propagação do experimento republicano e democrático; manutenção de um ambiente internacional estável como condição para o desenvolvimento doméstico; isolacionismo e unilateralismo e expansão das fronteiras como garantia da estabilidade interna. Cada um desses elementos tiveram e têm inúmeras repercussões, que serão pelo menos indicadas aqui.
Talvez os dois elementos mais notados na conduta da superpotência sejam o isolacionismo e o unilateralismo. Formulados de maneira exemplar por George Washington em sua "Carta de despedida" da presidência dos Estados Unidos, no final do século XVIII, o estadista preconizava que o país deveria buscar sempre sua autonomia, isto é, sua capacidade de decisão isenta de constrangimentos externos, causados por potências estrangeiras. Nesse sentido, as eventuais alianças militares deveriam ser mantidas apenas pelo tempo necessário para a consecução de seus objetivos, e o relacionamento com outros países deveriam limitar-se às questões econômicas, distanciando-se das políticas.
Ora, o isolacionismo e o unilateralismo andam juntos, pois um é condição do outro: manter-se longe de alguns círculos era a garantia da margem de manobra desejada. A percepção da autora, a respeito, é muito esclarecedora, ao demonstrar como esses elementos não significam, de maneira alguma, um afastamento completo das relações internacionais: "na história norte-americana, o isolacionismo nunca significou uma retirada dos assuntos mundiais, mas a manutenção da máxima quantidade de margem de manobra [sic] que, por vezes, faz uso de posturas unilaterais e intervencionistas" (p. 50). Além disso, deve-se levar em conta que muito do que se entende pela expressão "relações internacionais" significa "política européia", ou seja, os norte-americanos procuravam manter-se afastados da política do Velho Mundo, vista como perversa, má, intrinsecamente corrupta e corruptora, reservando ao Novo Mundo a possibilidade de uma nova política e de um novo ser humano. Evidentemente essa forma de pensar está na origem do conhecido messianismo norte-americano, justificativa de suas várias intervenções no mundo.
Assim, enquanto as relações com a Europa consistiam principalmente em intensas trocas comerciais, com os países latino-americanos havia bastante contatos políticos basta lembrarmo-nos de que foram os Estados Unidos os primeiros a reconhecer a independência dos países latino-americanos (em cuja esteira, aliás, lançou-se a famosa Doutrina Monroe). Na verdade, o padrão de comportamento norte-americano é, em certo sentido, dúplice, pois implicou, até a Segunda Guerra Mundial, um afastamento da Europa e um intervencionismo na América Latina.
O que ocorre, todavia, é que a expansão das fronteiras sempre foi vista como condição para segurança e prosperidade da república: assim é que se explica o contínuo crescimento territorial, passando de uma estreita faixa de terra no Leste da América do Norte para um país de dimensões continentais, em pouco mais de cem anos2 2 O messianismo da terra da liberdade, ou da terra prometida, teve sua participação com a doutrina do "destino manifesto" (isto é, a conquista das terras a Oeste, mesmo com o extermínio dos índios, era a manifestação do destino pré-determinado dos norte-americanos). e, além disso, para um país imperial, com a obtenção das ilhas Filipinas após a vitória sobre a Espanha na guerra de independência de Cuba, em 1898.
A expansão das fronteiras tem duas conseqüências: por um lado, significa que as relações comerciais devem expandir-se continuamente, atingindo países cada vez mais distantes em fins do século XIX, a política das "portas abertas" obrigou a China a aceitar um acordo comercial com os Estados Unidos. Por outro lado, a América Latina, especialmente a América Central, é vista como parte do Novo Mundo e área importante para a segurança nacional estadunidense.
De modo geral, considera-se que o século XIX caracterizou-se, apesar de alguns conflitos mais ou menos episódicos, por uma tranqüilidade generalizada na Europa; sob o signo do liberalismo econômico mantido pela Inglaterra e sua armada, a economia prosperava e os Estados Unidos mantinham-se "isolacionistas". A partir do momento em que a segurança do sistema internacional foi ameaçada, os Estados Unidos passaram à ação: esse o sentido das intervenções na América Central; a participação na Primeira Guerra Mundial em 1917, e, novamente, em 1942, na Segunda Guerra Mundial.
A autora indica muito acertadamente que o período que se inicia em 1917 marca uma inflexão na conduta estadunidense, pois passa-se da reclusão na América para a participação no conflito europeu. A Primeira Guerra foi o primeiro conflito extra-americano para os Estados Unidos e sendo já a maior economia industrial do planeta sua participação foi fundamental para que a França e a Inglaterra vencessem a Alemanha e a Áustria-Hungria. Todavia, apesar dos esforços do presidente Woodrow Wilson, os norte-americanos recusaram-se a converter seus recursos econômicos e o prestígio obtido durante o conflito em poder político: mais precisamente, recusaram-se a ser os garantes da nova ordem internacional e da instituição que a representava, a Liga das Nações. Apesar de fracassado, a tentativa idealista de W. Wilson consistiu no primeiro esforço de os Estados Unidos serem os artífices da ordem internacional ordem essa considerada tão importante para seus assuntos domésticos.
Essa recusa não se repetiu 25 anos depois: após a Segunda Guerra, os Estados Unidos assumiram plenamente o papel de artífices da ordem internacional, ainda que um pouco diferentemente dos projetos do então presidente Franklin D. Roosevelt.3 3 Roosevelt planejava que os Estados Unidos seriam os policiais do mundo, em colaboração com a Inglaterra, a China e a União Soviética, mas o que pudemos observar é que não apenas não dividiram a responsabilidade pela ordem internacional como também entraram em um processo de enfrentamento com o aliado da véspera, a União Soviética, constituindo a Guerra Fria. Em todo caso, as bases de uma ordem multilateralista e economicamente liberal foram lançadas, vigendo até os dias atuais.4 4 Como indicou a matéria "'Ativismo' de Bush é obra neoconservadora" ( Folha de São Paulo, 4 maio 2003), esse ativismo internacionalista, iniciado em 1917, de certa forma tem sido radicalizado pelos "neoconservadores" que assessoram George W. Bush. Os valores da democracia liberal foram inicialmente apresentados como exemplares (1786-1917), depois passaram a ser implementados com o apoio norte-americano (1917-1999) e agora são impostos, por via das armas se necessário (1999 até o presente).
Após 1947, a dinâmica política mundial levou os Estados Unidos a um conflito político e "ideológico" com a União Soviética, em que o recurso às armas, depois de 1949, viu-se irrealizável em virtude do novo armamento atômico disponível. É interessante notar que, se a teoria realista clássica explicaria esse conflito simplesmente como a oposição entre os dois grandes atores do sistema, foram as características filosóficas de cada um desses atores que os levaram à disputa de idéias e de modelos de sociedade: afinal, tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinham ambições universalistas em suas maneiras de ver o mundo, percebendo-se cada qual como únicos e destinados a reformar as sociedades e instituir novos seres humanos.
Na segunda parte do livro a autora apresenta os avanços e recuos da potência durante a Guerra Fria o que, apesar da evidente importância política e histórica, não nos interessa diretamente. Importa notar que o período de 1989 a 1991 assistiu ao súbito colapso do bloco comunista europeu, após uma década de retomada dos esforços anticomunistas pelos Estados Unidos. Embora se esforçassem para acabar com o grande rival, os norte-americanos foram pegos de surpresa pelos acontecimentos assim como o resto do mundo, diga-se de passagem , não neles interferindo e ficando em compasso de espera.
O fim da Guerra Fria trouxe dois resultados para os Estados Unidos: em um primeiro momento, proclamou-se uma nova era para o mundo, de paz, cooperação e relações amistosas entre todas as nações: são o "fim da história", de Francis Fukuyama, e a "Nova ordem mundial", de George Bush, pai, de que a aliança internacional contra a agressão iraquiana ao Cuaite, organizada pelos Estados Unidos com o ativo apoio da Organização da Nações Unidas, foi o símbolo maior.
As duas primeiras partes do livro seguem o percurso acima indicado. Por si só ele tem grande valor, pois apresenta duas séries de questões ao mesmo tempo: refaz o histórico dos Estados Unidos e de sua política externa e indica as fontes que orientam essa política externa. A terceira parte, dedicada aos anos posteriores ao fim da Guerra Fria, tem um valor todo especial ao reconstituir os debates travados no interior dos Estados Unidos a respeito de seu futuro e de sua conduta no sistema internacional (e, portanto, sobre o futuro do próprio sistema internacional).
Esse é o segundo resultado da Guerra Fria, ou melhor, sua segunda, e de maior alcance, conseqüência: os longos debates a respeito das novas configurações de poder mundial, a par da nova ordem internacional. Em um extenso capítulo (cinqüenta páginas), a autora apresenta as alternativas que os estadunidenses propuseram a si mesmos: neo-isolacionismo, choque de civilizações, mundo "unimultipolar", engajamento seletivo além, é claro, das polêmicas a respeito do declínio da superpotência, muito em voga no início dos anos de 1990.
Deve-se notar que o livro é um relato da política externa estadunidense, baseada em uma enorme bibliografia, em que se apresentam as ações concretas da grande potência ocidental, bem como os debates e as perspectivas que nortearam (e norteiam), em cada momento, sua conduta. Dessa forma, temos um painel sintético que nos permite compreender de onde vieram e para onde vão os Estados Unidos. Todavia, como dissemos, o livro é fundamentalmente um relato e é aí que reside seu mérito e também sua fraqueza.
No que a obra propõe-se a realizar ela é bastante bem-sucedida. Em contrapartida, há algumas deficiências não resolvidas; a maior parte resultado de questões que a autora não se propôs explicitamente, mas que, nem por isso, deixam de influenciar o resultado final, abalando o conjunto da obra.
A falta de uma elaboração teórica rigorosa talvez possa ser a síntese desses problemas.5 5 Além de uma série de problemas menores, o livro apresenta alguns erros historiográficos, entre os quais destacamos os seguintes: na página 102, a autora afirma que o Partido Nacional-Socialista ascendeu ao poder por meio de golpe, em 1930 o que é errado, pois foi por via eleitoral e com o apoio dos comunistas alemães; na página 104, a autora afirma que a União Soviética foi criada em 1922 por Stálin na verdade, foi por Lênin, sendo que Stálin assumiu o poder apenas após a morte do fundador da URSS em 1924; na página 105, a autora afirma que o Welfare State foi criado em 1933 por Franklin D. Roosevelt: de fato, em 1933 Roosevelt criou o New Deal, a versão norte-americana do Estado de Bem-Estar Social; o Welfare State foi uma invenção de Bismarck, nos anos de 1870, para impedir os conflitos de classe surgidos em virtude da industrialização da recém-criada Alemanha. Ao longo de toda a obra expressões como "hegemonia", "sistema", "poder" são utilizadas, sem que se defina, precisamente, a que se referem. Pensemos apenas no "poder", conceito fundamental da ciência política, segundo a expressão de Bertrand Russell: quantas páginas já não se escreveu, buscando uma definição clara e rigorosa do fenômeno? Os problemas relativos ao sistema ou aos agentes; os chamados métodos posicional, reputacional e relacional; a influência, a autoridade, a liderança, a preponderância são todas questões apenas inferidas no volume e que fazem falta. Da mesma forma o "sistema internacional": faz-se referência à análise estruturalista de K. Waltz ou à elaboração de Hedley Bull, que opõe o "sistema internacional" à "sociedade internacional"? Ou, ainda, à elaboração mais direta de Aron, que procurava uma análise caso a caso, com uma classificação simples de sistemas (isto é, de relações que pudessem resultar em guerra) uni, bi ou multipolares? Em alguns momentos se faz referência aos recursos "estrutural, situacional e institucional": novamente aí não há qualquer definição do que sejam esses tipos de recursos, cujas relações lógicas e teóricas têm de ser, quando muito, inferidas pelos leitores.
Vigezzi (2000), ao comemorar a obra do historiador das relações internacionais Jean-Baptiste Duroselle, criticou duramente a disputa acadêmica entre os "historiadores" e os "teóricos" das relações internacionais, em que uns e outros dividem, mais ou menos arbitrariamente, o campo de estudos em um conhecimento historiográfico e um conhecimento sistemático, aquele preparatório a este, e este necessitando daquele para ter sentido. Ora, como se sabe, não é possível separar radicalmente as duas tarefas, ainda que entre elas caiba uma hierarquia.
A obra de Pecequilo infelizmente recai nesse equívoco, mesmo que inadvertidamente: talvez em virtude do seu objetivo "apenas" traçar o percurso da política externa norte-americana , talvez devido ao alentado do texto são quase quatrocentas páginas de leitura densa , o fato é que não houve espaço para uma efetiva ciência política, ao contrário da história política. Evidentemente, esse problema não desmerece a obra nem a invalida, pois a questão é muito mais relativa à possibilidade de descrever com exatidão alguns fenômenos por meio de conceitos mais elaborados, que permitam explicar, subseqüentemente, os fenômenos em apreço.
Deve-se ter em mente que quem buscar na obra juízos peremptórios sobre os Estados Unidos ou sobre sua política externa ficará, necessariamente, desapontado: não é esse o objetivo da autora. Por outro lado, a leitura do livro é altamente instrutiva, revelando especialmente na última parte as sutilezas e os problemas da elaboração da política externa norte-americana. Se por um lado o livro peca por falta de "ciência política", por outro, é fora de dúvida que o leitor que seguir todos os capítulos terá um ganho em sua "inteligibilidade" sobre os Estados Unidos, tendo elementos para julgar seus (des)caminhos.
Notas
Bibliografia
ARON, Raymond. (1991), "Relato, análise, interpretação, explicação: crítica de alguns problemas do conhecimento histórico", in _________, Estudos sociológicos, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil.
MADEIRA, Angélica. (2002), "Novas narrativas sobre os Estados Unidos" (resenha do livro Americanos: representações da identidade nacional no Brasil e nos EUA, de Lúcia Lippi Oliveira, Belo Horizonte, Editora da UFMG). Revista Sociedade e Estado, XV (2): 388-398, jun.-dez., Rio de Janeiro.
VIGEZZI, Bruno. (2000), "'Teóricos' e 'historiadores' das relações internacionais", in Jean-Baptiste Duroselle, Todo império perecerá: teoria das relações internacionais, Brasília, Editora da UnB/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
GUSTAVO BISCAIA DE LACERDA é mestre em Sociologia Política na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e bolsista do CNPq.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Maio 2007 -
Data do Fascículo
Fev 2004