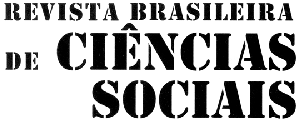RESENHAS
Deus na fronteira
Oscar Calavia Sáez
Paula MONTERO (org.). Deus na aldeia: missionários, índios e mediação cultural. São Paulo, Globo, 2006. 583 páginas.
Um primeiro resumo é fácil: o pêndulo foi de um extremo a outro do seu trajeto e agora passa com mais vagar pelo centro da curva. Não faz muito tempo que a antropologia entendia as missões como não mais que uma frente ideológica destruidora da cultura e da socialidade indígena. Contra esse pessimismo levantou-se, mais recentemente, a noção das sociedades indígenas como máquinas de deglutir os credos, de anulá-los à força de inconstância ou de reduzi-los a uma estrutura indígena permanente, mal oculta sob os véus da nova religião. Agora, enfim, a atenção se volta para a positividade da missão: importam menos as totalidades que se encontram e mais a ação de um mediador que retira códigos de uma para inseri-los nas teias da outra; que quando espera reduzir está de fato a produzir algo novo. É mais provável, assim, que os missionários apareçam em sua concretude e variedade, e que o protagonismo dos índios se reconheça não na luta pela identidade, mas nas artes da alteração.
Esse resumo, porém, diz pouco sobre o livro organizado por Paula Montero, fruto de vários anos de pesquisas e debates coordenados, nos quais tive uma vez a honra de participar. A coletânea reúne onze autores, com pontos de partida muito diferentes: o estudo de conjuntos etnológicos regionais em que diversas modalidades de cristianismo colaboram para articular as diferenças entre os grupos; as reflexões sobre a emergência étnica com seu correspondente resgate cultural; os estudos sobre as relações entre estrutura e história; e, por fim, a revisão antropológica da antiga tupinologia. Mas o tópico focal do livro não é a história nem a etnologia indígenas: ele se encontra talvez na interseção entre os conceitos de religião e cultura, e no espelhamento entre os seus agentes, o missionário e o antropólogo. A missão seria a protoforma da mediação cultural, e, segundo Montero, examiná-la é uma boa oportunidade para repensar o que a antropologia pode dizer a respeito de todas essas globalizações, hibridações, transobjetos e transsujeitos que povoam o discurso pós-colonial.
Que o missionário esteja para a religião como o antropólogo está para a cultura já é uma proposta de peso. Pode significar que a missão não é só a conseqüência de uma religião universalista, mas, em certo sentido, o limiar em que ela se constitui. A missão cria a religião no mesmo sentido em que o ato etnográfico inventa a cultura. Não sei se a mediação muda de face à luz da performance missionária, mas provavelmente a religião poderia ser redefinida com vantagem ex partibus. Religião como tradução, de Cristina Pompa, uma das autoras deste livro, poderia muito bem ser o lema dessa redefinição.
Mas isso seria outro livro. O tema em questão, como consta do seu subtítulo, aponta para a mediação, e o seu índice traça um continuum que vai do ensaio teórico às descrições etnográficas, e dos antigos tupi aos povos atuais do norte da Amazônia, passando por artigos em que se discute instituições como o Conselho Indigenista Missionário Cimi e a Associação Internacional de Lingüística SIL. Penso que uma leitura inversa do livro seria mais proveitosa. Começando pelas etnografias, o livro aparece mais claramente como um rico estudo de caso, ao qual os capítulos teóricos iniciais (dos autores Montero, Gasbarro e Pompa) acrescentam um epílogo aberto e uma agenda reflexiva. Há uma certa distância entre a substância do livro e os seus desígnios teóricos. Como pode se ler num fragmento de V.S. Naipaul citado por Gasbarro, "o empreendimento consiste num conjunto de histórias cujos nós intrincados carregam o seu sentido; o leitor não deve esperar conclusões". Ou pelo menos não deve por enquanto. Suspeito que, apesar de sua variedade, as missões entre os ameríndios o universo em que se inscreve o campo aqui tratado formam um conjunto peculiar, marcado pelo sucesso dos colonizadores, pela redução dos autóctones a minorias subalternas mais ou menos atomizadas e por ideologias nacionais que celebram a hibridação de três raças, culturas ou línguas. Algumas dessas características faltam em outras regiões do continente, como os Andes, ou Mesoamérica. Todas elas faltam na África e na Ásia, onde os missionários têm despendido esforços não menos notáveis, para não falar do mundo muçulmano, palco do seu fracasso quase absoluto. Há no livro referências, porém pouco desenvolvidas, ao valor crítico que a comparação entre as missões asiáticas e americanas tinha para os próprios jesuítas do século XVII, e talvez esse valor crítico deveria se recuperar agora, quando a globalização vista desde Guatemala ou Madagascar só se completa se colocada lado a lado com a globalização vista desde a China. Nesse sentido, há no livro um certo desequilíbrio entre o universo católico e o protestante, que só aparece como um dos agentes em jogo nos artigos sobre o cristianismo no Amapá (dos autores Almeida e Capiberibe). Não creio que uma ampliação do quadro viria a multiplicar os objetos. Talvez, pelo contrário, servisse para transformar os tipos em posições dentro de um campo finito, atravessando a variedade de credos e práticas mediados. Uma que outra vez poderiam ser muitas mais os autores assinalam coincidências entre as posturas mediadoras adotadas por agentes tão distantes quanto jesuítas e evangélicos transculturais, fundamentalistas bíblicos e teólogos da inculturação. Os mediadores estão condenados a serem semelhantes.
A tradução é quiçá o conceito mais recorrente no livro, seja no sentido mais técnico (especialmente nos capítulos de Agnolin e Almeida), seja em usos mais metafóricos, sem que haja necessidade de uma fronteira precisa entre um e outros. Em primeiro lugar, é claro, a tradução aparece como um conjunto de instrumentos indispensáveis para penetrar, percorrer, reduzir esse paganismo diverso: a gramatização e a normalização das línguas indígenas; a seleção de perífrases ou de termos vernáculos que devem corresponder às noções cristãs; a construção de termos híbridos, ou, ao contrário, os empréstimos compulsórios de palavras em latim ou português que fecham esse sistema de aviamento espiritual. Mas a tradução (cf. o capítulo de Pompa) só é eficiente porque é (às vezes, ao menos) de mão dupla, e de ambos lados da fronteira há tradutores empenhados em convalidar os equívocos: é esse o acordo que serve para os cristãos identificarem santidades entre os tupis e os karaíbas, que interpreta os missionários como pajés e os pajés como fitoterapeutas. Traduções eficazes porque imperfeitas sob a redução há produção.
Tanto quanto os recursos da tradução interessam os seus limites. Raramente foram os missionários tradutores ingênuos, e (com uma freqüência proporcional à sua capacidade e à sua honestidade) volta e meia chegaram à suspeita de que a tradução era impossível ou indesejável. Nesses casos, é possível que se abandone a semântica em prol da pragmática. Os índios acabarão sendo cristãos à força de agir como cristãos, como esperava Nóbrega. Mas pode haver também uma aversão explícita a essa positividade da tradução que poderia deturpar a verdade cristã ou a verdade indígena. Afinal, para que tanta gramática se Deus sabe falar todas as línguas? Como aponta Almeida, fundamentalistas protestantes e teólogos da inculturação compartilham a confiança na universalidade dos sinais de Deus, embora depois devam optar entre indicá-los (o mais comum entre os evangélicos) ou calar a seu respeito (o que pretende o setor extremo da inculturação). O tradutor "hipocondríaco" é talvez o personagem mais interessante da história da missão: pode dar lugar a uma preocupação obsessiva com a lingüística (uma marca agora quase exclusiva dos evangélicos, muitas vezes mal entendida como disfarce científico), ou postular uma espécie de antimissão, que prefira as fronteiras às pontes, como veremos no final desta resenha.
A tradução não se encontra só na fronteira com o outro exótico. Não é por acaso que cada vez mais as missões, tanto do lado evangélico como do lado católico, tentam superar as diferenças entre denominações ou entre ordens, para chegar a um certo mínimo denominador comum, e criam organizações genéricas como o Cimi e a Missão Novas Tribos do Brasil MNTB. À tradução distante precede, assim, uma tradução próxima, e pode ser, como já dissemos, que para inventar a religião indígena seja necessário também inventar o cristianismo. O cristianismo da missão costuma ser muito diferente do cristianismo dos cristãos, e é compreensível que já no século XIX, muito depois da abertura das fronteiras missionais entre os pagãos, as missões evangelizadoras ou civilizadoras virassem suas armas em direção aos cristãos velhos europeus ou americanos , que o espelho indígena permitia perceber como pagãos domésticos, com seus carnavais e suas superstições. A romanização deve tanto às experiências na selva como à própria Roma, e é interessante notar que a missão católica culturalista de que fala Arruti tenha surgido no Nordeste brasileiro no seio de uma tradição de missões romanizadoras: a ida e a volta sucedem-se.
O estudo das missões tem sido em geral pouco simétrico: focalizava os índios, deixando o universo cristão a salvo de qualquer observação. É salutar por isso a presença de artigos como o de Arruti, que descreve uma série de conversões dos missionários, não menos notáveis que as dos índios que eles queriam converter. Ou do artigo de Rufino, que descarta a falsa simplicidade com que uma entidade como o Cimi tem sido entendida, questionando especialmente o modo pelo qual ela tem reunido dois programas tão diversos como a teologia da libertação e a da inculturação. Por fim, e para não dar aos desígnios do Vaticano II, de Puebla e de Medellín, mais importância de que já possuem, vale lembrar que a política latino-americana da Igreja tem se alimentado substancialmente das condições locais, e que, nesse sentido, as novidades de uma instituição tão antiga nunca são tão novas assim. O artigo de Amoroso, por exemplo, mostra a capacidade metamórfica dos capuchinhos, que encarnam do modo mais cru a missão como instrumento explícito do Império (literalmente: trata-se das fronteiras interiores da época de Dom Pedro II), mas que não deixam de adotar, quando essa aliança é rompida, um discurso e uma prática opostos, não tão distantes dos que identificariam depois a igreja dos pobres. Com a certeira intuição de que o léxico e as instituições do cristianismo podem ser mais impenetráveis para a maior parte de seus leitores que o mapa de uma aldeia bororo, o livro oferece um interessante glossário, em que podem se conferir os significados de alguns concílios, a diferença entre um bispo e um arcebispo ou entre protestantismo histórico e pentecostalismo. Os quarenta e três verbetes poderiam, com proveito, ter sido muitos mais.
Ninguém estranhará que a cultura apareça com tanta freqüência no centro das preocupações (cf. especialmente os capítulos de Arruti, Silva e Araújo). O resgate cultural como palavra de ordem é essencial no indigenismo multiculturalista Sahlins já estabelecera que a cultura interessa hoje muito mais aos nativos (sejam índios ou missionários, no caso) do que aos antropólogos. Mas talvez tudo isso seja, para os fins deste livro, anedótico. Não há mais muito que descobrir nesse ecumenismo que deixa espaço dentro das missas (cf. o artigo de Araújo) para manifestações mais ou menos folclorizadas do paganismo, nessa mudança de hábito que santifica algumas práticas perseguidas trinta anos atrás, e hoje politicamente rendosas. Enfim: enquanto os antropólogos passam a refletir sobre evangelizações e teologias, os missionários reeditam e divulgam etnografias feitas cinqüenta ou cem anos atrás (idem). Nessa procura de testemunhos sobre o passado indígena, há algo mais do que o resgate ou a invenção de tradições. Há, no mínimo, a fé que os missionários depositam nessa tradição, uma fé que os próprios índios talvez nunca tiveram. Como nota Rufino, os missionários trata-se aqui do Cimi sentem a necessidade de injetar conteúdo propriamente religioso numa prática que tinha se limitado à conversão do índio em cidadão (ou, pouco tempo atrás, em súdito). Mas se encontram com que a religião, transformada em código mediador, não oferece mais esses conteúdos. De tão divulgado, Deus dissolveu-se: é improvável que o missionário assuma essa fórmula, mas algo assim pode ser suspeito nessa renúncia a descrever o que seria a inculturação, a criar um novo paradigma evangelizador por meio da interpretação das culturas (cf. o capítulo de Rufino). A busca da cultura equivale à re-instauração de uma fronteira em que talvez Deus tenha se escondido; cabe espreitá-la em silêncio, já que o diálogo tem sido secularmente o nome dado ao esbulho material e espiritual. Se na arena global a religião parece definir subconjuntos dentro de uma cultura cada vez mais comum, na aldeia Deus, talvez queira se manifestar especificamente não nos termos dessa religião pacientemente universalizada, mas de uma cultura que ficou como única depositária das diferenças. O binômio religião/cultura talvez seja a bifurcação que a diferença usa para se renovar, escapando dos mediadores.
OSCAR CALAVIA SÁEZ é professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social na Universidade Federal de Santa Catarina (E-mail: occs@uol.com.br).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
11 Jan 2008 -
Data do Fascículo
Out 2007