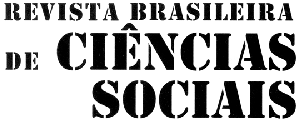ARTIGOS
No caminho de se tornar o chavão proverbial de uma clivagem histórica, a metonímia-chave do fim do século XX, a queda do muro de Berlim incitou uma avalanche de esforços analíticos e descritivos. Historiadores, jornalistas, políticos, diplomatas, politólogos, economistas, especialistas das mais diversas cores se debruçaram sobre as transições políticas, os movimentos sociais, os temas de segurança, a resistência e a mobilização popular e as relações internacionais, cada um deles com seus métodos, seus referenciais comparativos e sua linguagem disciplinar - dificilmente haverá uma área do conhecimento que não tenha encontrado razões múltiplas para definir 1989 como um ponto de virada decisivo. Se é um truísmo dizer que qualquer análise histórica estará sujeita às circunstâncias profissionais, geográficas ou disciplinares de seu autor, não será menos verdade dizer também que, ao tratar dessa clivagem temporal específica, no mais das vezes, a miríade de interlocutores e abordagens não foi capaz de ofuscar a impressão de que todos diziam mais ou menos a mesma coisa sob roupagens diferentes.
As transformações políticas ocorridas antes e depois da queda do muro acabaram por criar a sensação amplamente compartilhada de que as bases do mundo moderno passaram por um processo de reacomodação. Mas o potencial de consenso em torno deste diagnóstico cessa por aí. Se o que o definiu foi um esgotamento, um esgarçamento ou uma completa dissolução das categorias que se dispunham a descrevê-lo, trata-se de algo sumamente controverso. Tampouco há muito acordo sobre se, após os desdobramentos desse processo, as tentativas de restaurar a normalidade do mundo remetem ao passado sob a forma de negação, superação, ruptura ou continuidade. Talvez por isso mesmo tal percepção tenha acabado por agregar o prefixo pós a uma série de modelos antes descritivos que interpretativos de distintas esferas da vida social. Se na crítica cultural ganhava força a ideia abrangente de uma pós-modernidade, no âmbito das ciências sociais o que passou a importar foi a percepção e a avaliação dos traços específicos que assumiu aquela reacomodação em cada esfera, até o limite do paroxismo em que para cada estágio tardio de um fenômeno social poderia corresponder a aquisição do prefixo pós.
Foi um período em que um conjunto de transformações radicais nas formas de autoconfiguração de grupos sociais, bem como nas formas de manifestação de suas demandas políticas, estabeleceu um novo panorama de questões para as ciências sociais. A dissolução simbólica e o desmonte institucional de um conjunto de entidades mais visíveis prenunciaram o fenômeno, mas de certa forma ele evoluiu de modo mais ou menos paralelo num conjunto imensamente mais amplo de casos. Assim, alguns processos marcantes de instabilização política e homogeneização social violenta na África, a convergência institucional das comunidades políticas europeias ou a desagregação súbita da União Soviética podem ter sido assumidos como marcas notórias de uma passagem histórica, mas os processos que sustentam a discussão têm uma evolução mais episódica e controversa, dados a avanços repentinos e retrocessos surpreendentes ao longo de sua lenta consolidação. Portanto, ainda que os traços distintivos desses fenômenos sejam de imediato reconhecidos, suas formas de expressão apresentam nuances cujo discernimento requer considerável esforço analítico e comparativo.
O fim dos últimos resquícios institucionais de ordens coloniais, o ocaso de uma série de entidades políticas baseadas na franca coerção, o início de novos e consistentes movimentos migratórios, a criação de grandes blocos políticos e econômicos que procuram superar fronteiras nacionais e o fim da Guerra Fria foram interpretados como processos e eventos indicativos de uma nova ordem, na medida em que importantes rupturas políticas obrigaram a refletir sobre uma dinâmica que parecia encontrar na democracia formal um modelo inevitável a ser estabelecido em todos os países e territórios do mundo. Para todos aqueles, ao menos, para os quais não se reivindicasse algum tipo de estatuto excepcional ou alguma versão da ideia de falência do Estado.
Em busca de novas categorias e nominações, deparamo-nos com esse fluxo pós-nominativo: pós-colonialismo, pós-socialismo e pós-nacionalismo passaram a ser, concomitantemente, termos com a pretensão de descrever realidades, linhas de pensamento, classificar artefatos e abrigar debates, conceitos e escolas intelectuais. Mas, sobretudo, passaram a constituir narrativas que pretendiam sistematizar uma crítica aos parâmetros que, até então, balizaram as reflexões em torno do mundo moderno.
Não foram apenas o socialismo real e o colonialismo que ruíram com seus edifícios políticos. Há também outra imensa ruína em curso. Apesar do relevo que ganharam as análises que viam nos conflitos recentes a ação de novos nacionalismos, desabam um pouco em toda parte as nações modernas. O senso comum havia-nos habituado a interpretar a ideia de nação como uma forma não apenas legítima, mas necessária de organização do Estado: a cada unidade política deveria por força corresponder um conjunto de traços que a definissem simultaneamente como uma nação; as instituições políticas deveriam corresponder a um conjunto de elementos da ordem da cultura, definidos pela língua, religião, costumes e, evidentemente, por uma percepção minimamente compartilhada de tempo e espaço.
É verdade que a constituição dos Estados nacionais na Europa ocidental e em outras regiões deveu-se a um processo histórico específico de alocação de papéis sociais e de concentração de poder político, econômico e simbólico. Mas se antes era preciso que discursos antinacionais militantes nos chamassem a atenção para a artificialidade da configuração nacional, hoje basta dar ouvidos aos mais sóbrios diagnósticos teóricos para assegurar-nos de que a nação está longe de ser uma decorrência necessária da história ou de fazer parte da essência de uma determinada coletividade política: em lugar da impugnação, a caducidade; em lugar do confronto, a sucessão; em lugar do anti, o pós.
Com o esgotamento de projetos abrangentes e totalizantes, que inseriam distintos grupos sociais numa malha de sentido com atribuições prévias, esvazia-se também o papel simbólico do Estado como terreno comum das demandas e aspirações sociais. Reacomodam-se e reestruturam-se assim os mecanismos de interação e acordo social, ao mesmo tempo em que se redimensionam as mediações entre cultura e política.
Mesmo que todas essas suspensões possam parecer convergentes e possam apresentar dimensões e conexões globais, a determinação das condições de viabilidade para a superação desses parâmetros se realiza em manifestações bem localizadas. E o reconhecimento de transformações efetivas depende do acompanhamento minucioso dessas manifestações. Cabe investigar sobre as formas particulares da suspensão em cada esfera. Mas se os padrões de conflito passaram a desenvolver-se em torno de novas linhas, é preciso também reavaliar a eficácia dos instrumentos analíticos disponíveis para perceber e avaliar essas linhas emergentes.
Não se trata de invocar outra vez a força da contingência e do entendimento provisório em detrimento das abstratas construções normativas, mas tão somente de assumir a instabilidade de uma situação complexa. É, portanto, incontornável que seja em contraposição aos sucessos cotidianos dessa improvável e inatingível normalidade que as sociedades contemporâneas, ao padecer da privação de bases simbólicas para sua unidade, coloquem em questão as ideias derivadas dos grandes projetos nacionais, imperiais ou utópicos. Na ausência de um ideal abrangente capaz de transcender os projetos parciais, serão estes que doravante ocuparão o terreno simbólico. Não faz sentido afinal prosseguir com categorias abrangentes enquanto não houver transparência na concepção de ação para indivíduo, nação e Estado. Até então, somente um ideal de mútua acomodação é possível. Mas para tanto, as questões decorrentes da superação dos discursos nacionais, coloniais e utópicos fazem com que a ideia de democratização permaneça sendo crucial.
Assim, o pós emerge como suspensão, como crítica, ou como receita de aperfeiçoamento com base num modelo, mas também como a busca de uma linguagem comum para o tratamento de um conjunto novo de problemas. Corresponde à busca de uma medida de convergência entre análises em campos distintos e de novos instrumentos descritivos da pluralidade que emerge como elemento primário de preocupação analítica, superando os grandes quadros descritivos que eram propostos anteriormente.
Nesse âmbito, são as aspirações democráticas, tanto como padrão de acomodação e aperfeiçoamento institucional quanto como parâmetro de avaliação de demandas políticas e sociais, que passam a constituir o horizonte comum de todas as carências. A democracia não é neste cenário outra coisa senão uma suspensão duradoura de todas as ordenações preestabelecidas. Com ela, o estabelecimento, sempre contingente, de cada ordenação é obtido sob o crivo do entendimento, o que acarreta que seja inafastável assumir os riscos implicados por uma espécie de ambivalência estrutural. Nessa discussão, um papel decisivo das ciências sociais seria assegurar que as ambivalências não sejam passadas a ferro, mas que seja possível abrir o espaço que elas precisam para se desdobrarem por inteiro.
A abordagem aprofundada dos fatores que condicionam a experiência política oferece ganhos críticos consideráveis, mas seu sentido analítico mais amplo e de maior fôlego só pode ser encontrado no confronto com a evolução de outras categorias. Talvez, no fim das contas, o que de mais interessante possa haver na era dos pós-ismos seja uma abertura maior por parte de todas as correntes analíticas, interpretativas e historiográficas em direção umas às outras, talvez a geração de um amplo espaço de comutação, reciprocidade e entendimento, talvez a constituição de uma extensa área comum propícia ao diálogo, por rarefeita e incorpórea que seja, ou, talvez ainda, com toda a polissemia, com toda a indeterminação e com todas as ambiguidades sobrepostas, mas sem abrir mão da crítica aguda que lhes cabe aplicar, o que a democracia pode nos oferecer seja pouco mais do que só mesmo uma oportunidade para continuar a conversar sobre a própria democracia.
A história do etnocentrismo discursivo no século XX não é a história da consolidação de um modelo estático, não corresponde ao modelo da construção do isolamento de um centro em relação à sua periferia. Ainda estamos confrontados, hoje, como sempre estivemos, a um modelo dinâmico de expansão e conquista, incorporação e apaziguamento, num longo processo pontuado por embates ferrenhos em torno do direcionamento dos recursos materiais e simbólicos produzidos, consumidos e desperdiçados nesse amplo circuito de trocas que faz convergir o mundo moderno.
Se quisermos acreditar na permanência das distâncias, se aceitarmos nos esconder atrás de fronteiras, veremos a história acontecer em algum outro lugar. As coisas e as pessoas continuarão a fluir, bem como tudo aquilo que as condiciona reciprocamente. E seu fluxo seguirá gerando e instalando poderes ao longo de seus canais, de suas linhas de transmissão, mas não num centro, que pulse vida nesse imenso fluxo. Todo ele pulsa. Os poderes políticos e seus mecanismos de violência política precisam unicamente assegurar que o fluxo continue, que corpos estranhos não impeçam a circulação. Distintos poderes instalarão e eliminarão distintos bloqueios conforme o direcionamento do fluxo que seja mais adequado à sua sustentação. É precisamente onde é mais incerto que o poder é mais incisivo.
Os poderes políticos ainda operam dicotomicamente, é verdade: dividir continua a servir como mecanismo para imperar. Mas esses mecanismos não operam em todas as partes e em todos os momentos a partir das mesmas dicotomias. Mais do que nas fronteiras da incompreensão, é nas fronteiras do entendimento que a força é exercida em sua variante mais desabrida: os conflitos abertos não ocorrem tanto entre coletividades mutuamente excludentes por conta da intradutibilidade de seus signos, mas entre grupos que disputam o controle dos mecanismos expressivos de signos que compartilham.
Portanto, seria a gênese imperfeita ou inescapavelmente localizada das categorias algo suficiente para comprometer sua validade? O modo como elas surgiram seria capaz de impugnar sua eficácia ou aceitação, ou mesmo de limitar seus potenciais de eficácia ou de aceitação a certos terrenos? Estará a democracia tão indissoluvelmente atada a um alinhamento genealógico ou morfológico com um modelo convencionalista de ocidente? Ou estará ela atada ao desenvolvimento institucional das antigas potências coloniais europeias, que perderam ou tiraram pelo menos tantas vidas no confronto umas com as outras quantas na implementação de seus projetos coloniais na África e na Ásia? Talvez a ideia das civilizações e das culturas envolvidas num embate imemorial sirva para alguma coisa, mas por certo não nos ajudará a compreender o papel que o exercício da coerção desempenha na configuração das sociedades plurais: os conflitos entre os que se aceitavam equivalentes sempre demandaram mais recursos do que os conflitos entre as propaladas grandes unidades culturais (que, no fim das contas, jamais corresponderam a cultura específica alguma).
Para a compreensão desses conflitos, não ajuda muito descrever um centro que se expande sobre o terreno aberto de uma periferia que, de um jeito ou de outro, já gravitaria em torno desse centro. Não devemos recair no simplismo do modelo que vê poderes homogêneos marchando sobre um espaço de inércia, povoado por um amontoado de afetados pelo poder, que seriam eles também homogêneos, pelo menos até o momento em que o poder se instalasse. Somos chamados ao confronto com a evidência inescapável de que a interpenetração, a impureza, a contaminação recíproca, a mistura são nosso ponto de partida, onde quer que decidamos colocá-lo. Afinal, a mistura nunca combina polos anteriormente puros ou invariavelmente antagônicos: a mistura só acontece entre coisas que já eram misturadas.
Nosso desafio parece ser a investigação dos componentes da impureza, dos episódios da contaminação, da localização dos conflitos, da oscilação contínua que define as identidades. O registro das identidades descobertas sempre em contraste com outras corresponde também ao registro da temática da violência política que move nossa discussão de hoje. Não compartilhamos a busca por um modelo puro de democracia, mas por modelos viáveis de democracia; não porque haja limites formais para tal busca, e sim por conta do compromisso de todos nós com o envolvimento de todos os afetados no processo de governarem sempre mais a si mesmos.
A democracia como um modelo em expansão pela coerção não se sustenta. O entendimento e a aceitação são condições necessárias para rotinizar os eventos de representação política e para viabilizar qualquer forma legítima de ação coletiva. Mas o entendimento não pode ser pré-moldado, precisa ser alcançado a cada momento histórico específico: se a democracia puder ser a solução duradoura para algum conflito, só o será na medida em que puder oferecer um procedimento efetivo de legitimação social. E todas as soluções de autonomia e apaziguamento efetivos serão soluções complexas e localizadas, conflituosas e precárias.
Seja como for que definamos o conteúdo dos conflitos no âmbito democrático, a luta pela diferença e pela igualdade, pelo reconhecimento e pela participação, pela autonomia e pela autodeterminação ocorre concretamente no âmbito do discurso, não apenas por meio dos movimentos sociais, mas inevitavelmente com o concurso deles, de movimentos sociais tão impuros e complexos como o discurso que veiculam, como a pluralidade de suas demandas, como a precária configuração de suas bases e como os instrumentos e as categorias que temos para abordá-los.
Não há disputa quanto ao haver mudado algo com a falência dos modelos utópicos, se não decretada, ao menos evidenciada com a queda do muro de Berlim. Nossas perguntas apontam antes para a possibilidade de compreender o estado pós-utópico das coisas. Nessa tarefa, só poderemos contar com discursos que sejam capazes de lidar com a diferença sem deixar de levar a sério as escolhas dos indivíduos e sua responsabilidade sobre elas, que possam se concentrar sobre as bases efetivas da autonomia sem expurgar os componentes da vida dos indivíduos que não confirmem, celebrem ou reproduzam alguma forma de identidade cultural. Seja como for, nenhuma forma de identidade política ou cultural jamais chegou a ser integral.
Mas não se trata tampouco de uma diferenciação simples entre organização e desorganização, entre ordem e desordem: a coerção infranacional e supranacional, a violência dissolvente de fronteiras é conhecida e reconhecida pelo menos há tanto tempo quanto a coerção que institui as fronteiras. No registro normativo, mesmo a expansão ótima dos mais amplos direitos e garantias ao mais amplo número de cidadãos não seria capaz de compensar as perdas em termos de coesão provocadas pelo fim das bases integrativas da solidariedade. Mas, por isso mesmo, um ideal normativo-institucional global de alinhamento, por mais cosmopolita que seja, não será capaz de substituir o escalonamento localizado dos níveis de solidariedade entre os indivíduos.
Do mesmo modo que nossas configurações nacionais jamais poderão ser vistas como amontoados de pessoas, o substrato social por trás dos ideais emergentes na sociedade mundial tampouco, nem que correspondam ao amontoado de todas as pessoas, num mundo cosmopolita subinstitucionalizado, ou orientado por programas de engenharia social que ocupem o espaço aberto pelo esgotamento dos experimentos políticos utópicos.
Algumas perguntas nos aproximam e nos interpelam a todos. Têm as reelaborações periféricas capacidade de alterar as configurações centrais? Se isso ocorre, ganhamos algo mantendo a metáfora espacial, indecisa entre o centro e o periferia? Se é isto o que se dá, dá-se por escolha nossa? Ou estaremos apenas gerindo a diferença, a desigualdade e a mistura para que os núcleos se mantenham fechados? Estaremos inseridos no círculo da manutenção das fronteiras ao mesmo tempo em que ecoamos a proclamação de sua constante abolição? Acredito que, em meio a várias oscilações teóricas e discursivas que marcaram o período de que tratamos, a melhor maneira de sair atrás das respostas é assumir que essas próprias oscilações são constitutivas das identidades e dos agentes, também no nosso próprio caso.
Antes de buscar respostas a essas questões, contudo, e antes de que possamos tratar seja da difusão do terrorismo como instância de ação política em meio ao recrudescimento de conflitos armados nas últimas décadas, seja do recurso à acusação de terrorismo nos casos mais diversos, é preciso distanciar-se dos imperativos metaéticos de uma política de segurança para a qual é imprescindível a postulação do Estado como instância única da ação internacionalmente relevante e admitir que a política democrática pode ser mais que uma forma específica de vida, assentada sobre a coesão e a irrevogabilidade de suas bases simbólicas.
As sociedades governadas por regimes repressivos costumam mostrar-se cindidas por conflitos internos muito mais pungentes do que aqueles que as opõem às democracias liberais. Foi mediante processos políticos de resistência a experimentos coloniais ou neocoloniais, especialmente no interior dos países árabes, que a experiência de obstrução e silenciamento da oposição gerou o germe da radicalização política. Os ganhos de visibilidade e apelo popular obtidos pelas vitórias militares das milícias organizadas em torno de uma forma exigente de discurso islamizante (seja no caso do Iêmen reunificado, da Somália, do sul das Filipinas, do Baluquistão paquistanês, da Caxemira indiana ou do oeste afegão) e pela experiência do triunfo através da ação de massas geraram uma exaltação que galvanizou toda uma geração de ativistas. Inspirados por ações táticas propagadas por veículos internacionais de imprensa e formados em processos políticos desenvolvidos no exterior de suas fronteiras nacionais, suas demandas principais e suas críticas mais contundentes dirigiam-se, contudo, aos limites e aos obstáculos à incorporação política das massas empobrecidas em seus países.
Cada um dos governos aberta ou veladamente antidemocráticos que compõem o cinturão de alinhamento aos Estados Unidos no mundo árabe, e também os que não o compõem, viram nesses homens e mulheres a capacidade e a disposição para questionar as bases ilegítimas ou inefetivas do poder político de seus Estados, e a partir de então instituíram, com acerba virulência, uma série de bloqueios e rechaços às suas tentativas de reintegração nas organizações políticas de seus respectivos países, o que acabou por produzir essa massa crítica de indivíduos incidentalmente desligados de seus contextos nacionais. Precisamente dessa massa crítica emergiram as predisposições e as motivações que os tornaram recrutas de primeira hora e os lançaram à ação noutras arenas.
Seja no quadro da política transatlântica, seja em meio ao precário equilíbrio estratégico na Ásia central e no Oriente Médio, seja ainda na exploração das fragilidades de umas e de outras alianças multilaterais, continua a ter um tortuoso caminho institucional e normativo a percorrer o governo ou a instituição que procure definir validamente o sentido de ilicitude e condenação do terrorismo ou de qualquer outra forma de ação coerciva autônoma na esfera internacional, implicada por exemplo nas retaliações militares que não encontram fundamento em mecanismos multilaterais (ou que seja baseada em justificativas ad hoc).
Se ações terroristas de grupos autônomos ou de organizações que proclamam representar populações que reivindicam autodeterminação política constituem uma ação condenável, seja em que termos for, e se afinal de contas é de uma ação desviante e injustificável que se trata, esse é um desvio de tal forma secular que seu sentido precisa ser explicado, e não expiado. Assumir a dimensão moral como a mais essencial neste tipo de análise é supor que existem razões a priori contra o exercício da violência física contra os seres humanos: a violência física, quanto mais dura e irrevogável, tanto mais necessita de legitimação que seja capaz de neutralizar suas contrarrazões. Não pode haver, contudo, um a priori abrangente nesse campo, pois há a obrigação - também moral - de resistir à coerção física. Mas, não é possível deixar de reconhecer que quem se decide pela violência assume uma pesada carga probatória: pela premência e irrevogabilidade das ações envolvidas, é implausível a suspensão do juízo a propósito da violência.
No mesmo sentido, a coalizão que condenar e proscrever todas as formas de terrorismo assumirá também seus ônus, pois precisará afinal criar o ambiente normativo estável que sustente a efetividade de sua demanda pelo respeito de todas as partes envolvidas em qualquer conflito armado a um programa comum de segurança e pacificação. Enfim, a linguagem da moral também é uma linguagem de dominação, pois o desprezo das normas morais - por terroristas ou por quaisquer outros - é apenas um reflexo da funcionalidade controversa que essas mesmas normas comandam. A busca de uma explicação é portanto decisiva, pois o risco de uma justificação inconsistente compromete ambos os lados, terroristas e aterrorizados.
As garantias institucionais civis e políticas não podem ser abandonadas ao longo do caminho em nome de um objetivo supremo de pacificação, pois a organização de demandas em formas justas não são acidentais ou concessivas, mas constituem uma forma necessária de articular a linguagem política, a única capaz de suplantar a coerção. Talvez a isso se deva a imensa dificuldade em encontrar um sentido amplamente aceito para a condenação jurídica do terrorismo, e por isso não haja definição predicativa suficientemente clara, tecnicamente útil e valorativamente neutra que possa ser mobilizada para sustentar um instrumento institucional de condenação.
Em face do terrorismo, a autointerpretação das sociedades modernas em termos democráticos perde crédito, pois a ela não corresponde nenhuma relação transparente entre os processos de decisão política e as possibilidades de ação dos indivíduos. O terrorismo seria a causa então de uma espécie de erupção da contradição latente entre normas universalistas de autodeterminação, inscritas nas próprias instituições políticas, mas negadas às instituições políticas da força oponente no conflito, e a defesa externa de posições de poder.
Se a análise da violência parte de uma perspectiva estrutural, ao mesmo tempo não se podem porém dissociar os discursos que veiculam a ideia de que os próprios agentes terroristas fazem do significado e dos possíveis efeitos de sua própria ação: de um lado, há uma vertente filosófica que caracteriza essa autocompreensão, de outro, uma vertente política mais pragmática. Assim, apesar de todo o impacto deliberado que constitui a própria definição do terror, é possível também conceber o terrorismo como um ativismo associado a outras formas de rebeldia política (e possivelmente substituindo-as) e como uma expressão de problemas de legitimação da comunidade política a que pertence o agente terrorista (ou à qual deixou de pertencer ou busca pertencer).
Por esse caminho, duas podem ser as modalidades de interpretação dessa autocompreensão dos agentes: segundo os termos de um diagnóstico da situação política presente, que vê a ação armada ilegítima assumida como única forma possível de ação política, ou segundo os termos de uma racionalização pseudopolítica do desespero individual. A linha divisória entre essas duas modalidades é tênue, mas ao mesmo tempo imprescindível. O realce do papel que desempenha essa linha divisória deve poder fornecer uma crítica adequada das formas de liberdade política historicamente existentes, sob pena de que se antecipe uma ideia de liberdade ou autonomia política que não será mais do que uma negação abstrata do real, jamais alcançará a radicalização ou a superação das formas atuais de autonomia e acabaria reproduzindo no mundo pelo qual se morre e se mata as mesmas limitações à liberdade que existem neste mundo. A consciência das formas de liberdade existentes é ao mesmo tempo a consciência das condições sob as quais se podem produzir mudanças sociais que possam ser compreendidas como processos que efetivamente levem a uma maior autonomia.
Desse modo, uma condenação abstrata do terrorismo responde diretamente a formas de regressão pré-universalista da consciência moral, em direção de um sentimento de proteção particularista de grupo, correspondendo a formas chauvinistas de enfrentamento à complexidade da realidade, numa busca de sentido e de identidade que se estabiliza, sem mediações, em formas orgânicas de solidariedade. Tal calejamento da consciência moral, tornada vulnerável contra uma realidade que só pode ser percebida como totalidade delirante e opaca, como mal absoluto, obriga a um permanente estado abstrato da consciência moral, e, ao reagir contra a depuração das interpretações que estabilizam a identidade política, leva irrefreavelmente à redogmatização. Nessas circunstâncias, toda forma crítica que apele às promessas não cumpridas do cânone republicano de direitos se converte tendencialmente em hostilidade à forma específica de vida da comunidade.
Nesses termos, a comunidade política desobriga-se de reconhecer nos terroristas uma imagem simétrica de seus próprios problemas irresolvidos: pode afinal deslocá-los e solucioná-los através de uma pacificação que não é mais que silenciamento. No final das contas, em face da violência das ações irrevogáveis, pleiteia-se o fim de todas as ofensas: a partir de então, todas as ações devem ser inofensivas, todas as ideias devem ser inofensivas, todas as demandas devem ser inofensivas.
Seria portanto o momento de redefinir o espectro político, recorrendo como critério, em lugar do alinhamento com as iniciativas coercitivas das grandes potências, à relação que os grupos guardam com as formas democráticas de autodeterminação, sob o crivo de suas próprias comunidades políticas. Defendendo-nos dessa maneira contra as ações violentas de uma autoproclamada vanguarda política, em qualquer dos campos extremos do embate, daríamos uma contribuição mais valiosa à erradicação do terror.
Da luta por democracia nos campos de batalha da luta contra o terrorismo
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
03 Nov 2011 -
Data do Fascículo
Out 2011