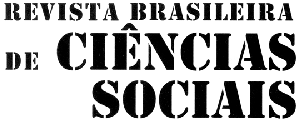Resumos
Os povos indígenas correspondem a apenas 2,5% da população da Austrália, mas, surpreendentemente, a proporção de artistas é muito maior entre indígenas do que entre brancos. Este artigo propõe uma reflexão a respeito das explicações para esse fenômeno e discute a recente inserção da arte indígena da Austrália em museus, casas de leilões e galerias comerciais, o que tem suscitado uma série de questões no que concerne à determinação de autoria e autenticidade, categorias que, embora centrais para o mercado e o circuito expositivo, são relativamente arbitrárias e negociáveis. Além disso, passaram a ocorrer diálogos entre artistas brancos e indígenas, bem como apropriações - nem sempre autorizadas - da iconografia tradicional por parte de empresas e mesmo do governo federal, que vem lançando mão do repertório aborígine na construção da identidade nacional australiana.
Antropologia da arte; Pintura aborígine; Autenticidade; Autoria
Indigenous people comprise only 2.5% of the population in Australia, but, interestingly, the proportion of artists is much higher among them than among the white. This article proposes a reflection about the explanations for this phenomenon and discusses the recent inclusion of indigenous art in Australian museums, auction houses, and commercial galleries, what has raised a number of issuesregarding the determination of authorship and authenticity. Although these categories are central to the market and exhibition circuit, they are relatively arbitrary and negotiable. Furthermore, dialogues between white and indigenous artists started to happen, as well as the appropriation - not always authorized - of traditional iconography by companies and even the federal government, which has been making use of this repertoire in the construction of the Australian national identity.
Anthropology of Art; Australian aboriginal painting; Authenticity; Authorship
Les peuples aborigènes ne correspondent qu'à 2,5% de la population totale d'Australie, mais la proportion d'artistes est beaucoup plus grande parmi les aborigènes que les blancs. Cet article propose une réflexion sur des explications à ce phénomène, et discute la récente insertion de l'art aborigène d'Australie dans les musées, les salles de ventes aux enchères et les galeries commerciales, ce qui suscite une série de questions en ce qui concerne la détermination de la paternité et de l'authenticité des oeuvres, deux catégories qui, bien que centrales pour le marché et le circuit des expositions, sont relativement arbitraires et négociables. Par ailleurs, des dialogues commencent à surgir entre des artistes blancs et les aborigènes, ainsi que l'appropriation - pas toujours autorisée - de l'iconographie traditionnelle par certaines entreprises et même par le gouvernement fédéral, qui utilise le répertoire visuel aborigène dans la construction de l'identité nationale australienne.
Anthropologie de l'art; Peinture aborigène; Authenticité; Droit de paternité
ARTIGOS
Autoria, autenticidade e apropriação: reflexões a partir da pintura aborígine australiana* * Esse texto é uma versão modificada da comunicação apresentada no 34º Encontro da Anpocs, em 2010. Agradeço aos coordenadores, debatedores e participantes do ST "Imagens e suas leituras nas ciências sociais", bem como ao parecerista da Revista Brasileira de Ciências Sociais e a Mariana Françoso, pelas sugestões e comentários.
Authorship, autenticity and appropriation: reflections based upon Australian aboriginal painting
Paternité, authenticité et appropriation: réflexions à partir de la peinture aborigène australienne
Ilana Seltzer Goldstein
RESUMO
Os povos indígenas correspondem a apenas 2,5% da população da Austrália, mas, surpreendentemente, a proporção de artistas é muito maior entre indígenas do que entre brancos. Este artigo propõe uma reflexão a respeito das explicações para esse fenômeno e discute a recente inserção da arte indígena da Austrália em museus, casas de leilões e galerias comerciais, o que tem suscitado uma série de questões no que concerne à determinação de autoria e autenticidade, categorias que, embora centrais para o mercado e o circuito expositivo, são relativamente arbitrárias e negociáveis. Além disso, passaram a ocorrer diálogos entre artistas brancos e indígenas, bem como apropriações nem sempre autorizadas da iconografia tradicional por parte de empresas e mesmo do governo federal, que vem lançando mão do repertório aborígine na construção da identidade nacional australiana.
Palavras-chave: Antropologia da arte; Pintura aborígine; Autenticidade; Autoria.
ABSTRACT
Indigenous people comprise only 2.5% of the population in Australia, but, interestingly, the proportion of artists is much higher among them than among the white. This article proposes a reflection about the explanations for this phenomenon and discusses the recent inclusion of indigenous art in Australian museums, auction houses, and commercial galleries, what has raised a number of issuesregarding the determination of authorship and authenticity. Although these categories are central to the market and exhibition circuit, they are relatively arbitrary and negotiable. Furthermore, dialogues between white and indigenous artists started to happen, as well as the appropriation not always authorized of traditional iconography by companies and even the federal government, which has been making use of this repertoire in the construction of the Australian national identity.
Keywords: Anthropology of Art; Australian aboriginal painting; Authenticity; Authorship.
RÉSUMÉ
Les peuples aborigènes ne correspondent qu'à 2,5% de la population totale d'Australie, mais la proportion d'artistes est beaucoup plus grande parmi les aborigènes que les blancs. Cet article propose une réflexion sur des explications à ce phénomène, et discute la récente insertion de l'art aborigène d'Australie dans les musées, les salles de ventes aux enchères et les galeries commerciales, ce qui suscite une série de questions en ce qui concerne la détermination de la paternité et de l'authenticité des oeuvres, deux catégories qui, bien que centrales pour le marché et le circuit des expositions, sont relativement arbitraires et négociables. Par ailleurs, des dialogues commencent à surgir entre des artistes blancs et les aborigènes, ainsi que l'appropriation pas toujours autorisée de l'iconographie traditionnelle par certaines entreprises et même par le gouvernement fédéral, qui utilise le répertoire visuel aborigène dans la construction de l'identité nationale australienne.
Mots-clés: Anthropologie de l'art; Peinture aborigène; Authenticité; Droit de paternité.
Introdução
"Hello, my name is Wukun Wanambi and I am an artist". Foi dessa maneira e com certo orgulho que uma liderança yolngu da comunidade de Yirrkala, em Arnhem Land, apresentou-se quando conversamos pela primeira vez.1 1 A conversa com Wukun Wanambi ocorreu no dia 15 de março de 2010, em Camberra. Ele tinha ido passar algumas semanas no campus da Australian National University, a fim de encontrar fotos, áudios e vídeos para incrementar o acervo do Buku Larrnggay-Mulka, arquivo audiovisual yolngu que ele dirige, em Yirrkala. Com aquela frase, muito estava sendo dito. Os povos indígenas da Austrália têm na produção artística, hoje, sua principal fonte de renda, e utilizam-na como arma para conquistar visibilidade em uma nação cujo passado colonial é dos mais terríveis.
Estive na Austrália por um período curto, mas muito intenso, de janeiro a abril de 2010. Na ocasião, conheci museus de arte e galerias comerciais em diversas cidades, conversei com colecionadores, curadores e artistas.2 2 Viajei à Austrália graças a uma bolsa de doutorado-sanduíche concedida pelo CNPq. Os oito museus em que estive foram The Ian Potter Centre for Contemporary Art e National Gallery of Victoria (Melbourne); Drill Hall Gallery, National Museum of Australia e National Gallery of Australia (Camberra); Art Gallery of New South Wales e Australian Museum (Sydney); Museum and Art Gallery of the Northern Territory (Darwin). As treze galerias comerciais visitadas foram: Australia Dreaming Art e Alcaston Gallery (Melbourne); Coo-ee Gallery, Hoggart Gallery, Utopia Art Gallery, Aboriginal Art Galleries e Aboriginal Art Specialists (Sydney); Aboriginal Art and Gifts (Leura); Kick Arts e Tanks Arts Centre (Cairns); Mbantua Fine Art Gallery and Cultural Museum, Galleria Gondwana e Boomerang Art (Alice Springs). Os seis centros de arte geridos por indígenas onde estive são: Mia Mia Gallery (Templestow); Koorie Heritage Center (Melbourne); Buku-Larrngay Mulka Centre (Yirrkala); Warlukurlangu Artists Aboriginal Corporation (Yuendumu); Tjapukai Aboriginal Cultural Park (Cairns); e Papunya Tula Gallery (Alice Springs). As dimensões e a diversidade do chamado Australian Indigenous art system impressionam. Estima-se que existam, hoje, cerca de 7 mil artistas indígenas3 3 Convém, aqui, fazer uma distinção entre os termos "indígena" e "aborígine", no contexto australiano. Fala-se em Aboriginal people para se referir aos povos nativos demograficamente majoritários, que vivem por todo o continente e que, apesar das diferenças linguísticas, compartilham um complexo cosmológico comum, chamado de Dreaming, e costumam ter a pele negra. Utiliza-se o termo indigenous people como uma categoria mais ampla, compreendendo, além dos povos aborígines, também os Torres Strait Islanders, pequenos grupos que vivem exclusivamente em ilhas no nordeste na Austrália, apresentando proximidade cultural e semelhança física com povos da Melanésia. na Austrália, muitos dos quais participam regularmente do circuito de museus e bienais e têm seus trabalhos comercializados por casas de leilões e galerias comerciais.
Produzem esculturas em madeira, gravura em papel, batiques e objetos de fibra trançada, mas a pintura bidimensional é a mais abundante e aquela com maior aceitação no circuito internacional de arte contemporânea. Em linhas gerais, a pintura abstrata ou melhor, que a nossos olhos parece abstrata , feita com tinta acrílica sobre tela, predomina no Deserto Central, ao passo que a pintura figurativa, realizada com pigmentos naturais sobre entrecasca de árvore, é frequente no norte tropical, sobretudo em Arnhem Land. Ambas se ramificam em dezenas de subestilos regionais, étnicos e familiares.
Os artistas indígenas da Austrália estão organizados em mais de setenta cooperativas, que eles próprios administram com o apoio de funcionários brancos e, em parte, com o auxílio de subsídios concedidos pelo Estado. Surgidas na década de 1970 e denominadas Art Centres, tais cooperativas fornecem materiais para os artistas, organizam workshops e exposições e, acima de tudo, compram os trabalhos da comunidade e revendem-nos na Austrália ou para outros países. O último levantamento realizado sobre o volume de vendas da arte indígena da Austrália, incluindo-se no cálculo a comercialização de souvenirs turísticos e a revenda no mercado secundário, chegou à cifra aproximada de 300 milhões de dólares por ano (Altman, 2005).
Trata-se, portanto, de um fenômeno complexo e fascinante, que permite diversas abordagens.4 4 Uma abordagem econômica do mercado de arte aborígine da Austrália encontra-se em Altman (2005); a gênese da pintura acrílica no Deserto Central, nos anos de 1970, é abordada por Bardon e Bardon (2004), Myers (2002) e Perkins e Fink (2000); já Morphy (2008) analisa de que maneira os Yolngu têm feito um uso político de sua arte; Caruana (2003), por sua vez, oferece um panorama dos estilos e subestilos artísticos, em uma publicação que serve quase como um guia para o comprador. O recorte do presente artigo, no entanto, recai sobre o problema da autoria, da autenticidade e da apropriação de uma produção artística que já nasce híbrida e intercultural. Como definir a autoria de obras que, em seu contexto original, são muitas vezes pensadas como trabalhos coletivos? Como responder à necessidade de autenticidade do mercado, sem engessar uma identidade aborígine genérica? Qual a fronteira entre releitura artística e apropriação indevida? Para enfrentar tais questões, será traçado, a seguir, um breve histórico do surgimento de alguns movimentos artísticos aborígines na Austrália contemporânea, e serão fornecidos exemplos concretos que ajudam a refletir sobre os impasses da atribuição de autoria e propriedade intelectual a partir desse contexto.
Artistas pioneiros
Albert Namatjira [1902-1959],5 5 As datas que aparecem entre colchetes após o nome dos artistas referem-se ao ano em que nasceram e morreram. Quando se trata de um artista vivo, consta apenas uma data dentro dos colchetes. A data de nascimento, muitas vezes, é apenas aproximada, uma vez que os mais velhos não possuem certidão de nascimento. da etnia Aranda, foi o primeiro pintor aborígine reconhecido como artista na Austrália e também o primeiro indígena a receber a cidadania australiana.6 6 Namatjira recebeu a cidadania australiana em 1957. Ele havia ganho dinheiro com a venda de suas aquarelas e se viu impossibilitado de comprar uma casa, por restrição legal. A opinião pública comoveu-se e o governo decidiu conceder a cidadania ao pintor e a sua mulher, que passaram a poder votar, escolher seu local de domicílio e comprar bebidas alcoólicas. Ao oferecer bebidas para amigos e parentes, Namatjira acabou sendo preso fornecer álcool a aborígines é crime na Austrália. Morreu logo após ir para a prisão. Criado em uma missão luterana, ofereceu-se, em 1936, para ser guia do aquarelista branco Rex Batterbee, que viajara ao deserto em busca de inspiração. Namatjira pediu que, em troca, o pintor lhe ensinasse a técnica da aquarela. Aprendeu rapidamente e começou a retratar as cores e paisagens do deserto. Batterbee organizou uma exposição individual para Namatjira, em Melbourne, em 1938, e, a partir daí, o aquarelista aborígine não parou mais de vender seus trabalhos. No início, pintava ao ar livre, em meio à natureza; numa segunda fase, passou a pintar de memória, omitindo elementos dos quais não queria se lembrar, como a estrada de ferro que cortou o território de seus ancestrais. Embora nos primeiros anos ele não assinasse suas pinturas, após a inserção no mercado e nos museus, compreendeu a necessidade de assinar suas aquarelas e passou a fazê-lo sistematicamente (Kleinert e Neale, 2000, p. 199).
Namatjira ensinou seus filhos e sobrinhos a pintar e a assinar como ele. Assim nasceu, nos anos de 1940, uma vigorosa escola de aquarela aborígine, estilisticamente bastante coesa e conhecida como Hermannsburg School nome da missão que se estabeleceu entre os grupos da etnia Aranda (French, 2002). As características mais comuns das aquarelas de Hermannsburg aparecem na Figura 1: a opção temática pela paisagem do Deserto Central, sem a presença de seres humanos; um eucalipto no primeiro plano; montanhas ao fundo; a linha do horizonte dividindo a pintura; cores que lembram as luzes e os pigmentos naturais da região; e a assinatura no canto direito inferior.
No ano de 2002, a National Gallery of Australia, em Camberra, organizou uma exposição itinerante em homenagem ao centenário de Albert Namatjira. Contudo, o reconhecimento de curadores e críticos em relação aos aquarelistas de Hermannsburg é relativamente recente.
Instituições e críticos de arte recusaram-se a aceitar que aquele trabalho, feito em estilo "emprestado" por um aborígine, pudesse ter qualquer valor como arte, ou pudesse ocupar lugar significativo na cultura aborígine australiana. Desse modo, em 1950, nem a Galeria Nacional de Victoria, nem a Galeria de Arte de New South Wales possuíam peças de Albert Namatjira. [...] Reavaliações recentes, entretanto, levaram dois trabalhos de Namatjira a serem afixados nas paredes do Novo Parlamento, em Camberra, em 1988 [...]. A primeira grande exposição retrospectiva, "Albert Namatjira", ocorreu em 1984, no Centro Araluen, em Alice Springs, vinte e cinco anos depois da morte de Albert (Kleinert e Neale, 2000, p. 199, trad. minha).
Com efeito, a recepção das aquarelas de Hermannsburg tem sido um tanto controversa. Apesar do sucesso comercial, sempre houve críticas sugerindo que se tratava de uma arte "não autêntica", uma técnica "típica de brancos". Contudo, alguns autores alegam que a opção pela aquarela figurativa foi uma estratégia para proteger a iconografia tradicional, muito poderosa e, até então, secreta (French et al., 2008). Outros argumentam que a íntima conexão com a região de Ntaria nome nativo do local em que a missão de Hermannsburg se instalou posiciona os aquarelistas aborígines numa linha de continuidade em relação a seus ancestrais, cujas aventuras míticas ocorreram exatamente naquela paisagem e cujos ensinamentos fazem referência às árvores, aos rios, às montanhas e aos animais do Deserto Central.
Convém ressaltar que um ponto em comum a todas as etnias aborígines que vivem hoje na Austrália é a relação triangular mitos-paisagem-expressões artísticas. Cada clã possui histórias exclusivas, que só podem ser contadas e representadas artisticamente por seus membros. Traduzidas para o inglês como Dreamtimes ou Dreaming, podem dar a impressão de que se trata de sonhos ocorridos durante o sono, quando, na verdade, trata-se de narrativas de criação e de modelos de explicação do mundo. O "tempo dos sonhos", longe de ser abstrato e etéreo, está impregnado na paisagem e nos seres vivos. Isso faz com que a arte aborígine seja intimamente vinculada a determinadas paisagens e territórios em que os ancestrais agiram e ainda agem. Aborígines de todas as regiões da Austrália cantam e pintam feitos e trajetórias de seus antepassados, seres poderosos associados a certos animais, plantas e acidentes geográficos. As canções e as pinturas costumam louvar cada região como a mais bonita, a mais fértil e assim por diante, reforçando os laços afetivos com o território (Caruana, 2003).
Porém, mais do que o vínculo com o território e o uso particular de cores que marcam as aquarelas de Namatjira e de seus seguidores, o que o circuito euro-americano parece esperar de um artista indígena é uma aboriginalidade aparente, garantidora da "autenticidade" da peça e do exotismo de seu autor. A pintura acrílica de pontos (dot painting), recorrente no Deserto Ocidental da Austrália, corresponde muito melhor do que as aquarelas de Hermannsburg a tal estereótipo e, não por acaso, trata-se da modalidade mais colecionada e apreciada desde os anos de 1980.
A pintura acrílica do deserto surgiu no povoado de Papunya, em 1971, quando o professor de artes plásticas Geoff Bardon incentivou seus alunos a transporem para novas superfícies os mesmos signos e desenhos que já aplicavam sobre a areia e sobre o corpo. Começaram pelas paredes da escola local, em seguida passaram a pintar jornais e embalagens, até que descobriram as telas de tecido (Myers, 2002). À medida que veio o sucesso comercial e de crítica, certos símbolos sagrados e códigos secretos masculinos foram sendo progressivamente omitidos das pinturas pelos membros da cooperativa, ou então cobertos por bolinhas (Johnson, 2006). Mas muitos elementos da iconografia tradicional se mantêm, tais como os círculos concêntricos representando acampamentos e fontes de água, visíveis na Figura 2.
A cooperativa Papunya Tula foi o grande polo de irradiação da pintura com tinta acrílica para outras comunidades aborígines do deserto que, progressivamente, fundaram centros de arte e desenvolveram estilos regionais próprios. Contabilizando hoje 49 sócios, todos aborígines, a cooperativa vende trabalhos de 120 artistas filiados ao Desert Acrylic Painting Mouvement, numa das maiores galerias da cidade de Alice Springs.
A iconografia tradicional utilizada na pintura acrílica do deserto funciona quase como uma forma de escrita, na qual um pequeno conjunto de símbolos, como pegadas de canguru e arcos lembrando a letra U, pode assumir diversos significados, dependendo de sua posição e de sua quantidade na pintura e, sobretudo, de acordo com a narrativa mítica a que servem (Munn, 1973). Essa iconografia do deserto tornou-se uma espécie de emblema "típico" de aboriginalidade, aparecendo nos materiais de divulgação turística e cultural da Austrália e dando margem a diversas formas de exploração comercial nem sempre autorizadas pelos artistas ou grupos detentores daquele patrimônio cultural, como se verá mais adiante.
De qualquer forma, foi com o aquarelista Albert Namatjira, no início da década de 1940, que brancos e indígenas da Austrália usaram pela primeira vez o termo artista7 7 Chamo de artistas aborígines, aqui, aqueles indivíduos que produzem peças destinadas à contemplação em museus, galerias ou coleções particulares, ou seja, aqueles que, direta ou indiretamente, já integram o sistema de artes australiano e/ou internacional e realizam trabalhos em que as ideias de autoria, originalidade e desinteresse aparente estão presentes (Heinich, 1998). Apoio-me, assim, na teoria institucional da arte, segundo a qual "o que é arte não é apenas uma questão estética: é necessário levar em conta como esta questão vai sendo respondida na interseção do que fazem os jornalistas e os críticos, os historiadores e os museógrafos, os marchands, os colecionadores e os especuladores" (Canclini, 1997, p. 23). Certamente, tal utilização restrita do termo "artista" poderia ser e vem sendo problematizada pela Antropologia (Gell, 2006; Morphy, 2008, entre outros). Porém, tal discussão não caberia no âmbito do presente artigo. em relação a um indivíduo aborígine. E foi com a difusão da pintura acrílica do deserto, nos anos de 1980 e 1990, que a arte aborígine da Austrália conquistou o circuito artístico nacional e internacional e que a estrutura das cooperativas se consolidou. Convém ressaltar que, embora não se possa apresentá-los aqui, existem dezenas de outros movimentos e estilos na Austrália indígena de gravuras sobre papel a pinturas com pigmentos naturais sobre entrecasca de eucalipto (Goldstein, 2012).
Atualmente, o uso da expressão indigenous artist é generalizado na Austrália. Todos os museus australianos que visitei possuem salas especiais ou mostras temporárias de Aboriginal art. Os principais deles têm também curadores aborígines, responsáveis pela aquisição de obras e pela organização das exposições. Praticamente não há uma galeria comercial de arte contemporânea em Sydney, Melbourne, Alice Springs, Cairns, Darwin, ou Camberra que não exiba pintura aborígine. Segundo dois galeristas, "o melhor da arte contemporânea australiana é feito por aborígines"; eles "projetaram a Austrália internacionalmente".8 8 Depoimentos retirados, respectivamente, de entrevistas realizadas com Beverly Knight, dona da Alcaston Gallery, em Melbourne, no dia 6 de fevereiro de 2010, e Adrian Newstead, proprietário da Coo-ee Gallery, em Sydney, no dia 10 de fevereiro de 2010.
A figura do artista aborígine, portanto, surge na Austrália junto com a consagração da sua pintura, na segunda metade do século XX, como arte passível de ser colecionada, exposta e comercializada. Trata-se de algo que brota do contato entre universos e interesses distintos, que parecem ter encontrado formas de acomodação e negociação. Como sintetiza John Altman:
O admirável na arte aborígine é que ela abrange duas visões de mundo concorrentes; trata-se de um perfeito projeto intercultural. É uma forma sofisticada de arte [fine art] que os não aborígines e os aficionados por arte valorizam enormemente; mas também um produto cultural de valor e status inquestionáveis dentro da própria comunidade do artista. É um meio para os artistas garantirem seu sustento e, simultaneamente, permite-lhes afirmar, de uma forma poderosa, aquilo que realmente importa: direitos territoriais, relações de parentesco e identidade (Altman, 2005, p. 17, trad. minha).
Em virtude dessa polissemia e complexidade, a arte aborígine da Austrália é repleta de tensões e paradoxos, alguns dos quais serão discutidos adiante.
Autorias coletivas
A ideia de autoria individual não faz muito sentido entre as sociedades indígenas da Austrália, nas quais cada etnia ou clã detém algumas histórias (Dreamings) exclusivas que só podem ser contadas e representadas artisticamente por seus membros. As noções de família expandida e de clã são muito mais fortes do que a ideia de indivíduo e, além disso, a expressão artística é uma forma de transmissão de conhecimento coletivo e intergeracional. Aborígines de todas as regiões da Austrália contam e cantam as trajetórias de seus antepassados, seres poderosos que parecem humanos, mas que ao mesmo tempo são associados a animais ou plantas. Assim, quando um artista materializa com cores e linhas certas formas e padrões, está apenas tornando visível, parcial e temporariamente, algo que não pertence exclusivamente a ele e que é muito maior e mais profundo (Morphy, 2008).
Isso é verdade, mesmo nos casos em que acreditamos estar diante de uma pintura abstrata absolutamente autoral. Vale mencionar, nesse sentido, Emily Kame Kngwarreye [1910-1996], grande fenômeno de crítica e de vendas dos últimos quinze anos. Emily começou a pintar com tinta acrílica sobre tela nos últimos anos de sua vida, já octogenária. Pintou compulsivamente, 3000 telas em sete anos, com pinceladas grossas e gestos fortes. Suas telas correspondem, por puro acaso, às preferências de colecionadores, decoradores, curadores e admiradores de arte moderna.
Emily não assinava suas pinturas e, nas poucas entrevistas que concedeu, dava a entender que estava pintando partes de Dreamings que lhe pertenciam e elementos da paisagem sagrada de Utopia, região onde morava. O que, a princípio, pode nos parecer abstrato e pouco "autêntico", do ponto de vista de Emily era figurativo e vinculado a seus ancestrais. Outras pintoras aborígines adotaram o estilo gestual e minimalista de Emily, constituindo a "Escola" de Utopia, composta por mulheres que, inicialmente, produziam batiques, mas que, em seguida, decidiram criar um estilo que se opusesse à pintura masculina e cerimonial da cooperativa Papunya Tula. As seguidoras de Emily não são consideradas plagiadoras porque, culturalmente, têm direito de registrar as mesmas histórias ancestrais e as mesmas paisagens sagradas. Inclusive, comenta-se nas galerias que muitas das telas atribuídas a Emily Kame provavelmente não tenham sido realizadas por suas próprias mãos.
Kathleen Petyarre [1940], sobrinha de Emily Kame, protagonizou um caso interessante de autoria compartilhada. Com telas na coleção permanente do Musée du Quai Branly, em Paris, e conhecida pelo uso de camadas de tintas sobrepostas e pelo preenchimento da tela com pontos, Kathleen costuma afirmar que suas pinturas são mapas mentais das regiões por onde perambulou com seus pais na infância seminômade. Suas três irmãs também são pintoras, mas Kathleen é a recordista em convites para exposições e em valores atingidos em leilões seu preço recorde foi obtido em um leilão da Deutscher-Menzies, em março de 2009: U$ 80000,00 pela tela Mountain devil lizard dreaming, de 2008.
A controvérsia em torno da autoria compartilhada ocorreu quando Kathleen Petyarre ganhou o prêmio National Aboriginal & Torres Strait Islander Art Award, em 1996. Logo em seguida, seu ex-marido, pintor e também marchand, Ray Beamish, alegou que havia participado do processo de confecção da tela e que ambos, portanto, mereciam o prêmio. Especialistas foram convocados para uma análise do quadro e concluíram que o estilo era coerente com o conjunto da obra de Kathleen e que, acima de tudo, a história contida na pintura pertencia à sua família: Kathleen Petyarre e seus irmãos são os guardiões do Dreaming do lagarto da montanha, narrativa mítica referenciada em todas as suas pinturas (Figura 4). Seu ancestral principal, Arnkerrth, é um lagarto que vive no deserto e muda de cor como um camaleão. Manteve-se, portanto, apenas o nome de Kathleen no prêmio e na atribuição de autoria do trabalho premiado.
Vale lembrar que durante minha estadia na Austrália não foram raras as ocasiões em que vi pinturas sendo feitas a quatro ou mesmo seis mãos. Na ocasião em que entrevistei Wukun Wanambi, enquanto conversávamos, sua esposa pintava a base de dois quadros que ele me mostrou como sendo de sua autoria. E disse-me que já estava ensinando seus filhos pequenos a pintar, para que também pudessem ajudá-lo.
Quando passei uma semana no centro de artes do povoado de Yuendumu,9 9 Passei uma semana em Yuendumu, no Deserto Central, em abril de 2010, hospedada em um alojamento especialmente construído para voluntários vindos do mundo todo. O centro de artes Warlukurlangu (< http://www.warlu.com>) é coordenado por duas jovens latino-americanas, com formação em artes e administração. Elas conseguiram, em poucos anos, ampliar as instalações da entidade e aquecer muito seu faturamento. O centro de artes funciona como uma associação cultural e política, com diretoria composta por aborígines de várias etnias, residentes num raio de 300 km do povoado. Observei que, além de comprar e revender pinturas, o centro de artes de Yuendumu empresta dinheiro aos artistas e constrói benfeitorias para o povoado, como uma piscina e um centro de hemodiálise. Do ponto de vista artístico, as coordenadoras do centro de artes Warlukurlangu, em Yuendumu, admitem não contar com artistas especialmente talentosos, por isso optaram por produzir pinturas acessíveis a amadores e turistas. A maioria das telas tem tamanho pequeno ou médio e os preços começam em U$ 70,00. O estilo regional é marcado pela combinação de cores fortes e contrastantes, obtidas por meio de incontáveis misturas de tinta acrílica. presenciei outras duas situações bastante emblemáticas. Na primeira, a coordenadora do centro de artes discutia com um casal, alegando saber que a tela tinha sido pintada pela esposa e não pelo marido, o qual, por já ter certo renome, assinara a obra. Os dois negaram, mas, logo em seguida, a coordenadora me explicou que aquele senhor estava ficando cego e sua esposa vinha tentando, há meses, oferecer telas feitas por ela como se fossem dele. E isso era motivo de reclamação por parte dos compradores.
A segunda situação me envolveu mais diretamente. Foi-me pedido que realizasse alguns trabalhos voluntários como contrapartida pela hospedagem gratuita e pelo acesso ao dia a dia do centro de artes. Minhas tarefas eram: misturar as tintas coloridas com diferentes proporções de branco, a fim de obter diversas tonalidades de amarelo, laranja, rosa, azul e assim por diante; organizar pequenos potes descartáveis de tinta nas prateleiras, para consumo individual dos artistas; preparar almoço para os pintores ali presentes, os funcionários e os voluntários normalmente um sanduíche de queijo, presunto e ovo; fotografar as pinturas entregues diariamente, inserindo as fotos em um sistema de registro informatizado; e, por fim... retocar as telas antes que elas fossem postas à venda (!).
No início, fiquei perplexa com essa última tarefa. A coordenadora da cooperativa, porém, me tranquilizou, dizendo que todos os pesquisadores e viajantes que se hospedavam ali desempenhavam essa função. Os próprios artistas presentes pareciam achar a situação normal, e um deles explicou que as marcas de moscas, pegadas de cachorro, ou borrões de tinta fora do lugar desvalorizavam seus quadros aos olhos dos colecionadores e galeristas. O mais importante é que o fato de eu ter retocado pinturas de artistas warlpiri da comunidade de Yuendumu não colocou a autoria das obras em xeque, uma vez que eu não compreendia as narrativas pintadas elas não me pertenciam e, portanto, eu não poderia alterá-las substancialmente: minhas pinceladas eram praticamente inócuas.
A pesquisadora Christine Alder considera a questão da autoria difusa, cumulativa e compartilhada um grande dilema da inserção da pintura aborígine no sistema de artes euro-americano.10 10 A teoria do sistema da arte contemporânea foi formulada por Raymonde Moulin (1992), com base na ideia de interdependência entre o campo propriamente artístico povoado por museus, ateliês individuais e associações de artistas e o mercado de arte constituído por galerias, leilões e colecionadores particulares. Moulin aponta também a importância da circulação e da visibilidade de obras e artistas dentro de teias internacionais impulsionada, vale lembrar, pelas novas tecnologias de informação (Cauquelin, 2005). Ademais, o sistema de arte, cada vez mais, incorpora profissionais da comunicação e pesquisadores de universidades que, por deterem a produção e a difusão da informação, se tornam fundamentais na validação da arte contemporânea (Coli, 1995). Em suas palavras:
Deparamos, aqui, com um dilema fundamental, que nasce quando a compreensão aborígine acerca de seu trabalho é colocada no contexto das expectativas do mercado de arte dos brancos. Por exemplo, na perspectiva aborígine, se um artista aprova que um membro da família pinte um quadro seguindo sua forma e seu estilo, usando seus motivos e histórias míticas, o produto final ainda poderá ser concebido como de sua responsabilidade. Uma outra situação é quando a assinatura de um único artista aparece em uma peça na qual mais pessoas trabalharam. Potencialmente, essa é uma questão muito mais recorrente, que depende, em parte, da magnitude da produção da peça. No caso de uma grande pintura de pontos [dot painting], ou de um trabalho envolvendo texturas detalhadas, outras pessoas podem participar da produção da obra. Há ainda o caso de um artista mais velho cuja visão está se deteriorando, que pode ser assistido por um parente próximo (Alder, 2010, s. p., trad. minha).
O sistema de arte indígena, na Austrália, encontra maneiras de se acomodar a esta realidade. O marchand Andrew Newstead, dono da Coo-ee Gallery, em Sydney, explicou-me, em entrevista, que a questão da autoria é diretamente relacionada com a atribuição de autenticidade. Com base em sua experiência de muitos anos no mercado, percebe que apenas os artistas aborígines "urbanos" assinam seus trabalhos. E, pessoalmente, não vê problemas em um artista do deserto se designar autor de um quadro produzido com ajuda de seus assistentes ou parentes, até porque "é fácil reconhecer o estilo regional e a identificação de imagens apropriadas para cada cultura, isso faz parte do processo de autentificação".11 11 Entrevista com Adrien Newstead, realizada em Sydney, em 10/2/2010 . Em suma, Adrien confia na autenticidade das pinturas que vende, porque conhece sua proveniência, seus criadores e se sente apto para avaliar se a obra se encaixa de modo coerente em determinado contexto cultural ou determinada trajetória pessoal.
Apropriações indevidas, copyright e autenticidade
A diferença na maneira de aborígines e brancos lidarem com a noção de autoria e propriedade intelectual, aliada à ma fé de alguns empresários, faz com que não sejam raros os casos de uso antiético ou indevido de criações aborígines. Em 1991, por exemplo, o artista Terry Yumbulul [1950], da etnia Warimiri, abriu um processo contra o Banco Central da Austrália pela reprodução de uma de suas esculturas em papel-moeda. Harry Williamson, designer da nota, tinha visto a escultura Morning star pole no Australian Museum, em Camberra, e pediu que a agência estatal de arte aborígine conseguisse uma licença para utilizá-la na nova nota. Terry Yumbulul assinou um termo de licenciamento no qual autorizava o governo a reproduzir sua obra dentro e fora do país, contanto que lhe pagasse royalties. No entanto, quando viu sua escultura estampada na nota comemorativa dos duzentos anos de ocupação europeia, sentiu-se ofendido e quis voltar atrás. A argumentação de Yumbulul sustentava que aquela escultura era fruto de uma prática tradicional de confecção de postes cerimoniais, que tinha aprendido com seu pai e este, com seu avô. Os postes funerários são troncos ocos, que abrigam os ossos de pessoas falecidas durante determinado tempo. Eles têm papel central nos ritos funerários e ajudam os mortos a se reconectarem com seus ancestrais. São decorados com símbolos clânicos, plumas e barbante e inaugurados em festas que atraem pessoas de várias etnias e comunidades, em clima de respeito e comunhão. Colocar a imagem de tal objeto num suporte relacionado com o poder do colonizador pareceu uma profanação ofensiva ao escultor. Yumbulul perdeu o processo, mas o caso deu margem a muitos debates sobre a insuficiência da lei australiana de direitos autorais (New South Whales Government, 2010).
Uma segunda polêmica ocorreu em 1991, quando uma empresa do Vietnã decorou itens têxteis com pinturas aborígines que integram o acervo da National Gallery of Australia, em Camberra. A empresa Beechrow Pty Ltd., sediada em Perth, vendia tapetes e tapeçarias por até U$ 4000,00 cada peça. Os artistas copiados eram relativamente proeminentes. George Milpurrurru [1934-1988], por exemplo, foi o primeiro aborígine a ser exposto na National Gallery. A fábrica vietnamita tirara as figuras de uma publicação educativa do museu; o material foi encontrado na sede da empresa plagiadora durante as investigações. Embora nas etiquetas dos tapetes e tapeçarias estivesse escrito que os artistas receberiam royalties pela venda, eles sequer foram consultados. Os autores haviam cedido suas obras para a publicação educativa do museu, justamente para conscientizar os brancos sobre a importância de sua arte. O processo levou trinta dias e parte dele foi conduzido em Darwin, onde testemunhas e os oito artistas plagiados foram ouvidos. Eles pediram indenização por "danos culturais". A empresa foi à falência e não fez qualquer oferta aos artistas. Em um documentário sobre o assunto chamado Copyrites (Eatock e Mordaunt, 1997), descobre-se que alguns artistas indígenas pararam de pintar, nessa época, porque foram acusados por suas comunidades de terem exposto seus segredos sem proteção. Exemplo semelhante é o da Australian Icon Products, distribuidora de brindes que faliu em 2003 após perder um processo por ter vendido produtos industrializados e feitos por brancos com rótulos sugerindo se tratar de "arte aborígine autêntica".
Para tentar evitar que esse tipo de situação continue ocorrendo, as cooperativas de artistas e também várias galerias comerciais passaram a entregar ao comprador, junto com a obra, um certificado de autenticidade. Os certificados variam, já que cada organização desenvolve seu próprio modelo. Em geral, nele constam o nome do(a) artista, a data de nascimento, a língua que fala, a região em que nasceu, uma foto dele(a), uma foto da pintura, acompanhada de breve explicação do Dreaming ali representado. Soma-se a isso um carimbo e o número do registro da pintura em seus arquivos internos.
A finalidade do certificado de autenticidade é dificultar transações obscuras, fraudulentas ou que desrespeitem a propriedade intelectual dos aborígines. Já se tentou, também, implementar um selo de autenticidade único para toda a Austrália. A iniciativa partiu da National Indigenous Arts Advocacy Association (NIAAA) e foi testada em 1999. Consistia na aplicação voluntária de um rótulo padronizado que atestava a origem indígena de qualquer produto cultural, cuja utilização só podia ser autorizada por uma pessoa que se reconhecesse e fosse reconhecida como de origem aborígine. Contudo, poucos aderiram à ideia. Houve até curadores indígenas de renome, como Brenda Croft, que se opuseram ao selo de autenticidade pelo fato de que ele exigia dos artistas indígenas algo que não é exigido dos artistas brancos "provar" sua identidade e, ainda, por reificar uma ideia de tradição pura e intocada, o que poderia colocar os artistas urbanos e contemporâneos de ascendência indígena numa situação constrangedora.
Dez anos depois da proposta do selo de autenticidade que caiu em desuso , foi lançado um Código de Conduta Comercial de Arte Indígena Australiana. Desenvolvido pelo Australia Council, com funções equivalentes às de um ministério da cultura, o Código contou, em seu processo de concepção e redação, com a participação de diversos atores ligados à cadeia de produção e distribuição de arte indígena: centros de arte, galerias comerciais, museus, casas de leilões, órgãos públicos e associações indígenas. O Código foi publicado em outubro de 2009 e, atualmente, está em fase de teste. Uma nova agência estatal, Indigenous Art Code Limited, com diretoria composta por representantes do setor, foi criada para administrar e fiscalizar a aplicação das diretrizes do Código de Conduta. Embora a adesão seja voluntária, o orçamento do governo federal prevê verbas para a realização de campanhas de conscientização e ações de fiscalização dos signatários.
Os principais objetivos do documento são o incentivo a transações comerciais éticas e transparentes e a implementação de um sistema justo de resolução de conflitos. Estão protegidos objetos de diversas naturezas, vários suportes e linguagens artísticas: pintura, desenho, gravura, livros de arte, escultura, entalhe, cerâmica, vidro, joias e bijuterias, fotografia, instalação, vídeo e multimídia. O Código define como "indígena" toda pessoa que tem ascendência aborígine ou das Ilhas do Estreito de Torres, e que se identifica e é identificado por sua comunidade como tal12 12 Em relação ao critério de etnicidade vigente no Brasil, existe uma diferença: a necessidade, na Austrália, de uma origem biológica atestada ou presumida que vincule a pessoa a determinado grupo indígena tradicional. (Australia Council, 2009, p. 7).
Eis alguns dos pontos principais propostos no Código de Conduta Comercial de Arte Indígena Australiana:
-
Recomenda-se que os intermediários usem intérpretes e expliquem os termos do contrato detalhadamente aos artistas indígenas, inclusive prazos, valores, comissões, formas e prazos de pagamento.
-
As obras têm que ser corretamente identificadas, com créditos para o artista, etiquetas visíveis e acompanhamento de textos explicativos.
-
Não se podem adulterar informações sobre a proveniência da obra, as filiações do artista ou eventuais patrocinadores de seu trabalho.
-
Nomes e imagens de artistas já falecidos só podem ser divulgados se houver autorização de familiares, já que, entre muitas etnias, não se evoca o nome de um morto.
-
Informações consideradas sagradas ou interditas pelos artistas não podem ser tornadas públicas.
-
Reproduções da obra em quaisquer meios necessitam de autorização prévia do artista ou de seu representante.
A partir de agora, talvez as obras de artistas indígenas vendidas na Austrália juntamente com o certificado de vinculação ao Código de Conduta Comercial tragam às partes envolvidas alguma tranquilidade em relação à autenticidade das peças. Afinal, essa sempre foi uma moeda franca no segmento da arte "primitiva" segmento este, vale lembrar, consolidado a partir da valorização que artistas modernos como Pablo Picasso, André Breton, Emil Nolde e Constantin Brancuse fizeram de máscaras e outros objetos provenientes da África e da Oceania.14 14 Sherry Errington relata, por exemplo, um caso curioso em torno dos tau tau da Indonésia, esculturas usadas pelos Sulawesi em cerimônias mortuárias e depois colocadas no alto de falésias e colinas. Após algumas dessas estátuas terem sido roubadas (foram vistas em uma galeria de Nova York), e sendo a região um destino turístico, o governo indonésio e a população local decidiram substituí-las por peças grandes e novas, confeccionadas apenas para este fim. Em 1980, um turista alemão, revoltado ao descobrir que havia viajado tão longe para ver réplicas não "autênticas", processou o Ministério do Turismo da Indonésia (Errington, 1998, p. 133).
A ideia de que existe uma arte "primitiva autêntica" surgiu no começo do século XX e foi se transformando ao longo das décadas. Em 1935, na primeira exposição que o Museum of Modern Art de Nova York organizou com peças africanas, African Negro Art, o organizador do catálogo, James Sweeney (1935), escreveu que os africanos "autênticos" viviam numa era gloriosa, em grandes povoados, com uma economia próspera, em harmonia com seu ambiente e suas tradições, e eram capazes, portanto, de produzir uma arte "autêntica". Essa é a razão pela qual as peças presentes naquela mostra pioneira datavam, todas, do período pré-colonial. Apenas objetos e práticas intocados pelo valor de mercado e pela civilização euro-americana seriam autênticos. Os critérios de autenticidade de Sweeney, portanto, eram a ausência de tempo e de dinheiro.
Cinquenta anos depois, a exposição Primitivism in 20th Century Art, que colocava lado a lado no MoMA trabalhos de artistas modernos e peças de outras sociedades, em busca de afinidades formais, partia do seguinte pressuposto: um objeto autêntico é aquele criado pelo artista para seu próprio povo e usado para propósitos tradicionais. Objetos fabricados explicitamente para serem vendidos a antropólogos ou viajantes, por exemplo, ficam fora dessa definição. Mas nela cabem itens produzidos no que o curador da exposição, William Rubin, chamou de "fase de transição". Uma máscara do Estreito de Torres comprada por Picasso na década de 1920, por exemplo, seria um testemunho de uma época em que a vida tradicional dos nativos, apesar da colonização, permanecia relativamente "intacta" (Rubin, 1984, p. 68).
No final do século XX, quando a penetração do capitalismo e das instituições coloniais em todos os cantos do planeta parecia inquestionável, curadores e colecionadores constataram que a arte "primitiva autêntica" estava ficando escassa. Não lhes era mais possível buscar peças antigas na África, principal fonte das décadas anteriores, até mesmo por conta de novas restrições legais. Começaram a recolocar em circulação peças que se encontravam paradas em coleções. O valor delas subiu e novas galerias especializadas apareceram para abrigá-las (Errington, 1998). Ao mesmo tempo, povos antes considerados "primitivos" aproveitaram o aquecimento do mercado e passaram a oferecer objetos neotradicionais, muitas vezes associados ao turismo cultural.14 14 Sherry Errington relata, por exemplo, um caso curioso em torno dos tau tau da Indonésia, esculturas usadas pelos Sulawesi em cerimônias mortuárias e depois colocadas no alto de falésias e colinas. Após algumas dessas estátuas terem sido roubadas (foram vistas em uma galeria de Nova York), e sendo a região um destino turístico, o governo indonésio e a população local decidiram substituí-las por peças grandes e novas, confeccionadas apenas para este fim. Em 1980, um turista alemão, revoltado ao descobrir que havia viajado tão longe para ver réplicas não "autênticas", processou o Ministério do Turismo da Indonésia (Errington, 1998, p. 133).
O conceito de autenticidade foi se flexibilizando ao longo do século XX e, hoje, o mercado parece considerar "autêntico" o objeto que, mesmo tendo sido fabricado com intenção de venda ou exposição, seja fruto das mãos de um "autêntico" Navajo dos Estados Unidos, de um "autêntico" Maori da Nova Zelândia e assim por diante, e que, além disso, pareça vinculado a uma cultura particular, em virtude do uso de técnicas, temáticas ou formas consideradas tradicionais. Em parte, é como se a autenticidade, agora, estivesse menos nos objetos do que nos indivíduos: o pertencimento do artista a uma cultura supostamente "pura" funciona como a nova medida de autenticidade.
No caso específico da Austrália, uma das consequências disso é que artistas indígenas analfabetos, vivendo em regiões remotas, no deserto ou na costa norte do país, têm muito mais aceitação como "autênticos" do que os artistas urbanos, que falam bem inglês e frequentam museus. Judy Watson [1959], que tem curso superior em artes plásticas, especialização em gravura e atua como professora universitária, é um bom exemplo nesse sentido. De origem aborígine, ela foi criada na cidade de Brisbane, mas decidiu conhecer a região de seus avós, no interior de Queensland, depois de adulta. Ficou muito tocada por esse contato e passou não só a incluir temáticas aborígines em sua obra, como a apoiar artistas de regiões isoladas na busca de melhores condições para a realização do
trabalho artístico. Watson recebeu uma bolsa da Moët & Chandon, em 1995, que lhe permitiu viajar para a França; dois anos depois, foi convidada a participar da Bienal de Veneza. A classe média australiana, que consome arte aborígine, não decora sua casa com gravuras de Judy Watson, preferindo pinturas com círculos, pontos, lagartos e cangurus, "tipicamente" aborígines. Por outro lado, a consagração da crítica em torno de Watson é grande, embora seja corrente o comentário de que se trata de uma artista contemporânea e não uma artista aborígine.
Lin Onus [1948-1996], filho de mãe escocesa e pai Yorta Yorta, é um caso similar. Seus trabalhos tinham teor político e eram caracterizados pela figuração histórica realista. A tela O fardo do homem branco (1982), por exemplo, trazia um nativo montado em um soldado branco, de quatro. Em 1992, quando vários artistas australianos foram convidados a criar trabalhos usando a bandeira nacional, Lin Onus pintou dois anjos vestidos com a bandeira da Austrália, voando sobre terras aborígines e levando nas mãos uma arma, arame farpado, uma bíblia e uma embalagem de produto de limpeza. O arame farpado aludia aos campos cercados em que os aborígines foram confinados durante décadas, ao passo que a ovelha era uma referência à introdução de atividades econômicas estrangeiras e nocivas ao ambiente, segundo depoimento do próprio artista (Leslie, 2010, p. 29). A arma de fogo era claramente associada à violência da colonização, a bíblia, à religião que foi imposta aos nativos, e o higienizador sanitário era uma provável alusão ao consumismo capitalista, também passível de ser interpretado como o desejo dos colonizadores de realizarem uma "assepsia" étnica na Austrália.
Curiosamente, essa vertente mais crítica e politizada da produção artística aborígine recebe menos subsídios públicos, na Austrália, e tem menor sucesso comercial no mercado internacional. Daniel Browning, de origem Bundjalung, jornalista que tem um programa de rádio especializado em arte e cultura aborígine, na emissora australiana ABC, afirmou que "muitos dos que têm produzido arte negra política [political black art] vem sendo criticados por não serem suficientemente negros [not black enough], como se houvesse verdadeiros e falsos aborígines" (Browning, 2010, p. 23, trad. minha). Browning reclama de que a Austrália branca [white Australia] ainda quer identificar os aborígines por características físicas e ideais de pureza, após tantos anos de contato, e, pautando-se nesse critério, apenas os residentes de regiões mais distantes das metrópoles, com contato mais recente e menos miscigenação seriam autênticos aborígines.
Com efeito, o apoio do governo federal vai majoritariamente para artistas do deserto e do extremo norte do país, que se fortalecem, ainda, por estarem associados a centros de artes com gestão profissional. Os artistas de origem indígena morando nas cidades do sul, do sudeste e do nordeste da Austrália devem, em princípio, se lançar individualmente. Foi por isso que em 2004, quando o governo do Estado de Queensland criou uma nova agência de fomento chamada Queensland Indigenous Artists Marketing Export Agency, com foco no apoio à produção e à venda da arte de comunidades indígenas tradicionais vivendo em regiões isoladas do estado, artistas aborígines urbanos residentes na capital, Brisbane, resolveram se unir e formalizar o coletivo ProppaNOW (Neale, 2010, p. 34).
O nome do grupo vem de uma corruptela da expressão proper way, utilizada no inglês aborígine, que significa o modo indígena de fazer as coisas, respeitando protocolos tradicionais e levando em conta os interesses coletivos. No estatuto do ProppaNOW, consta a missão de "produzir artistas e eventos que questionem as noções estabelecidas de arte aborígine e identidade aborígine" (Idem, p. 36). Ou seja, os artistas aborígines "urbanos" colocam em xeque a própria ideia de autenticidade que pauta o senso comum e o mercado de arte, em especial quando se trata de povos indígenas.
Releituras e apropriações artísticas
Na história da arte australiana, há registros de alguns artistas brancos que se inspiraram no repertório visual aborígine. O mais famoso é o de Margaret Preston [1875-1963], uma das raras mulheres australianas pintoras, em sua época. Ela ousou frequentar aulas de desenho com modelos nus e acabou se tornando um dos nomes mais conhecidos da pintura australiana. Começou fazendo naturezas-mortas realistas, que aprendera na academia. Ao longo de viagens para a Europa e a para a Ásia, chegou à conclusão de que a força dos movimentos artísticos que vira no exterior vinha de sua íntima relação com a história e com os costumes de cada país. Dedicou-se, então, à missão de despertar a Austrália para a necessidade de construir uma identidade cultural própria e de valorizar suas particularidades.
Para tanto, Preston lançou mão, ao mesmo tempo, de inovações formais das vanguardas europeias e de tradições artísticas dos aborígines australianos. Usava a expressão "arte total" para se referir ao programa que queria levar a cabo: pretendia que uma estética sincrética, "verdadeiramente australiana", extrapolasse as belas-artes para atingir o design industrial e o cotidiano. Com o passar do tempo, foi se aproximando mais e mais do repertório aborígine. Na tela Still life: fruit (Arnhem Land motif), de 1941, reproduzida a seguir, as cores são as mesmas das pinturas com pigmentos naturais sobre casca de eucalipto do norte da Austrália (Figura 9b); o cesto que carrega as frutas parece um artefato de fibra aborígine; o geometrismo e a textura remetem ao estilo de Arnhem Land,15 15 Não se sabe ao certo quando foram feitas as primeiras pinturas sobre casca de árvore ( bark paintings) em Arnhem Land, pois o material é perecível. Atribui-se seu surgimento à encomenda do antropólogo Baldwin Spencer, que esteve várias vezes no norte da Austrália, entre 1911 e 1921, e pediu aos Kakadu que pintassem sobre cascas de árvores as mesmas imagens que se encontravam estampadas nas rochas da região. Spencer levou consigo 962 exemplares dessas pinturas, que hoje pertencem ao Museu de Melbourne. A bark painting é bastante praticada nos dias de hoje, sobretudo em Arnhem Land, no Território Norte. Os pincéis utilizados são feitos de fios de cabelo humano e a superfície é sempre curva, lembrando o tronco dos eucaliptos. região, aliás, citada no subtítulo.
Aboriginal still life (Figura 10), por sua vez, inclui referências explícitas a práticas culturais dos nativos da Austrália: há dois brasões decorados semelhantes aos coletados por antropólogos na década de 1920, na região de Queensland, três bumerangues do lado esquerdo da tela e um bumerangue do lado direito curiosamente, os seis objetos indígenas presentes na pintura são armas. O título "natureza morta", em se tratando de uma pintura que incorpora a visualidade de populações dominadas e colonizadas, não deixa de soar irônica.
Preston tornou visíveis cores e formas aborígines da Austrália numa época em que poucas pessoas conheciam e apreciavam esse tipo de trabalho, após ter visitado o Northern Territory com seu marido duas vezes, no final da década de 1920 e no final da década de 1930. Ela jamais pediu autorização aos aborígines, e nunca se interessou pelo significado ou pela história (Dreaming) contidos naquilo que a inspirava (Edwards e Pell, 2005), o que é compreensível levando-se em conta o contexto em que viveu. Mesmo assim, no catálogo que acompanhou a retrospectiva da pintora, em 2005, dois curadores de origem aborígine deram depoimentos bastante críticos a Preston. Djon Mundine escreveu sobre a tela Aboriginal still life (Figura 9): "O trabalho apresenta um verniz de aboriginalidade, a adoção de formas e motivos deslocados de seu contexto e de seus significados [...] é de alguém que ainda é turista em seu próprio país" (apud Edwards e Peel, 2005, p. 208). Já Hetti Perkins afirmou: "As tentativas de Preston, embora bem-intencionadas, são fadadas ao fracasso porque não têm significado para os povos aborígines" (Idem, p. 212).
Outro caso que começou de forma controversa, mas que terminou em parceria amigável é o de Imants Tillers [1950], artista e curador de Sydney que já esteve na Bienal de São Paulo, em 1975. Tillers incorporou uma pintura do warlpiri Michael Jagamara Nelson [1950], chamada Five dreamings (1982), dentro de uma composição sua intitulada The nine shots (1985). Imediatamente, foi acusado de apropriação indevida e de desrespeito aos direitos autorais de Jagamara Nelson. Nota-se, nas duas imagens que se seguem, a semelhança na posição, no tamanho e na cor de cinco pequenos círculos concêntricos, na parte superior de ambas as pinturas, a serpente na diagonal, no mesmo lugar nas duas, e ainda as similaridades nas cores e texturas do fundo.
A ideia de Tillers era representar a fragmentação da pós-modernidade e a pulverização do local no global (Morphy, 2010). Mas seu procedimento não levou em conta a necessidade de uma permissão de Jagamara Nelson. Tanto que um outro artista branco australiano, Gordon Bennett [1955], realizou um terceiro trabalho como resposta: The nine ricochets (1990) incorporava partes da tela de Tillers que, por sua vez, havia incorporado a pintura de Jagamura Nelson. Howard Morphy interpreta esse jogo de releituras mútuas como um indício de que a história da arte australiana não podia mais, a partir desse momento, ignorar a presença indígena:

Clique para ampliar
Se existe uma simples mensagem [por trás dessa sequência de releituras] é que tudo o que aconteceu na história recente da Austrália só foi possível pela colonização e pela morte dos aborígines. Uma mensagem que, nos anos de 1980 e 1990, estava alcançando amplos setores da sociedade australiana: havia algo errado que precisava ser enfrentado. [...] A perspectiva adotada por Tillers fez com que a arte indígena se tornasse parte da história global da arte. [...] Mesmo assim, as obras de brancos e indígenas guardam suas diferenças, não são um mesmo tipo de coisa, embora tenham muito em comum (Idem, s. p., trad. minha).
Alguns anos depois, Tillers desenvolveria um relacionamento pessoal com Michael Jagamara Nelson e eles trabalhariam juntos em Brisbane, pintando a quatro mãos telas como Nature speaks: Y (possum dreaming), de 2001, baseada em grafismos dos Warlpiri (pegadas de animais) e usando palavras de ordem como "necessidade", "diferente" e "mudança" (Figura 12).
Para minha surpresa, encontrei no sul do Brasil uma artista que se inspira na visualidade dos aborígines da Austrália. Corali Cardoso [1949], autodidata que assina suas telas como Cora, é gaúcha de Porto Alegre. Em seu website, afirma que, em 2002, sentiu, repentinamente, "um grande impulso para pintar", especialmente tocada pela arte aborígine australiana. Em 2002, esteve na Pinacoteca do Estado de São Paulo visitando a exposição The Native Born e tomou parte em uma oficina promovida pelo setor educativo do museu, com a participação do curador aborígine Djon Mundine. Essa foi a mola propulsora da nova carreira em que se lançou.16 16 Corali Cardoso conta com algum reconhecimento, a ponto de ter sido convidada para decorar uma das vacas que compuseram a Cow Parade de Porto Alegre, em 2010, um dos maiores eventos de arte pública do mundo, onde cada artista decora uma réplica de vaca em tamanho natural. Em seu currículo, constam exposições coletivas no Masp, na Tailândia e na China.

Clique para ampliar
A proposta anunciada por Corali é a de traduzir a arte aborígine australiana, que ela explica da seguinte maneira em sua página na internet: "Para os aborígines, a filosofia religiosa da terra e de seus ancestrais oferece as respostas às perguntas fundamentais da criação da vida. [...] A arte é o centro da vida aborígine, e conectada de forma inerente ao domínio religioso".17 17 Trecho retirado de < http://www.coralicardoso.com/home>. Acessado em 22/4/2011. Os títulos de suas séries de pinturas são alusivos à cosmologia e à cultura material dos povos aborígines da Austrália: Cobras e serpentes, Mangue, Lança, Digiridu, Yuparlis (banana selvagem, em warlpiri) e assim por diante.
Há pinturas de Corali que remetem explicitamente a bark paintings de Arnhem Land, feitas com pigmento natural sobre casca de eucalipto, que ela afirma ter visto na exposição da Pinacoteca. O próximo par de imagens traz, na coluna da esquerda, o original exposto em São Paulo e, na coluna da direita, a versão de Corali. Para ajudar a compreensão do visitante, o curador John Mundine escreveu, na época, que "gulun" significa, em yolngu, água doce e útero, duas ideias intimamente relacionadas; os lagos e pântanos repletos de plantas aquáticas abrigam as almas dos mortos e dos não nascidos, que têm a forma de filhotes de bagre (Mundine apud Amaral, 2002).
É difícil julgar até que ponto a releitura da pintora gaúcha é um tributo à arte dos povos aborígines da Austrália e até que ponto seus procedimentos ultrapassam os limites da ética. A fronteira é sutil. Corali não busca se passar por uma artista aborígene, nem alega conhecer os Dreamings pintados. A história da arte euro-americana é repleta de exemplos de releituras de obras anteriores, de retomada de temas e propostas plásticas, mais ou menos fiéis aos originais.

Clique para ampliar
Porém, no sistema das artes indígenas da Austrália, um pintor aborígine só representa a parte do repertório visual que pertence a sua família, seu clã ou sua etnia, após muitos anos de aprendizagem sobre a cosmologia e a vida ritual. Por isso, é provável que Corali Cardoso fosse publicamente repreendida na Austrália. Mas não é certo que perdesse um processo, caso os autores das pinturas da exposição The Native Born resolvessem levá-la ao tribunal, pois a legislação de propriedade intelectual, na maioria dos países, só proíbe cópias exatas dos originais. A questão não é simples. Uma vez que a arte indígena se insere no sistema mundial de arte contemporânea,18 18 A teoria do sistema da arte contemporânea foi formulada por Raymonde Moulin (1992), com base na ideia de interdependência entre o campo propriamente artístico povoado por museus, ateliês individuais e associações de artistas e o mercado de arte constituído por galerias, leilões e colecionadores particulares. Moulin aponta também a importância da circulação e da visibilidade de obras e artistas dentro de teias internacionais impulsionada, vale lembrar, pelas novas tecnologias de informação (Cauquelin, 2005). Ademais, o sistema de arte, cada vez mais, incorpora profissionais da comunicação e pesquisadores de universidades que, por deterem a produção e a difusão da informação, se tornam fundamentais na validação da arte contemporânea (Coli, 1995). fica sujeita a releituras imprevisíveis. A pintura aborígine contemporânea não é uma esfera autônoma, nem uma produção isolada. Questões históricas, jurídicas e morais atravessam-na.
Richard Bell [1946-2007] foi um dos únicos exemplos que encontrei de releituras de artistas euro-americanos feitas por artistas aborígines. Bell, morador de Brisbane e um dos idealizadores do coletivo ProppaNOW, realizou uma série inspirada na pintura gestual (action painting) de Jackson Pollock [1912-1956], respingando tinta do tubo diretamente sobre a tela. A semelhança vêm à tona nas figuras seguintes.
Numa série posterior, Richard Bell incorporou a linguagem pop de Roy Lichtenstein [1923-1997], que lembra a história em quadrinhos. Em algumas imagens, ele simplesmente apagou o que estava escrito nos balões dos personagens de Lichtenstein e substituiu por mensagens políticas e irônicas, como se vê na Figura 15, em que a moça loira pensa, aliviada: "Graças a Deus não sou aborígine!".
Richard Bell explica que tais procedimentos são uma espécie de vingança em relação à apropriação do repertório visual aborígine que vem sendo feita por brancos, há tanto tempo. Por outro lado, admite sentir admiração pelos artistas brancos que recria:
Originalmente, comecei a fazer isso porque os brancos estavam se apropriando da arte aborígine, então, no começo, foi por revanche. Mas aí eu realmente passei a admirar os trabalhos de Lichtenstein. Achei-os brilhantes. [...] Pegar suas ideias e usá-las da mesma maneira que ele usou, significa, de alguma maneira, prestar uma homenagem a ele. Se bem que no final eu me aproprio delas de qualquer modo, eu as bagunço e as torno minhas (Bell apud McLean, 2010, p. 41, trad. minha).
Do étnico ao nacional
Além das releituras e diálogos artísticos, observa-se, na Austrália, a diluição do repertório visual indígena na representação da nação. No Parlamento, em Camberra, a maior parte do acervo é composta por pinturas aborígines sobre madeira ou sobre tela. Por todo o país, as lojas de souvenirs vendem canetas, canecas, sandálias, lenços e afins com motivos aborígines, alguns dos quais produzidos na China e no Vietnã. Também as lixeiras de Alice Springs são cobertas pela iconografia dos povos do deserto.
Da mesma maneira, as aeronaves da companhia aérea Qantas são decoradas com elementos aborígines. A fuselagem externa dos aviões "Wunala Dreaming" (1994), "Nalanji Dreaming" (1995) e "Yananyi Dreaming" (2002) foi encomendada à empresa de design aborígine Balarinji, de Adelaide, que fundiu tradições visuais das regiões norte e central da Austrália.19 19 Também a estampa usada em camisas, vestidos, lenços e gravatas do uniforme dos funcionários da Qantas utiliza o padrão aborígine Wirriyarra, estilizado pelo designer branco Peter Morrissey, de Sidney. A estampa aparece em duas versões: cinza e ocre para os comissários de bordo e verde para a equipe de solo. Embalagens de alimentos seguem a mesma identidade visual. Os desenhos originais foram primeiro digitalizados, em seguida ampliados cem vezes e depois impressos sobre as aeronaves com a ajuda de máscaras de estêncil. A estreia das aeronaves com esse padrão foi festejada com uma cerimônia Inma, protagonizada por cantores e dançarinos da comunidade da artista Rene Kulitja, uma das envolvidas.20 20 Informações obtidas nos sites das empresas Boeing e Qanta. Disponível em < http://www.boeing.com/news/releases/2002/photorelease/q1/pr_020214g.html> e < http://www.qantas.com.au/travel/airlines/aircraft-designs/global/en>. Acessado em 3/8/2009.
Vale destacar também que dez mulheres associadas ao Titjikala Arts Centre, no Deserto de Simpson, foram convidadas a decorar ícones incontestes do capitalismo: caixas eletrônicos do National Australia Bank. Receberam U$ 3500,00 cada uma, para criar desenhos que combinam iconografia tradicional com inovações formais. As máquinas decoradas foram espalhadas por Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Alice Springs e Perth. A encomenda resultou de uma relação anterior com a comunidade das artistas, onde foi filmado um comercial do banco (Robinson, 2008). É interessante notar a diferença entre aquela situação de 1991, na qual uma escultura feita por um artista aborígine foi incorporada pelo governo em uma nota de dez dólares, independentemente de sua vontade, e essa encomenda recente para os distribuidores de notas do banco federal, pautada na livre escolha e na remuneração das pintoras.
De acordo com Fred Myers (1991), o reconhecimento do valor artístico dos aborígines acarretou a entrada tardia do elemento aborígine na construção da identidade nacional australiana. Antes disso, os aborígines costumavam ser associados à pobreza, a costumes bizarros e a uma aparência perturbadora. O reconhecimento das culturas aborígines como dignas de proezas estéticas e capazes de gerar dividendos econômicos fez com que sua iconografia passasse a compor o imaginário da nação, os roteiros turísticos do país e o discurso ante outros países.

Clique para ampliar
Na época das controversas solenidades dedicadas ao bicentenário da colonização da Austrália,21 21 A colonização da Austrália teve início em 1788, menos de duas décadas após o capitão Cook ter passado por ali. Inicialmente, estabeleceu-se no novo continente uma colônia penal britânica. Foram muitos e violentos os massacres de povos nativos ao longo do processo de expansão da colônia e, numa tentativa de reconciliação, a comemoração dos duzentos anos da Austrália abarcou uma série de reflexões e pronunciamentos, no sentido de repensar a nacionalidade de forma mais inclusiva. Esse foi um momento politicamente tenso. No dia 26 de janeiro de 1988, por exemplo, ao mesmo tempo em que o príncipe Charles participava de uma solenidade em Sydney, povos aborígines de toda a Austrália realizavam uma marcha silenciosa como forma de se opor ao modelo vigente de Estado-nação (Smith, 2001, p. 635). contudo, alguns fatos permitiram entrever com clareza as relações de poder implicadas na incorporação das culturas aborígines ao discurso nacional. Um dos ícones visuais do bicentenário foi o mosaico concebido por Michael Jagamara Nelson, da etnia Warlpiri, que vive no Deserto Central. Instalado na frente do Novo Parlamento, na capital Camberra, o desenho enorme e colorido indicava, segundo o artista, ser aquele um local de reuniões importantes. No entanto, em 1993, frustrado com certos retrocessos perpetrados pelo Partido Liberal, Nelson voltou ao local e retirou a parte central do mosaico, em que linhas curvas concêntricas aludiam ao diálogo e à troca.
Não se pode também deixar de lembrar a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Sydney, quando espíritos ancestrais dos aborígines deram as boas vindas aos visitantes. Coreografados por Stephen Page, 1150 indígenas dançaram e cantaram na festa. No centro deles, com o corpo coberto de barro branco, estava o cantor e pintor Djakapurra Munyarryan, que fez as vezes de mestre de cerimônias. Os Koorie da região de Sydney fizeram uma defumação para limpar a área de energias ruins e, em seguida, entrou um boneco gigante de Wandjina, o espírito da criação que aparece nas pinturas rupestres da região de Kimberley (Figuras 19a e 19b). A mensagem era clara: a Austrália apresentava-se como um país multicultural em processo de reconciliação com a população aborígine. Na imprensa, houve acusações de que o espetáculo foi fácil demais e "brega". Os ativistas aborígines, no entanto, aprovaram (National Film and Sound Archive, 2000).
A arte aborígine, na Austrália, permite preencher um vazio identitário que incomodou a intelligentsia até a primeira metade do século XX. Não é à toa que o governo investe intensamente no fomento às artes indígenas. O aborígine genérico, idealizado a partir dos anos de 1950, ofereceu uma espécie de redenção aos responsáveis por uma colonização extremamente violenta. Sua espiritualidade desenvolvida, seu pacifismo e sua sofisticação estética teriam ajudado a redimir um passado nacional nada glorioso (Lattas, 1991; McLean, 2010).
Considerações finais
A arte indígena parece funcionar, na Austrália, como uma interface privilegiada entre vários universos culturais, na qual ocorrem diálogos, conflitos e negociações. De um lado, o repertório visual aborígine serve como marcador identitário em face de outros grupos indígenas e da sociedade envolvente; de outro, alimenta o interesse estético e econômico de museus, marchands e colecionadores; representa, também, uma fonte de renda nada desprezível para os próprios artistas aborígines; constitui, ainda, matéria-prima fértil para a construção da identidade nacional australiana que, após a Segunda Guerra Mundial, entrou numa espécie de vácuo deixado pela desilusão com o Reino Unido e passou a buscar uma maior independência política em relação à ex-metrópole.
Todos os diálogos, releituras e apropriações artísticas apresentados nas páginas anteriores ilustram, de forma eloquente, o argumento de Alfred Gell de que a arte funciona dentro de um campo de ações e reações em série, ligadas por nexos causais e agenciamentos. Nessa concepção, a ação do primeiro agente é fundamental, mas não é a única. Segundo Gell, a arte não está nos objetos, mas reside naquilo que acontece com e por causa dos objetos. A obra de arte é "uma entidade física que faz a mediação entre dois seres, criando uma relação social entre eles que, por sua vez, fornece um canal para outras relações e influências sociais" (Gell, 1995, p. 52, trad. minha). Assim, a arte é mais um processo do que um produto. E um processo aberto a intervenções de diversas naturezas.
Na Austrália, observa-se claramente a série de ações e reações que leva ao produto final "arte aborígine". A ideia para uma determinada tela pode surgir em um ritual ou em uma conversa em família. A compreensão do Dreaming que será pintado depende de ensinamentos dos mais velhos. A execução poderá ser feita a quatro mãos, contando, no final, com retoques de colaboradores da cooperativa. O registro da história mítica pintada será feito por terceiros, no computador, bem como sua posterior interpretação em catálogos de leilões e legendas de museus. Em cada elo da cadeia, somam-se intencionalidades e agenciamentos diversos, tornando fluidos os contornos da autoria.
O historiador Robert Darnton, ainda que analisando um contexto bem distinto a literatura do Ancien Regime, na França sintetizou de forma clara a dificuldade em precisar quem eram os artistas, em sua pesquisa: "afinal, quem é o escritor? Alguém que escreveu um livro? Alguém que depende da escrita para viver? Alguém que reivindica tal título? Ou alguém a quem o título foi concedido pela posteridade?" (Darnton, 1989, p. 173). E, na história da pintura europeia, até o século XVII, não eram incomuns os ateliês com produção coletiva. O canônico pintor Rembrandt van Rijn [1606-1669], por exemplo, contava com a ajuda de vários assistentes em seu ateliê, na Holanda, exigindo que pintassem rigorosamente ao seu estilo (Alpers, 2010). Uma equipe de especialistas do Rembrandt Research Project vem se dedicando, há quase cinco décadas, à análise minuciosa dos quadros do pintor, propondo a "desatribuição" de autoria em mais de cem casos. Trata-se, portanto, de uma questão antiga e não resolvida, que ultrapassa largamente a discussão da arte indígena australiana contemporânea.
No âmbito da sociologia da arte, um dos autores que problematizam a autoria individual é Howard Becker, para quem o "mundo da arte" é construído pelos próprios participantes, em negociações permanentes entre produtores, distribuidores e fruidores. Desse modo, fica difícil delimitar as atividades propriamente artísticas e as não artísticas: "Uma análise sociológica de qualquer arte [...] investiga a divisão do trabalho (que nunca é natural, mas resulta de uma definição consensual da situação): concepção da ideia, dos artefatos físicos necessários, criação de uma linguagem convencional de expressão, treinamento do pessoal e plateias artísticas etc." (Becker, 1977, p. 206). Portanto, em muitos casos, a definição da autoria artística resulta de mera convenção.
Mesmo assim, o sistema de arte euro-americano não abre mão das noções de artista e de autoria individual. A socióloga Nathalie Heinich (1998), comparando centenas de peças que são classificadas como arte, chegou a um núcleo duro de três características extraestéticas presentes em todas as situações em que é consenso se tratar de uma obra de arte contemporânea: 1) a predominância da função estética sobre as demais (como funcionalidade ou rentabilidade); 2) a originalidade (mesmo que se façam releituras da tradição, elas precisam ser únicas, inusitadas); 3) a assinatura de um artista reconhecido pelas instâncias de legitimação (críticos, galeristas, outros artistas etc.). A terceira e última característica, diretamente relacionada com a atribuição de autoria individual, seria a mais importante.
Ora, quando qualquer forma de arte indígena passa a circular no sistema internacional de arte, inevitavelmente ocorrem tensões e mal-entendidos. A World Intellectual Property Organisation (Wipo) reconhece que as convenções e os tratados internacionais de propriedade intelectual, bem como a legislação nacional, na maioria dos países, não contemplam as especificidades das sociedades e das práticas culturais tradicionais (Unesco e Wipo, 2003). Em primeiro lugar, as leis que tratam de direitos autorais, via de regra, cobrem apenas criações "originais" de autores individuais o que nem sempre se aplica a contextos tradicionais, nos quais não é apenas a personalidade do autor que se reflete na criação, mas também elementos compartilhados por toda a comunidade. Em segundo lugar, a concepção de propriedade dos legisladores destoa das formas indígenas de atribuição de responsabilidade pelo conhecimento e de autorização para o uso de saberes tradicionais. Ademais, obras derivativas, que utilizam determinada tradição cultural, seja no estilo ou na técnica, não são consideradas plágio dentro do sistema jurídico euro-americano, ainda que possam ser experienciadas pelas sociedades detentoras daquele patrimônio cultural como ofensa ou desrespeito. Um quarto problema é que os itens de domínio público como danças, músicas rituais, pintura corporal não são protegidos pela legislação. Em suma, disputas em torno da autoria de obras de arte indígena, na Austrália, são apenas parte de um problema mais amplo e de difícil resolução.
Em relação à ideia de autenticidade, as estratégias surgidas no contexto australiano incluem a criação de uma etiqueta para souvenirs turísticos e a emissão de certificados de autenticidade no momento da compra de obras de arte. Mas elas não resolvem de todo o problema, pois, novamente, autenticidade é muito mais um termo necessário ao funcionamento do sistema de artes do que uma categoria que efetivamente corresponda a um conjunto de obras ou artistas. O sistema de arte aborígine australiano é um terreno fértil para se observarem maneiras de acionar e negociar a ideia de autenticidade, revelando que, ao mesmo tempo que não existe autenticidade cultural, dificilmente o mercado abrirá mão da ilusão de autenticidade. Os próprios aborígines parecem saber disso na Austrália. Nada como recuperar uma experiência ilustrativa que vivenciei nos arredores de Melbourne.
A Mia Mia Gallery, administrada por dois primos aborígines, um negro e um branco, oferece, aos sábados, um concerto de didgeridoo. Às 15 horas, Gnarnayarrahe Waitairie o primo negro pega o instrumento de sopro e explica se tratar de um tronco oco comido por formigas, que não pode ser tocado por mulheres porque lhes faria mal à saúde. Esse instrumento de sopro era originalmente produzido e usado apenas pelos Yolngu, que vivem em Arnhem Land. Porém, tornou-se um ícone do aborígine genérico. Os aborígines que vendem CDs e pedem dinheiro nas ruas de Sydney tocam didgeridoos; nas apresentações para turistas, sempre se toca o didgeridoo. Seminu e com a pele pintada de barro, Waitairie tocou para uma dúzia de pessoas presentes diversos sons de animais, mostrando o som do canguru, do crocodilo e de outros bichos. (Ouvi depois, de Wukun, que "isso de ficar imitando animais com o ydaki que é o verdadeiro nome desse objeto é besteira, nunca fizemos isso".)
É interessante notar a maneira de o primo branco lidar com a questão da autenticidade. Em vez de problematizar a cristalização de uma identidade aborígine associada à aparência e à vida em regiões remotas, e discutir temáticas políticas e históricas relacionadas com a situação de contato, a vida nas cidades ou os direitos humanos dos aborígines, opta por aprender nos livros sobre os modos tradicionais de vida, a fim de encená-los, com a ajuda de um primo mais "autêntico" que ele, para os visitantes/consumidores.
Os souvenirs étnicos para turistas despertam uma reflexão análoga sobre a autenticidade: inverte-se a equação posta por Walter Benjamin, décadas atrás. Se, para Benjamin, a obra autêntica era aquela que possuía unicidade e aura "uma figura singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja" (Benjamin, 1996, pp. 170-171) , nas lojas de souvenirs, na mídia e na decoração de espaços turísticos é a repetição que convence de que algo é realmente "típico". A redundância das imagens e dos objetos faz com que pareçam convincentes e verdadeiros. Cada peça deve aderir ao modelo, criar a sensação de fidelidade: o padrão de autenticidade da arte étnica produzida em série é a semelhança com o conjunto e não, a originalidade. Mostra-se algo com aparência familiar, fácil de reconhecer, pois o desvio do estereótipo poderia ser considerado "inautêntico" (Steiner, 1999).

Clique para ampliar
O sistema de arte precisa sempre (re)construir a noção de autenticidade, por se tratar de um de seus principais mecanismos de agregação de valor. No que concerne às artes indígenas, ora essa autenticidade foi definida pela suposição de pureza e isolamento cultural; ora pela finalidade do objeto (o consumo do próprio grupo); ora pela autoria de um indivíduo reconhecido como um legítimo indígena. Porém, como não existem grupos étnicos vivendo de forma isolada, já que identidades culturais são resultado de um processo dinâmico e não um dado essencial, e uma vez que as sociedades aprendem técnicas e motivos umas com as outras, é difícil separar o que é "autêntico" do que não é, no complexo trânsito internacional de objetos.
Assim, a autenticidade revela-se mais um termo "nativo" do sistema internacional de arte, do que uma categoria analítica. Da mesma forma, a partir dos diversos exemplos elencados ao longo do texto e da revisão bibliográfica, conclui-se que a atribuição de autoria artística nem sempre corresponde a uma realidade empírica precisa: resulta de consensos e negociações, estabelecidos em cada contexto.
Notas
Bibliografia
Artigo recebido em 24/10/2010
Aprovado em 25/07/2011
- ALDER, Christine. (2010), "The Aboriginal art market: challenges to authenticity" [on-line]. Disponível em <http://www.aboriginalartonline.com/resources/articles6.php>. Acessado em 9/9/2010.
- ALPERS, Svetlana. (2010), O projeto de Rembrandt: o ateliê e o mercado São Paulo, Companhia das Letras.
- ALTMAN, John. (2005), Brokering Aboriginal art: a critical perspective on marketing, institutions and the State Melbourne, Deakin University/Melbourne Museum.
- AMARAL, Lilian (org.). (2002), The native born: arte aborígine da Austrália [catálogo]. São Paulo, Pinacoteca do Estado de São Paulo/Cultura Inglesa.
- AUSTRALIA COUNCIL. (2009), "Indigenous Australian art commercial code of conduct" [on-line]. Disponível em <http://www.indigenousartcode.org>. Acessado em 20/3/2010.
- BARDON, Geoffrey & BARDON, James. (2004), Papunya: a place made after the story. The beginnings of the Western Desert painting movement Melbourne, Miegunyah Press.
- BECKER, Howard. (1977), Uma teoria da ação coletiva Rio de Janeiro, Zahar.
- BENJAMIM, Walter. (1996), Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política São Paulo, Brasiliense.
- BROWNING, Daniel. (2010), "Not black enough". Artlink. Contemporary art of Australia and the Asia-Pacific, 30 (1): 22-27.
- CANCLINI, Néstor García. (1997), Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo, Edusp.
- CARUANA, Wally. (2003), Aboriginal art Londres/Nova York, Thames and Hudson.
- CAUQUELIN, Anne. (2005), Arte contemporânea: uma introdução São Paulo, Martins Fontes.
- CLIFFORD, James. (1998), "Collections", in . The predicament of culture, Massachussetts, Harvard University Press.
- COLI, Jorge. (1995), O que é arte São Paulo, Brasiliense.
- DARNTON, Robert. (1989), Boemia literária e revolução: o submundo das letras no Antigo Regime São Paulo, Companhia das Letras.
- EATOCK Cathy & MORDAUNT, Kim. (1997), Copyrites Australian Film Finance Corporation Ltd. (Documentário, 53 minutos).
- EDWARDS, Deborah & PEEL, Rose. (2005), Margaret Preston Sydney, Art Gallery of New South Wales.
- ERRINGTON, Sherry. (1998), The death of authentic primitive art and other tales of progress Berkeley/Los Angeles/Londres, University of California Press.
- FRENCH, Alison. (2002), Seeing the centre: the art of Albert Namatjira (1902-1959). Canberra, National Gallery of Australia.
- FRENCH, Rachel; FRENCH, Alisson & McKENZIE, Anna. (2008), The legacy of Albert Namatjira today: contemporary Aboriginal watercolours from Central Australia Alice Springs, Ngurratjuta Iltja Ntjarra (Many Hands Art Centre).
- GELL, Alfred. (1995), "The technology of enchantment and the enchantment of technology", in Jeremy Coote e Anthony Shelton (eds.), Anthropology, art, and aesthetics, Oxford, Oxford University Press, pp. 40-67.
- _____. (2006), "Vogel's net: traps as artworks and artworks as traps", in Howard Morphy e Morgan Perkins (orgs.), The anthropology of art: a reader, Cornwell, Blackwell.
- GOLDSTEIN, Ilana S. (2012), Do "tempo dos sonhos à galeria": arte aborígine australiana como espaço de diálogos e tensões interculturais Campinas, tese de doutorado, Departamento de Antropologia Social da Unicamp.
- HEINICH, Nathalie. (1998), Le triple jeu de l'art contemporain Paris, Éditions de Minuit.
- JOHNSON, Vivian. (2006), Papunya painting out of the desert Canberra, National Museum of Australia Press.
- KLEINERT, Sylvia & NEALE, Margo (eds.). (2000), The Oxford Companion to Aboriginal art and culture. Melbourne, Oxford University Press.
- LATTAS, Andrew. (1991), "Nationalism, aesthetic redemption and aboriginality". Australian Journal of Anthropology, 3 (2): 307-324.
- LESLIE, Donna. (2010), "Lin Onus: picturing histories, speaking politics". Artlink. Contemporary art of Australia and the Asia-Pacific, 30 (1): 28-33.
- McLEAN, Bruce. (2010), "Richard Bell: matter of fact". Artlink. Contemporary art of Australia and the Asia-Pacific, 30 (1): 40-43.
- MORPHY, Howard. (2008), Becoming art: exploring cross cultural categories Sydney, University od South Austrália Press.
- _____. (2010), "Impossible to ignore: Imants Tillers' response to Aboriginal art". Imantstillers: one world many visions [on-line]. Disponível em <http://nga.gov.au/Exhibition/TILLERS/Default.cfm?MnuID=4&Essay=5>. Acessado em 26/1/2010.
- MOULIN, Raymonde. (1992), L´artiste, l`institution et le marché. Paris, Flammarion.
- MUNN, Nancy. (1973), Walbiri iconography: graphic representation and cultural symbolism in a central Australian society Ithaca/Nova York, Cornell University Press.
- MYERS, Fred. (1991), "Representing culture: the production of discourses for aboriginal acrylic paintings". Cultural Anthropology, 6 (1): 26-62.
- _____. (2002), Painting culture: the making of an aboriginal high art Durham, Duke University Press.
- NATIONAL Film and Sound Archive. (2000), Games of the XXVII Opympiad opening Sydney (Vídeo, 107 minutos. Código no acervo JBS C796).
- NEALE, Margo. (2010), "Learning to be proppa". Artlink. Contemporary art of Australia and the Asia-Pacific, 30 (1): 34-39.
- NEW South Whales Government. (2010), "Case-study 3: Terry Yumbulul and the ten-dollar note" [on-line]. Disponível em <http://ab-ed.boardofstudies.nsw.edu.au/go/aboriginal-art/protecting-australian-indigenous-art/case-studies-of-copying-and-appropriation/case-study-3-terry-yumbulul-and-the-ten-dollar-note>. Acessado em 16/9/2010.
- PASCOE, Bruce. (2008), The little red yellow black book: an introduction to Indigenous Australia Canberra, Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islands Studies AIATSIS.
- PERKINS, Hetti & FINK, Hannah (eds.). (2000), Papunya Tula: genesis and genius. Sydney, Art Gallery of New South Wales.
- ROBINSON, Natasha. (2008), "Paintings to cover holes in the wall". The Australian 21 ju.
- RUBIN, Willian (org.). (1984), Primitivism in 20th Century art Nova York/Boston, Museum of Modern Art e Little.
- SCHMIDT, Chrischona. (2005), Beyond suffering: the significance of productive activity for Aboriginal Australians Honour Thesis apresentada no Departmento de Antropologia da Universidade de Sydney, 2005.
- SMITH, Terry. (2001), "Public art between cultures: the Aboriginal Memorial, aboriginality and nationality in Australia". Critical Inquiry, 27 (4): 629-661.
- STEINER, Cristopher. (1999), "Authenticity, repetition and the aesthetics of seriality: the work of tourist art in the age of mechanical reproduction", in Ruth Phillips e Cristopher Steiner, Unpacking culture, Berkeley/Los Angeles, University of California Press.
- SWEENEY, James Johnson (org.). (1935), African negro art Nova York, Museum of Modern Art.
- UNESCO & WIPO. (2003), "Consolidated analysis of legal protection of traditional cultural expressions/expressions of folklore". Disponível em <www.wipo.int/freepublications/en/tk/913/wipo_pub_913.pdf. Acesso em 18/8/2011.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Jul 2012 -
Data do Fascículo
Jun 2012