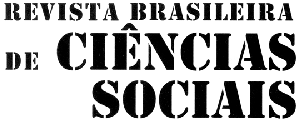RESENHAS
A liberdade individual e suas expressões institucionais
Emil A. Sobottka
Axel Honneth. Das Recht der Freiheit: Grundriss einer demokratischen Sittlichkeit [O direito da liberdade: esboço de uma eticidade democrática]. Berlim, Suhrkamp, 2011. 627 páginas.
Com sua tese da luta por reconhecimento como chave interpretativa na teoria social, Axel Honneth buscou recuperar para a crítica eticamente orientada aqueles âmbitos da sociedade que seu antecessor em Frankfurt, Jürgen habermas, tinha relegado à operação autorreferente dos subsistemas econômico e político-adminsitrativo. Sua contundente defesa do reconhecimento como centro de uma teoria social também provocou interessantes e frutíferos debates na recente teoria da justiça (Saavedra e Sobottka, 2009). Quase duas décadas depois da publicação de A luta por reconhecimento, o autor lançou uma nova e pretensiosa obra, deslocando o foco de sua análise do efeito positivo da luta sobre a formação de autorrelações práticas sadias para a questão da liberdade e suas expressões institucionais.
O que o autor pretende fica claro logo no primeiro parágrafo: em semelhança a hegel, ele quer desenvolver uma análise da sociedade que permita revelar os princípios de justiça social a ela subjacentes. Sociedades modernas teriam esferas constitutivas nas quais determinados valores seriam institucionalmente corporificados; as exigências de sua realização indicariam quais são os princípios de justiça aplicáveis especificamente a cada esfera social. Para Honneth, nas modernas sociedades liberais democráticas a multiplicidade dos valores particulares se condensa num único valor supremo: a liberdade individual. Esta hierarquização lembra a ideia de "arquitetura" introduzida por Aristóteles na Ética a Nicômaco. Assumir como um dado que a liberdade individual constitua a ponta exclusiva da pirâmide de valores das sociedades modernas é provavelmente a decisão mais ousada do autor, mas na qual ele se diz acompanhado de "diversos outros autores, de hegel, passando por Durkheim, até habermas e Rawls" (p. 122).
Assim, nas distintas esferas constitutivas da sociedade os valores institucionalizados seriam, a rigor, a concretização da experiência da liberdade individual. Para uma teoria da justiça, a consequência seria que concorreriam para uma única concepção de justiça tantas perspectivas quantas forem as expectativas legítimas de realização da liberdade através da formação de esferas específicas na sociedade. As lutas que se estabelecem com base em valores tidos como normativos indicariam, então, tanto a validade atual desses valores como as promessas ainda em aberto para a efetivação de justiça social.
Os autores da teoria crítica frankfurtiana há muito assumiram uma postura teórica segundo a qual valores que possam constituir uma fundamentação normativa - e, com isso, fornecer critérios para uma análise crítica da sociedade - só podem ser aqueles que se afirmaram historicamente como válidos e sejam racionalmente justificáveis. Com isso, eles pretendem se opor tanto a tendências universalistas, que assumiriam premissas aleatoriamente, como comunitaristas, que elevariam particularismos locais a critérios com pretensão de validade muito além da sua comunidade de origem. Portanto, a teoria crítica precisa desvelar, na pluralidade quase caótica de valores empiricamente constatáveis, aqueles valores tidos como geralmente estabelecidos e válidos.
Tanto em habermas como agora em Honneth, o procedimento para dar conta desta tarefa é denominado reconstrução normativa. Ele consiste no exame sistemático dos valores geralmente aceitos e o grau em que vêm sendo efetivados; esses valores, por sua vez, são usados como matriz orientadora na seleção e na análise do material empírico em análises da sociedade. A convicção é de que assim seja possível encontrar bases efetivamente válidas para uma crítica social, sem perder o vínculo com a realidade analisada nem submeter-se à sua limitada autocompreensão - e muito menos depender da metafísica como fundamento último. Concretamente, neste livro, Honneth pretende verificar as diversas compreensões de liberdade e ver até que ponto elas foram realizadas nas instituições sociais constituídas com esta finalidade. Com o alargamento de seu espectro de análise às diversas esferas de valor institucionalizadas, a teoria da justiça que o autor pretende elaborar se distingue explicitamente daquela que habermas apresenta em Faktizität und Geltung, basicamente centrada no desenvolvimento do Estado de direito.
A estrutura da obra não revela ao leitor logo na primeira leitura a lógica seguida pelo autor. Depois de uma introdução em que é apresentada a pretensão de elaborar uma teoria da justiça enquanto análise da sociedade, segue uma divisão em três partes: (a) "Recapitulação histórica: o direito da liberdade"; (b) "A possibilidade da liberdade"; (c) "A realidade da liberdade". Não há indicação de uma conclusão ou seu equivalente. O que segue como segunda e terceira ordem é um conjunto de divisões tripartites. Na medida em que se avança pelos capítulos, gradativamente se abrem múltiplas possibilidades de leitura deste amplo projeto.
Na reconstrução histórica são apresentadas três compreensões historicamente formadas da liberdade: liberdade como direito igual para cada pessoa a determinados direitos elementares, como direito a formar seu juízo autônomo sobre normas morais e como reconhecimento de suas ações e objetivos pelos outros em relações sociais simétricas. Ele as designa respectivamente como liberdade legal, reflexiva e social. Essas três visões guardam íntima relação com a compreensão de direito, moralidade e eticidade que o autor encontra em hegel.
A liberdade negativa seria a ausência de limitações externas na realização da vontade. Ela constituiria uma esfera privativa na qual o sujeito poderia agir sem a interferência externa e sem a necessidade de prestar contas a outrem. John Locke, John Stuart Mill e, recentemente, Robert Norzick são os que mais consistentemente a desenvolveram como base do moderno individualismo. Negativa "porque não é necessário questionar seus objetivos para ver se eles por sua parte fazem jus às condições da liberdade; [...] o puro ato de decidir é suficiente para qualificar como 'livre' a ação dali resultante" (pp. 49-50). Na visão de Honneth, esta liberdade é constitutiva da nossa compreensão de modernidade, porque possibilita e legitima o desejo de diferenciação do indivíduo. Nessa ótica, o indivíduo seria tanto mais livre quanto mais objetivos próprios ele puder realizar sem afetar a liberdade de seus próximos. Como um espaço de refúgio, segundo Honneth, no entanto, falta a esta liberdade a capacidade propositiva.
Segundo a compreensão reflexiva, o indivíduo seria livre ao orientar suas ações unicamente segundo suas próprias intenções. Instituir para si próprio as leis que orientarão o seu agir, superar a heteronomia através da autonomia, seria a mais clara expressão desta compreensão de liberdade. Em Rousseau, ela estaria vinculada à superação domesticadora de impulsos e paixões pela vontade livre como modo de ser autêntico. Kant, na leitura de Honneth, dá continuidade ao argumento da autonomia em Rousseau, destacando o aspecto racional da vontade e a obrigação moral de tratar os outros sujeitos como igualmente autônomos e como fins em si próprios. Na vertente romântica, com herder, a vinculação com Rousseau se daria pela ênfase na autenticidade, na liberdade como sentimento de ter realizado desejos e intenções próprios. Comum a essas duas variantes seria, segundo Honneth, que liberdade para elas é muito mais que ausência de limitações externas; livre é o sujeito quando seu agir puder se limitar a intenções e objetivos desobstruídos de constrangimentos pela reflexão. Em Kant, pela autonomia racional ou autodeterminação; em herder, pela descoberta dos desejos próprios, autênticos, na autorrealização. Ambas as vertentes, no entanto, permanecem presas a processos transcendentais, ensimesmadas, sem conseguirem tornar a justiça social algo inerente a esta liberdade.
Enquanto as duas liberdades anteriores oferecem ao sujeito a possibilidades de refúgio em sua individualidade, seja para agir sem necessitar prestar contas, seja para buscar unicamente em si objetivos ou intenções para sua ação, a liberdade social coloca-o num contexto direto de interação. Livre nesta concepção, segundo Honneth, "o sujeito em última análise só é quando [...] encontra um Outro (Gegenüber) com o qual estabelece uma relação de reconhecimento recíproco, porque divisa nos objetivos dele uma condição para a realização dos seus próprios objetivos" (p. 86). Nesta formulação, em que se reflete a ainda mais enigmática expressão hegeliana "ser consigo mesmo no outro", Honneth toca o cerne de sua concepção de liberdade: para além das duas expressões individualizadas, a liberdade só se complementa com sua efetivação na dimensão social dentro de relações de reconhecimento mútuo. Radicalmente crítico a concepções que reduzem a liberdade a dimensões individuais, Honneth advoga enfaticamente por esta complementação social, pela indispensável relação com o outro na efetivação da liberdade de cada um. Apoiando-se em hegel, defende que "a liberdade dos indivíduos ao fim e ao cabo só se efetiva lá onde eles podem participar de instituições cujas práticas normativas asseguram uma relação de reconhecimento mútuo" (p. 89).
Para o autor, a organização das esferas da reprodução material e da integração cultural de cada sociedade consubstancia os valores compartilhados e destina-se a coordenar as ações sociais na realização daquilo que seus membros consideram a boa vida. Precisamente esta vinculação permite que, ao analisar determinadas institucionalizações da liberdade centrais para as sociedades capitalistas ocidentais, Honneth considere possível elaborar uma teoria da justiça e uma crítica social que evidencie onde as instituições e as práticas sociais estão falhando em dar efetividade aos valores que consubstanciam. A reconstrução normativa, portanto, permite que a crítica social seja feita com embasamento ético, nas possibilidades objetivas, sem necessidade de recorrer a princípios ou critérios externos. Ela se revela crítica ao não permanecer na descrição afirmativa da realidade dada, mas explorar alternativas e possibilidades contidas nos valores compartilhados e ainda não efetivados ou esgotados em sua realização pela respectiva práxis social. Assim, mesmo lá onde o próprio autor ainda deixa muita coisa apenas implícita, a reconstrução normativa permite leituras que ultrapassem em muito o horizonte da realidade dada. Em certa medida, permite inclusive a superação do "passo atrás" que significou a opção de tomar o hegel da Filosofia do direito como estruturador da lógica da obra e não Marx, uma referência histórica da teoria crítica.
No que segue do livro, essas três compreensões da liberdade são submetidas a um exame sistemático de sua institucionalização. As duas primeiras perfazem a parte B e a terceira a parte C do livro. Esta última é tão central no projeto que ocupa dois terços do livro.
Honneth denomina Liberdade legal o conjunto de direitos subjetivos que institucionalizam a autonomia privada do indivíduo mediante normatizações vinculantes asseguradas pelo Estado de direito. Ela não se refere ao Estado de direito como um todo, mas apenas àquelas regulações que asseguram ao indivíduo espaços para agir livre de constrangimentos éticos inerentes à interação social. Para o autor, a constituição do sujeito não é natural nem resulta de um ato performativo do legislador, mas é uma forma específica de subjetividade constituída pelas relações de reconhecimento. Por mais importante que possa ser esta liberdade no sentido de uma moratória nas relações sociais, ela será apenas transitória; reformulação de planos de vida e realização de objetivos sempre pressupõem interações sociais. Em outras palavras, para Honneth todo exercício da condição de sujeito de direito ocorre como relação de reconhecimento e é, portanto, impossível como ação puramente individual.
Enquanto a liberdade legal se refere à garantia formal do sujeito de direito de poder se recolher temporariamente à sua individualidade, a ser ele mesmo sem necessidade de justificar seu agir, a liberdade moral em sociedades modernas assegura ao indivíduo a possibilidade de recusar a submissão a normas ou instituições sociais que, em sua avaliação, não sejam universalizáveis, que não cumpram a condição de poderem ser consentidas por todos. Ela institucionaliza a possibilidade de o sujeito, a qualquer momento, examinar a legitimidade de um ordenamento social eticamente estruturado à luz de suas convicções, levando em consideração todos potenciais afetados. Ao questionar publicamente a ética vigente, o exercício da liberdade moral abre possibilidades de provocar sua transformação.
Na terceira parte do livro, Honneth trata da compreensão social da liberdade vista como uma realidade. O específico desta concepção é que a liberdade só se efetiva na complementação da ação igualmente livre do Outro -relação que o autor expressa com o uso do pronome plural nós em cada subtítulo. Não é uma liberdade que vai até onde começa a do outro ou que se relaciona apenas funcionalmente com ele, mas uma liberdade que só se realiza com e através da liberdade do Outro, relação esta que sempre será ética. Seguindo Hegel, Honneth vê esta liberdade institucionalizada nas esferas éticas das relações pessoais, da ação no mercado e na formação democrática da vontade. O autor mostra como em cada uma dessas esferas há uma complementaridade entre as ações dos distintos sujeitos na forma de um encontro de reconhecimento recíproco como iguais: as ações de cada um são condição da realização dos objetivos de sua contraparte e precisamente nisso realiza sua liberdade individual. A liberdade não é vista como um distanciamento em relação a outros, mas como um agir entrelaçado com eles.
Ao tratar da liberdade nas relações pessoais, o autor discute a amizade, as relações íntimas e a família, dando conta com maestria de um leque vasto de temas e de literatura por vezes polêmicos sobre a questão. Convém destacar o tratamento em separado das relações íntimas focadas na reciprocidade do desejo e da família como um lugar de solidariedade social. Para Honneth, aí se encontra a realização mais plena dos potenciais da liberdade. Talvez por isso mesmo seja este o capítulo mais bem-sucedido do livro, e que pode ser lido como um poema em homenagem à libertação do amor das amarras das múltiplas pretensões de dominação.
A terceira esfera de eticidade, a da formação democrática da vontade, trata da formação do pertencimento e da participação na esfera pública democrática, no Estado democrático de direito e, muito brevemente, da cultura política democrática como formas de institucionalização e realização da liberdade social. As instituições democráticas não são vistas primariamente como defesa da liberdade negativa, mas como formas de assegurar a participação ativa na definição pública dos destinos da sociedade. Infelizmente o foco de Honneth nesta reconstrução da história social e política pouco ultrapassa os limites da situação da Alemanha e da Europa. Experiências possivelmente mais bem-sucedidas de democratização e de participação em outros lugares são ignoradas pelo autor.
Ao analisar essas duas esferas da eticidade, Honneth apresenta um diagnóstico da atualidade de sociedades ocidentais capitalistas centrais com uma qualidade, solidez teórica e perspectiva realisticamente crítica como há muito não se tinha visto. Já por isso o livro pode ser considerado muito bem-sucedido em sua proposta de reconstrução normativa como forma de análise da sociedade que revela os princípios de justiça social a ela subjacentes. Isso não significa que ele esteja satisfeito com a realidade descrita; ao contrário, mesmo nas relações pessoais, espaço em que o autor enxerga uma evolução positiva, ainda são apontadas muitas deficiências. Para a participação política, as dificuldades diagnosticadas são ainda maiores: meios de comunicação em massa que falham em prover os cidadãos com informação e, ao em vez disso, o despolitizam, distraem e expõem maciçamente a campanhas de publicidade; partidos políticos cada vez mais autorreferenciados, que se dissociaram da tomada democrática de decisões, e um Estado cada vez mais a serviço da economia distorcem profundamente a eticidade democrática.
Problemática, no entanto, parece ser a análise que Honneth faz da dimensão da reprodução material da sociedade, focando-a na ação no mercado. A ela será, pois, necessário dedicar um pouco mais de atenção. Para Honneth, a compreensão da liberdade como interdependência eticamente contextualizada faz parte do ideário liberal moderno desde suas origens. Embora tradicionalmente a liberdade tenha sido vista como um agir estratégico, em parte devido à prevalência na ciência de uma perspectiva reducionista sob a égide de uma opção pelo individualismo metodológico, já em autores clássicos como Adam Smith a realização da liberdade no mercado estaria condicionada a uma atuação dos participantes como parceiros de comunicação que se referem intersubjetivamente uns aos outros (p. 319).
Também para hegel e Durkheim, o agir no mercado só poderia cumprir sua função de integrar livre e harmonicamente as atividades econômicas dos indivíduos se estiver ancorado numa consciência solidária que antecederia ao próprio contrato e obrigaria os participantes a agirem de modo equitativo e justo (p. 327). Portanto, segundo sua leitura, a coordenação das ações via mercado só seria possível se os sujeitos que fecham contratos entre si também se reconheçam reciprocamente como membros de uma comunidade ética (p. 329). Ou seja, a coordenação das ações pelo mercado seria incompleta se excluir determinadas regras éticas de ação não contratuais, mas igualmente vinculantes.
Polanyi deu continuidade a essa concepção com a defesa de um mercado socialmente integrado (embedded), que perderia sua legitimidade sempre que não cumprisse sua função de dar seguridade e reconhecimento a todos participantes. Ao postular suas teses sobre os componentes morais do contrato de trabalho e a internalização da ética profissional, também Parsons deu continuidade a esta tradição, que concebe o mercado como socialmente ancorado em convicções éticas extracontratuais. Com a reconstrução das bases normativas do mercado e a análise de seu desempenho na atualidade, Honneth se insere explicitamente nesta tradição. O agir no mercado não seria então uma ampliação da liberdade negativa, do indivíduo que expande sua vontade possessiva por sobre um campo aberto até a cerca do vizinho, mas a afirmação da liberdade social na esfera da economia.
Na análise subsequente sobre a esfera do consumo e o mercado de trabalho, o autor evidencia quão distante eles estão de realizar tal concepção de liberdade. Karl Marx havia caracterizado o capitalismo como voltado centralmente à produção de mercadorias e mais valia. Honneth poderia ter se remetido a essa ideia ao afirmar que na esfera do consumo o capitalismo atual está voltado basicamente para maximizar ganhos em vez de suprir necessidades. A desvalorização do trabalho, a diminuição dos salários e a exclusão de grandes parcelas da população, descritas pelo autor, também não permitem que o mercado seja considerado uma instituição da eticidade, destinada a realizar determinado valor.
De acordo com a reconstrução normativa, o mercado só pode funcionar na medida em que os atores se reconhecem primordialmente como membros iguais de uma comunidade cooperativa. Em sendo assim, Honneth teria que concluir que esta instituição central para o capitalismo fracassou totalmente, tanto porque é impossível realizar adequadamente a liberdade social na economia através do mercado, como porque a formação democrática da vontade está muito aquém de seus potenciais e daquilo que seria legítimo esperar. A concepção de liberdade que Honneth escavou nos escritos de alguns autores e construiu como uma unidade teórica não é, nem residualmente, referência dos atores determinantes do mercado e da esfera pública hoje em dia. Talvez aqui se revele certa idealização - ou mesmo o recurso a uma externalidade -, que o au-tor explicitamente queria evitar com seu procedimento metodológico.
A opção de Honneth de focalizar sua análise da reprodução material basicamente no mercado em suas facetas do consumo e do mercado de trabalho limita os méritos desta obra tão ousada. A meu ver, teria sido muito mais adequado tomar a produção e a circulação em seu conjunto como objeto da investigação na segunda esfera da eticidade. Em seu texto sobre trabalho e reconhecimento (Honneth, 2008), por exemplo, ele já estava próximo dessa ideia. Surpreende também que o reconhecimento seja tematizado em todo o livro como uma relação bastante pacífica, deslocando da análise a dimensão produtiva do conflito social, antes o centro de gravidade da teoria do reconhecimento. É como se a crítica de Paul Ricoeur (cf. Saavedra e Sobottka, 2009) tivesse tido um impacto tardio sobre Honneth.
Há duas outras lacunas que merecem menção. Uma é a dimensão ecológica que hoje adquire importância fundamental para o exercício de qualquer concepção de liberdade, mas que sequer aparece na obra. A outra é a total falta de tematização do mercado financeiro. Com a preponderância que a lógica do mercado financeiro e de seus operadores e servidores adquiriu na determinação da política e das demais dimensões públicas da vida atual, esta ausência significa um buraco negro na análise, de resto, impressionante que Axel Honneth faz da sociedade atual.
Se o leitor esperar dessa obra uma teoria sistemática da justiça, talvez conclua a leitura um pouco desapontado. A reconstrução normativa dos princípios de justiça social e a análise da sociedade é o modo peculiar de Honneth fazer sua teoria da justiça - uma teoria em ato.
BIBLIOGRAFIA
HONNETH, Axel. (2008), "Trabalho e reconhecimento: tentativa de uma redefinição". Civitas, 9(1):46-67.
SAAVEDRA, Giovani & SOBOTTKA, Emil. (2009), "Discursos filosóficos do reconhecimento". Civitas, 9(3):386-401.
EMIL A. SOBOTTA é sociólogo e cientista político, pesquisador do CNPq e professor na PUC-RS. E-mail: <sobottka@pucrs.br>.
Desmemória e desagravo: o retorno de Virgínia Leone Bicudo às ciências sociais no Brasil
Luiz Antonio de Castro Santos
Virgínia Leone BICUDO. Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo. Org. de Marcos Chor Maio. São Paulo, Editora Sociologia e Política, 2010. 193 páginas.
Como se explica uma dissertação de mestrado sobre as relações raciais, defendida com competência em 1945, na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo (ELSP), aguardar mais de meio século para ser publicada? A pergunta é inquietante, se considerarmos que os temas do racismo e do preconceito, com grande impacto nos dias atuais, já haviam conquistado um lugar de destaque nas ciências sociais neste país, quando a dissertação foi concluída. Por que o silêncio, desde então, sobre o trabalho de Virgínia Leone Bicudo?
Finalmente trazido a lume pela iniciativa de Marcos Chor Maio, pesquisador titular da Casa de Oswaldo Cruz, em cuidadosa edição da própria instituição que abrigou e formou Virgínia, o livro Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo vem acompanhado por um verdadeiro ritual propiciatório: uma apresentação, por Rodrigo Estramanho de Almeida, um prefácio, por Elide R. Bastos, uma introdução do organizador, Chor Maio, orelhas assinadas por Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti e mais cinco depoimentos elogiosos de outros cientistas sociais de renome, na contracapa. O livro acrescenta um caderno de imagens sobre a autora, sua família e colegas, além de impressos sobre a carreira profissional e institucional.
Feita a merecida homenagem nesta edição qua-se impecável - a que faltou apenas um índice onomástico e remissivo -, a pergunta que não quer calar: por que o silêncio, por tanto tempo? Pensei em adjetivar o silêncio como "inexplicável" e poderia então deixar de lado qualquer tentativa de resposta. Mas os leitores merecem algumas pistas, na verdade evocadas pela entrevista concedida a Marcos Chor Maio pela própria Virgínia Bicudo, em 1995, aos 85 anos de idade.1 1 Virgínia Bicudo faleceu em 2003; a entrevista foi publicada muitos anos depois, em 2010, mesmo ano do livro. Chor Maio realizou uma pesquisa de longa duração sobre Virgínia, tanto mais meritória por sabermos que, hoje, estudos desse calibre são desvalorizados por padronizadíssimas mensurações de desempenho dos pesquisadores, que, por isso, preferem a condensação e a ligeireza ao esmero e à maturação.
Pelas perguntas bem assestadas, vê-se logo que a entrevista requereu muita leitura prévia, uma cuidadosa preparação para que Marcos Chor se inteirasse da vida pessoal e profissional de Virgínia como pesquisadora, educadora sanitária, docente e psicanalista. Marcos Chor pôde assim captar as sutilezas, os processos e escolhas de uma biografia marcada por duras conquistas. Pela mágoa revelada ao entrevistador, Virgínia estaria sugerindo a discriminação do trabalho acadêmico de uma "mulher de cor" por seus contemporâneos? Esta é, no entanto, uma pista inviáve
para entendermos a protelação da publicação. Aparentemente, o sofrimento psíquico, uma vez estigmatizada como "negrinha pobre" por colegas nos bancos escolares, poderia explicar a opção, ainda jovem, por um curso de ciências sociais.2 2 Virgínia Bicudo, Depoimento concedido à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo para elaboração do Projeto Memória, São Paulo, 29/9/1989, p. 95. Mas o estigma dificilmente poderia explicar o longo silêncio em relação à publicação da obra.
Se buscarmos razões para publicação tão tardia, a hipótese sobre a discriminação por motivos de raça ou de cor deve ser afastada. As ciências sociais de sua época, fosse na sociologia da "Maria Antonia" (como veio também a ser conhecida a "escola paulista de sociologia" na USP), fosse na ELSP, foram justamente um espaço de denúncia, não somente da desigualdade racial mas sobretudo social. O exemplo de Florestan é revelador. Ele também tivera uma origem humilde. Se tomarmos a ferro e fogo outro desabafo de Virgínia, na citada entrevista, veremos que ela própria não fala em preconceito racial, mas em um suposto fosso "de classe", ou de "estirpe", entre os jovens sociólogos da também jovem USP e seus colegas da ELSP. Ela se refere (rindo, assinala o entrevistador...) aos "filhos de papai", aos "Almeida Prado", que não precisavam de "respaldo social para subir, para crescer". O riso é significativo, como se o antigo ressentimento tivesse sido trabalhado, anos a fio, pela formação psicanalítica de Virgínia, para tornar-se tranquila condescendência.
Transcrevo, da entrevista de VB, um pequeno trecho: "Por que a senhora não foi fazer o curso na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP?" (MCM). Virgínia: "Ah, porque lá eram os grã-finos e eu não era grã-fina. Pensa que eu era boba? [risos] Eu sabia escolher. Eu vi lá, tudo era filho de papai, Almeida Prado e eu não. A Escola de Sociologia é gente operária, é lá que eu vou. É isso. Sabe, a gente tinha esse feeling. [...] Por isso eu fui para Escola de Sociologia. Eu sentia que ali a gente podia ter um apoio para subir, para crescer. E na USP... ali eu sentia que já precisava ter respaldo social. Eu não tinha."
Contudo, bastaria uma rápida leitura da lista dos alunos matriculados nos primeiros anos da ELSP para constatamos um número considerável de sobrenomes ilustres, provindos das elites paulistas.3 3 Cf. anexo em I. Kantor, D. A. Maciel e J. A. Simões (orgs.), A Escola Livre de Sociologia e Política: anos de formação, 1933-1953, São Paulo, Editora Sociologia e Política, 2009. Isto é, havia por certo muitos "grã-finos" na escola de Virgínia. É natural que o entrevistador, por delicadeza e tato, deixasse de ir mais a fundo e assim poupasse Virgínia de algum constrangimento. Se não fosse por sua lhaneza, Marcos Chor teria também lembrado o contraexemplo do Florestan na USP. Se o próprio Florestan, por certo, não encontrou um clima favorável nesse ambiente de "grã-finos", quando ingressou na Faculdade de Filosofia,4 4 Cf. Sylvia Gemignani Garcia, Destino ímpar: sobre a formação de Florestan Fernandes, São Paulo, Editora 34, 2002, pp. 29-34. a origem de classe não impediu seus estudos pós-graduados por meio de uma dupla inserção, primeiro na ELSP e em seguida na USP. Seus trabalhos sobre os tupinambás - e a publicação deles, em pouco tempo - reafirmam o sucesso dos ritos de passagem do jovem Florestan. Entre 1947 e 1952, Florestan trabalhava na conclusão de A função social da guerra na sociedade tupinambá, que seria apresentada como tese à Faculdade de Filosofia. Nessa altura, o primeiro estudo sobre os tupinambás, fruto de sua dissertação de mestrado na ELSP, já havia sido publicado em São Paulo pela casa Progresso Editorial, em 1948. Mas recordemos que a dissertação de Virgínia já estava concluída e defendida, desde 1945. E não fora publicada.
Se a indiferença em relação à dissertação de Virgínia não se explica por critérios de distinção, uma hipótese plausível - esta, a que eu acolho - seria, na verdade, a distância da concepção metodológica adotada por Virgínia em relação às opções tomadas à época, um tanto rigidamente, pela academia paulista. Esse distanciamento já foi discutido por vários autores. A esse respeito, é fundamental a referência à "Introdução" de Marcos Chor Maio à presente obra (especialmente a p. 49) e à obra organizada por Kantor, Maciel e Simões.5 5 A Escola Livre de Sociologia e Política: anos de formação, 1933-1953; op. cit. Da mesma forma, o livro recente, organizado por Angelo Del Vecchio e Carla Diéguez, intitulado As pesquisas sobre o padrão de vida dos trabalhadores da cidade de São Paulo (Editora Sociologia e Política, 2008), esclarece esse ponto nebuloso na biografia de Virgínia: horace Davis e Samuel Lowrie, dois sociólogos de Columbia (e não de Chicago, cuja tradição intelectual iria ser preponderante na ELSP nos anos seguintes), lecionaram na Sociologia e Política e publicaram em periódicos como a Revista do Arquivo Municipal de São Paulo. Apesar da inclinação marxista de Davis - que chegou a ser monitorado pela polícia política em 1934 -, os textos de ambos, sobre as classes populares, tinham um forte conteúdo empírico,6 6 Ver "Apresentação", de Del Vecchio, em Angelo Del Vecchio e Carla Diéguez, As pesquisas sobre o padrão de vida dos trabalhadores da cidade de São Paulo, Editora Sociologia e Política, 2008, esp. p. 12. sem a orientação teórica, ou a preocupação conceitual marcante, que caracterizariam os textos de Florestan. A inclinação empírica se firmou, na Sociologia e Política, com o novo professor, Donald Pierson - este sim, filiado a uma das tradições mais fortes de Chicago, emanada do influente Robert E. Park. Pierson, e a meu ver só ele, foi a presença poderosa no texto de Virgínia.
Se procurei aqui traçar as razões da publicação tardia da obra, é porque julgo que a história editorial das ciências sociais no Brasil tem injustiças que precisam ser desvendadas. O desafio vale sempre que nos chame a atenção uma obra ou autor prematuramente "esquecido". Nesse ponto, minha procura das 'razões do esquecimento' vai dar com o próprio Pierson. O orientador de Virgínia na ELSP poderia ter contribuído para a publicação da dissertação de sua aluna? Não julgo cabível que sua discordância em relação às posições de Pierson, que atribuía ao "preconceito de cor" uma importância menor nas relações sociais no Brasil do que o "preconceito de classe", poderia causar uma reação ressentida de seu mestre e orientador. O fato é que, se atentarmos para a trajetória profissional de Donald Pierson em São Paulo, não era ele uma figura central no campo das ciências sociais emergentes. Veja-se, a propósito, as orelhas do livro que foi talvez "a obra teórica" de Pierson, Teoria e pesquisa em sociologia, publicado pela editora Melhoramentos em 1945: todos os elogios listados, "magnífico ensaio", "admirável livro" etc., provêm de pessoas estranhas ou sem prestígio diante dos mestres e alunos da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, nos idos de 1940. Os vínculos fraternos entre orientador e aluna - conforme relatou Virgínia a Marcos Chor - teriam superado as posições opostas de ambos em relação a preconceitos de classe e raça.
Resta ainda indagar: o que teria levado Marcos Chor Maio ao ato de desagravo, à ação que resgatou o texto de Virgínia Bicudo? Sem dúvida, seu faro de formidável pesquisador, em primeiro lugar. Mas cabem tantos outros fatores, entre os quais eu destacaria sua sensibilidade, cultivada durante anos, a temas e tópicos de raça e cultura no Brasil. A tese de doutorado de Maio, defendida em 1997, focalizou o Projeto Unesco e as pesquisas promovidas, desde 1950, por aquela organização, sobre as relações raciais no Brasil.7 7 Cf. Marcos Chor Maio, "O Projeto Unesco e a agenda das Ciências Sociais no Brasil dos anos 40 e 50", RBCS, 14 (41): 141-158, out. 1999. Na introdução ao livro de Virgínia, ele narra o convite que esta recebeu para incorporar-se ao Projeto Unesco (p. 44), com o objetivo de analisar as "atitudes raciais" entre alunos das escolas públicas da capital paulista. Partindo da ênfase inicial sobre a participação de Oracy Nogueira, parceiro de Virgínia na ELSP e no Projeto Unesco, Maio lançará um pouco mais tarde o foco sobre nossa autora e suas várias frentes de atuação. Essa descoberta de um perfil multifacetado está narrada na densa introdução que Maio preparou para o volume. Ali, cabalmente, traça-se o perfil da socióloga, educadora sanitária (professora-assistente de saúde mental na Faculdade de higiene e Saúde Pública e na Faculdade de Enfermagem da USP) e psicanalista (uma institution-builder de primeira grandeza no campo que se abriria em São Paulo para terapeutas sem formação em medicina).
Mas há ainda uma razão ponderável para saudarmos a publicação do texto de Virgínia e esta será, talvez, minha saudação de cunho pessoal. O "modo de produção" do texto atrai-me especialmente pelo contraste com os rumos atuais dos livros e artigos em ciências sociais e, sobretudo, das chamadas "ciências sociais da saúde". Agrada-me o texto solo de Virgínia Bicudo, em tempos de autorias coletivas por vezes ostensivamente abusadas e injustificáveis. Passadas tantas décadas, o fato de tratar-se de uma dissertação é menos importante do que sua expressão atual. Agrada-me a análise um tanto "colada" nos dados, sem grandes voos teóricos, mas que permite ao lei-tor a apreensão, em estado quase bruto, do material coletado por meio das entrevistas. Isso, vale lembrar, não admite confusão com a concepção atual de certos livros centrados na história oral, cujos depoimentos, transcritos sem cortes ou apenas condensados, poupam o organizador da obra de se posicionar diante dos depoimentos orais. Nada disso. Virgínia se coloca, ouve-se sua voz. Ainda que, como aponta Tânia Maria Campos Almeida, atravessa os depoimentos "uma forte questão de gênero", cujo foco cede lugar, na dissertação, à questão de raça.8 8 Ver o excelente ensaio de Tânia Maria Campos Almeida em C adernos Pagu, 36, jan.-jun. 2011, pp. 417-425.
Ao falar das "atitudes raciais" logo acima, empreguei aspas. O conceito de atitude, caro a sociólogos e psicólogos sociais naquele tempo, foi retomado anos depois por Gino Germani, em livro publicado para a editora Paidós (Estúdios sobre sociología y psicología social, 1966). A meu ver, foi Germani quem melhor descreveu as transmutações do termo no uso acadêmico. Na verdade, Virgínia Bicudo adotara o termo usual, "atitude" significando ao mesmo tempo o que hoje denominamos "representações" - Germani referia-se à conceituação durkheimiana - e ao que ele, Germani, distinguia como "atitude concreta", pauta de conduta (op. cit., cap. 3). Virgínia captou ambos os significados do termo "atitude". Ao realizar suas entrevistas com homens "de cor" e com mulheres negras e mulatas, em bairros de São Paulo e em uma clínica da Secretaria de Saúde, ou ouvir ex-militantes do movimento Frente Negra Brasileira, Virgínia estava de fato trabalhando, sobretudo, com representações individuais e coletivas, não apenas com atitudes ou pautas de conduta.
Deixo para o final um breve comentário sobre o que temos rotulado como as influências, em destaque. Dos autores que conheço, talvez Umberto Eco expresse com precisão minha angústia - que compartilho com ele - diante do terreno movediço das "influências" atribuídas a textos e autores.9 9 Umberto Eco, "Borges e a minha angústia da influência", cap. 8 de Sobre a literatura, Rio de Janeiro, Edições BestBolso, 2011. Confesso, desde logo, que já me atolei nesses perigosos lameiros, quando escrevi sobre Gilberto Freyre. Mas tenho me procurado redimir de tais descaminhos, por vezes enfadonhos e estéreis, particularmente quando autor e obra superam inegavelmente o influente... No caso de Atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo, o conceito de influências, no plural - novamente apelo a Umberto Eco - é um "conceito perigoso" (p. 117). Não resta dúvida, para todos que de algum modo se inclinaram sobre os escritos de Virgínia, que Donald Pier-son foi presença marcante em sua formação e em seus escritos. Se Pierson foi, por sua vez, fortemente influenciado por seu mestre e orientador, Robert E. Park, em Chicago, isso não implica que, supondo-se um processo inexorável de "influência em cadeia", Park tenha influenciado Virgínia Bicudo.10 10 Sobre Park e Pierson, veja-se o trabalho esclarecedor de Lícia do Prado Valladares, "A visita de Robert Park ao Brasil, o 'homem marginal' e a Bahia como laboratório", Cadernos CRH, 23 (58): 35-49, 2010. O instrumental de análise empregado por Virgínia Bicudo, ao debruçar-se sobre as entrevistas, é bastante simples, ainda que não raro certeiro. Não há influências ponderáveis, mas citações ou alusões passageiras a este ou aquele autor. (Sua voz, a voz de uma mulher discriminada, é que lhe dá a força própria e intransferível, ao falar do banimento do negro das esferas sociais do branco e do sentimento de inferioridade introjetado pelas atitudes dos brancos; isto nas páginas finais da dissertação.) Darei apenas um exemplo que não caberia, a rigor, no elenco de "influências" sobre o trabalho de Virgínia, citadas no "Prefácio" e pelo próprio organizador: penso em Everett Stonequist e no conceito que o tornou conhecido, de marginal man. A meu juízo, Stonequist é uma presença ilusória, ritualística, no livro. Está citado na bibliografia, mas dali não saiu para
o corpo da obra... Por outro lado, no depoimento a Marcos Chor Maio, Virgínia refere-se à figura de Radcliffe-Brown, que foi professor na ELSP entre 1942 e 1944: "- Este me impressionou muito", diz a seu entrevistador. Mas não o acolheu em sua dissertação. Impressionar seria influenciar? Estamos de volta a Umberto Eco e ao seu pertinente comentário sobre o "estranho jogo das influências" (p. 123). Se me refiro agora ao nome do antropólogo inglês, cabe outro exemplo recente, de observação a meu ver equivocada, que atribui uma inspiração "mais do que patente" do estrutural-funcionalismo de Radcliffe-Brown sobre Os parceiros do Rio Bonito, de Antonio Candido.11 11 O. R. Thomaz e João de Pina Cabral, "Radcliffe-Brown v. Antonio Candido: um debate inacabado", Mana, 17(1):187-204, 2011. No caso de Candido, estamos diante de um "influenciado" cuja obra supera de longe o "influente", justamente por trabalhar um leque de referências e pontos de vista diferenciados de maneira eclética, mas consistente; universal, mas radicalmente pessoal. No caso de Virgínia Bicudo, a influência de um autor solo - seu orientador - marca o texto de forma clara e afasta o convite à busca obsessiva de influências, que estão em parte alguma, de modo orgânico ou sistemático. Como tenho sugerido, este é um ponto menor. O que importa, agora, é lembrarmos que a obra seguirá seu caminho pelo gesto louvável de Marcos Chor Maio. Quem festejar o retorno de Virgínia Bicudo à história da ciência social no Brasil só poderá fazê-lo se creditar a Chor Maio o mérito pelo esmero, oportunidade e elegância da publicação.
Notas
LUIZ ANTONIO DE CASTRO SANTOS é sociólogo, professor-associado da Universidade do Estado do Rio de janeiro e pesquisador do CNPq. E-mail: <lacs@compuland.com.br>.
A corrupção e o roubo da cidadania no Brasil
Luciana Ballestrin
Céli Regina Jardim PINTO. A banalidade da corrupção: uma forma de governar o Brasil. Belo horizonte, Editora UFMG, 2011. 179 páginas.
O assunto da corrupção não é novo no Brasil. Nas duas experiências democráticas do país, presidentes foram eleitos com um vibrante discurso anticorrupção. No meio do caminho, a própria ditadura civil-militar elegeu o fim da corrupção e a derrota do comunismo como metas centrais do governo autoritário. E, mesmo no século XIX, o tema da corrupção aparecia na divulgação de charges e de caricaturas que ridicularizavam a má conduta das elites políticas imperiais. De lá para cá, houve uma mudança significativa nas denúncias de corrupção: hoje, o alvo atinge "pessoas" e não "instituições", como fora no período pré-republicano.
O tratamento da corrupção pela esfera pública foi igualmente modificado. A consolidação e o amadurecimento da democracia brasileira nos últimos vinte anos têm permitido uma maior publicização dos atos de corrupção, seguidos de investigação, processo, julgamento e condenação. Daí que não podemos afirmar que a corrupção do presente é maior do que a do passado, pois hoje possuímos melhores condições para os exercícios de accountability tanto horizontal quanto vertical.
A preocupação com a corrupção tem povoado o discurso político, o científico e o do senso comum no Brasil. Ela está presente nos cafés, nos bares, nas salas de aula, nos jornais, na televisão, na blogosfera, no parlamento etc. Partidos políticos, representantes, organizações da sociedade civil, intelectuais, empresários, jornalistas e cidadãos não organizados desaprovam a apropriação do interesse público pelo interesse privado. Pela pauta que o tema tem merecido, especialmente a partir da agenda da mídia hegemônica, um observador desatento poderia constatar uma aparente reversão na hierarquia de valores no Brasil contemporâneo: o triunfo do republicanismo do interesse público sobre o individualismo do interesse privado. Contudo, não é bem o caso: a ideia de interesse público é ainda extremamente frágil no país. Já o interesse privado, moralizado positivamente como valor político do capitalismo, particularizou a trajetória da relação entre Estado e Sociedade desde os tempos da colonização portuguesa. Ou seja, esteve legitimamente presente antes mesmo da constituição do Estado capitalista no Brasil.
Atualmente, o tom predominante nas denúncias de corrupção é essencialmente moralista e despolitizado. Os meios de comunicação se autoelegem como uma espécie de quarto poder neutro e fiscalizador, enfatizando o mau caráter e a falta de ética individual permitida pela impunidade institucional. Os "escândalos políticos midiáticos", termo cunhado por Venício Lima, são as notícias que vendem. Os corruptos e os corruptores estão sempre no "outro", e, neste caso, o "outro" é o Estado. Fica de fora a agência privada, a qual é composta inclusive por essa mesma mídia, cuja criação foi notoriamente beneficiada por suas relações escusas com o governo militar. O Estado passa a ser o espaço da corrupção - "da ineficiência, do roubo e da politicagem" e a sociedade civil (aqui incluindo o mercado) o da virtude - "do trabalho, da eficiência, e da honestidade" (p. 51). Transparência, boa gestão e lisura se afastam da ideia de funcionalismo público no Brasil, historicamente associado ao "empreguismo, protecionismo e pouco trabalho" (p. 112). Internacionalmente, tal construção foi reforçada pelo discurso anticorrupção neoliberal, através do estímulo às reformas de Estado downsizing, e à participação do Terceiro Setor na gestão pública por organismos internacionais em vários países do mundo.
A centralidade que o Estado e seus funcionários - concursados, contratados, eleitos ou comissionados - assume na discussão sobre corrupção no Brasil produz consequências perversas. A mais notável delas é o reforço ao sentimento de desconfiança pessoal em relação aos partidos políticos e ao Congresso Nacional, o que aumenta o desinteresse e o descaso das pessoas em relação à política. A própria necessidade da existência da "política" e de "políticos" passa a ser questionada, pois "todos são corruptos" e "assim sempre será". Como mostram diversas pesquisas do Latinobarômetro, isso pode descambar para uma descrença no próprio regime democrático, tornando-o aberto para soluções imediatistas, populistas, demagógicas e, mesmo, autoritárias. Da forma como tem sido conduzido, o debate sobre a corrupção surte um efeito reverso, isto é, ao invés de fortalecer a democracia, torna-a vulnerável a propostas antipolíticas. E, "a ausência de política é o caos, a guerra" (p. 62).
O livro de Céli Pinto surge em um momento muito apropriado, impregnado de discussões estéreis sobre a corrupção no Brasil. A autora se coloca na contracorrente das explicações fáceis que a entendem como algo que faz parte do DNA brasileiro (sempre apelando para o seu "jeitinho") e que fez uma escola de "ismos" negativos (adaptados ou originais): patrimonialismo, populismo, clientelismo, coronelismo. Para isso, é preciso romper com a noção de que corrupção é sinônimo de política, particularmente no Brasil; deslocar o debate sobre a corrupção do campo da moral para o campo da disputa pelo poder; perceber que, no Brasil, a corrupção é uma das gramáticas operantes, porém não a única. O objetivo do livro não é mensurar quanto o país é corrupto, mas sim examinar as condições que viabilizaram a corrupção como uma forma de governar recorrente no país.
São duas as teses centrais que permeiam a argumentação original da autora.A primeira delas é de que "a corrupção é um fenômeno da modernidade brasileira" (p. 21). Através dessa argumentação, Céli Pinto quer afastar o determinismo histórico das interpretações correntes sobre a corrupção no país, associando-a à modernidade no Brasil. Em outras palavras, a corrupção não é um resquício de um país arcaico, pré-moderno e pré-democrático. Valendo-se do conceito de modernidade desenvolvido por Stuart hall, a autora pretende atingir três objetivos: caracterizar o Brasil como moderno; afastar o conceito de modernidade de sua carga eurocêntrica, etapista e ideológica; hibridizar configurações em termos de predominância ou declínio, sem invocar totalidades idealizadas a serem buscadas. Isso permite entender que, no Brasil, os avanços significativos conquistados nos últimos anos em relação à democracia e à cidadania coabitam com padrões de comportamento tradicionais, excludentes e injustos. Diferentemente do tradicionalismo, a tradição dialoga com as instituições modernas, contribuição retirada do pensamento de José Maurício Domingues. É necessário, assim, ter em mente que aqui existe um cenário complexo de inclusão e exclusão definidor dessa modernidade. A desigualdade deixou de ser vista como característica não moderna, sendo parte constituinte da nossa própria modernidade.
A preocupação com a relação exclusão/inclusão no Brasil faz parte da trajetória acadêmica da autora. Resgatando um trabalho anterior, ela repassa a tortuosa trajetória da constituição do sujeito de direitos no Brasil. As constituições brasileiras são reveladoras na exclusão de sujeitos: pobres, mulheres, analfabetos, trabalhadores. Incluir sempre acarreta perda de poder, sobretudo, em um país com concentração de poder econômico e político, como o nosso. A Constituição de 1988 rompeu com essa lógica, sendo um exemplo da mobilização e da luta de vários setores da sociedade civil e política para a conquista da cidadania. As instituições representativas estão consolidadas, as eleições são idôneas e várias experiências de democracia participativa têm ocorrido nos âmbitos municipais. O país avança em termos de redistribuição de renda, diminuição do desemprego e outros indicadores sociais.
Este cenário positivo, porém, não eliminou o princípio articulador das relações sociais do país, que permite as condições de emergência da corrupção: "a legitimidade da hierarquia das desigualdades" (p. 14). Aqui reside a segunda e central tese do livro. A chave do entendimento para a corrupção no Brasil está na ausência da igualdade de direitos de fato, o que diferencia indivíduos na hierarquia social e está diretamente relacionado com o não dever de obediência às regras (uma espécie de "direito a ser corrupto"). Daí que nossa noção de igualdade é duplamente invertida: "ninguém se sente constrangido a cumprir a norma (a lei) e todos se sentem desiguais" (p. 32). O princípio da igualdade cede lugar para hierarquias múltiplas, "o que coloca o indivíduo sempre como subalterno e ao mesmo tempo superior a alguém, e, portanto não obrigado a submeter-se a um tratamento igualitário perante as leis e os regramentos jurídicos". "O não cumprimento da lei é um objeto de desejo, pois é o fundamento da diferenciação", por meio de uma valorização hierárquica (p. 44).
Por essa razão, a autora discorda da tese da "modernidade europeizada" de Jessé Souza: "aqui não houve a internalização do princípio de igualdade entre os desiguais" (p. 30), um princípio ideológico do capitalismo que prega a não hierarquia, a igualdade de oportunidades e a liberdade de escolha para todos. A modernidade brasileira está aberta à incorporação da tradição (hierárquica): "a hegemonia calcada na ilusão da igualdade cidadã não se realiza, o compromisso de viver como se todos fossem iguais perde força, e o princípio da desigualdade legitima uma formidável hierarquia entre os brasileiros" (p. 40). Basicamente, "as pessoas se sentem com direitos diferenciados, o que constitui a antítese da cidadania" (p. 54).
A corrupção, portanto, passou a ser um modo de governar, associada aos "processos de inclusão que mantiveram as desigualdades como característica central" (p. 36): "a desigualdade, portanto, conforma a modernidade, que não se esgota na sua característica econômica: tem um padrão complexo que alimenta e é alimentado pela hierarquia das desigualdades" (p. 38). Da mesma forma que a inclusão, o combate à corrupção "tem uma complexa relação com a perda de direitos" (p. 132), por isso são tarefas historicamente difíceis. A corrupção por si não define as desigualdades sociais e a exclusão; antes, é uma consequência e não uma causa delas.
Modernidade, desigualdade, hierarquia, exclusão e privilégio: estes são os conceitos que nos permitem entender a permissividade e a reprodução da corrupção no Brasil, que desconfiguram a noção de cidadania. A intolerância, ao menos discursiva, em relação à corrupção é uma intolerância rousseauniana ao regime da hierarquia e dos privilégios.
A corrupção, no entanto, está longe de ser prática exclusiva do Estado. A autora diferencia dois tipos de corrupção. A primeira e mais generalizada, diz respeito à relação entre a iniciativa privada - do empreiteiro, banqueiro ao cidadão - com o setor público. A sociedade aqui não é poupada e não constitui um reservatório ético e moral intocável. Se a sociedade fosse incorruptível, não haveria corrupção. A segunda, a mais combatida pela mídia, é a corrupção intra-Estado, que envolve desvio de verbas públicas, nepotismo e favorecimentos políticos dentro do Congresso Nacional - estimulados pela aliança entre multipartidarismo, presidencialismo de coalizão e partidos catch all. A corrupção no Estado é por definição a mais clássica, sendo muitas vezes justificada para o aceleramento do processo burocrático administrativo.
A noção de público aqui é fundamental. Provocativamente, a autora discorda de que haja confusão entre o público e o privado no Brasil, a clássica tese de Sérgio Buarque de hollanda. A questão crucial no Brasil é a privatização do público tanto por agentes privados quanto públicos. Tal colonização do público pelo privado foi primeiramente teorizada por hannah Arendt e Jürgen habermas como crítica à sociedade burguesa de massas e ao declínio da esfera pública. A noção de público em questão, que não é estatal, nem privado, compreende "um conjunto heterodoxo de serviços, direitos, recursos monetários, propriedades que pertencem à população de um país" (p. 64). Para a autora, "não há sentido de público como propriedade de todos" (p. 68) no Brasil. Isso vale para a elite burguesa, classes médias e classes populares, com distintas justificações.
As classes médias cumprem um importante papel na desqualificação do público. Reproduzindo uma ideologia individualista, suas ações e ganhos são valorizados pela meritocracia individual. Ao pagar impostos, sente-se roubada. O público é exaltado somente quando seus filhos entram para as universidades públicas ou passam em concursos para a alta burocracia estatal. Para a autora, as classes médias são "portadoras de um discurso moralista, anticorrupção, conservador e não igualitário, uma vez que se sentem portadoras de direitos diferenciados; acreditam que seu status advém de mérito próprio em relação aos de baixo. São antipolítica, anti-Estado. Como são formadoras de opinião têm uma imprensa muita atenta às suas demandas e ideias" (p. 33). Paradoxalmente, ela é "a campeã dos pequenos delitos" (p. 33). E a suposta opinião pública brasileira sobre a corrupção reproduz uma opinião típica de classe média, na qual a sociedade e o "cidadão de bem" são vitimizados. Mas, "os atos de corrupção, corruptos e corruptores não estão em um distante 'outro', amoral, aético, perigoso, bandido, mas fazem parte da forma de toda a sociedade brasileira se relacionar com o ente público" (p. 10). O corrupto não é anterior à corrupção. Ainda que escândalos de corrupção sejam armas eleitorais e moedas políticas, inclusive entre os próprios políticos, as pessoas em geral não deixam de votar em alguém por seu passado envolvendo algum ilícito. Em 2005, o meteórico movimento "Cansei" (de corrupção) protagonizado por "celebridades" exprime bem os limites da indignação moralista baseada no senso comum no combate à corrupção. Entretanto, o projeto "Ficha Limpa" se constituiu em uma ação realmente mobilizadora.
Dois capítulos são reservados para uma análise mais empírica sobre o modus operandi da corrupção. É principalmente no âmbito municipal que a corrupção encontra seu sentido como forma de governar, trazendo a autora um elenco de casos do interior no Brasil, especialmente do Nordeste, que retrata o cotidiano da corrupção no exercício da atividade política. O desvio de verbas federais, as fraudes nas licitações, a montagem de esquemas milionários e o emprego de parentes são alguns exemplos. A esse último ponto é dedicado um capítulo especial, em virtude dos escândalos ocorridos no Senado e da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, que proibiu o nepotismo com base na Constituição Federal, ambos em 2008. Associados diretamente aos cargos comissionados (CCs), muitos parlamentares ainda acreditam que a indicação de familiares para cargos públicos é algo legítimo do seu direito de posição e de agente privilegiado.
O Estado, a mídia e a sociedade civil são atores potenciais para o combate à corrupção. No âmbito do Estado, a autora enfatiza a importância do Ministério Público enquanto um poder independente, fiscalizador e garantidor de direitos. Sua atuação é mais significativa do que a da sociedade civil nessa área, visto que o próprio tema da corrupção não possui um apelo maior de mobilização. Exemplos de envolvimento da sociedade civil no combate à corrupção foram os episódios envolvendo o impeachment do ex-presidente Collor e os escândalos do Mensalão. Atualmente, são poucas as organizações que se dedicam ao tema da corrupção no Brasil, com destaque para a Transparência Brasil.
Céli Pinto traz as contribuições de Nancy Fraser e Axel Honneth para o pensamento de uma possível transformação. A redistribuição econômica e o reconhecimento cultural são medidas para a desnaturalização dos privilégios de classe e status, respectivamente. Ainda que a autora não aprofunde tal discussão nesse livro, para ela, a teoria crítica contemporânea é capaz de fornecer alguns elementos para o rompimento da concentração de poder econômico e político, bem como para o desmantelamento da legitimidade da hierarquia das desigualdades. A equação é simples: "quanto maior for o poder assumido pelos despoderados, menos poderes terão as elites poderosas; quanto menos se descumprirem as normas legais, mais direitos se conquistam" (p. 158). Quanto ao interesse público, a autora adverte que seu conteúdo não possui um sentido fixo: ele "é efeito de sucessivas inclusões que redimensionam direitos e interesses de classes e grupos constantemente" (p. 81). O reconhecimento do direito a ter direitos (iguais) está na base para a deslegitimação da hierarquia, para a construção de um público de todos e para a percepção da corrupção como violação ao sentido desse público.
Céli Pinto nos ensina que o fenômeno da corrupção não é exclusivo de uma região ou país, partido político, ideologia, tempo histórico, sistema econômico, regime político (p. 7). Para o entendermos no Brasil, é preciso chegar ao sentido da frase já analisada antropologicamente: "Com quem você pensa que está falando?". A legitimidade da hierarquia das desigualdades é uma hipótese da autora circunscrita ao Brasil, sem pretensão generalizante. Ela está enraizada na nossa cultura, misturando complexo de periferia, elitismo e subalternidade. O livro de Céli Pinto é uma crítica contundente à banalidade da corrupção que rouba diariamente nossa cidadania. Sua maior contribuição é a instigação comprometida e sincera, condizente com a história intelectual da autora, para que não desistamos do Brasil.
LUCIANA BALLESTRIN é professora-adjunta de Ciência Política na Universidade Federal de Pelotas. E-mail: <luballestra@gmail.com>.
Nas rotas de uma cadeia global de mercadorias: um olhar "made in Brazil" para a China contemporânea
Isadora Lins França
Rosana PINHEIRO-MACHADO. Made in China: (in)formalidade, pirataria e redes sociais na rota China-Paraguai-Brasil. São Paulo, hucitec, Anpocs, 2011. 340 páginas.
São tão rápidas as transformações pelas quais parece passar o mundo hoje, como numerosas são as tentativas de compreensão - e de regulação - de novas configurações políticas e econômicas. Estupefatos, vemos uma China tão presente em nossa vida como distante do nosso repertório de compreensão do mundo. Os chineses surgem nas paisagens das cidades com suas lojas abarrotadas de produtos de todo tipo, representando a certeza de se encontrar algo barato e familiar: "tem de tudo", em versões mais ou menos próximas das "originais". Aparecem também quando, muitas vezes, satisfeitos em adquirir a mais recente novidade tecnológica, descobrimos que toda a nossa euforia é "Made in China". Ou quando nos damos conta de que o "Made in France" é, também, parcial ou integralmente, "Made in China". O livro de Rosana Pinheiro-Machado não poderia ter um título mais adequado: Made in China: (in)formalidade, pirataria e redes sociais na rota China-Paraguai-Brasil é fruto de um esforço de anos de pesquisa no sentido de desvelar conexões, relações sociais e rotas que estão por trás de uma parte das relações que temos com os chineses: o consumo de "mercadorias baratas, bugigangas e imitações" produzidas por pequenas e médias indústrias chinesas e vendidas em mercados populares no Brasil. É, também, um trabalho pioneiro, pois a autora realizou a pesquisa de campo na China, país cujo conhecimento é hoje estratégico sob muitos pontos de vista.
Não é tarefa simples escrever sobre um trabalho que foi agraciado com prêmios importantes na área das Ciências Sociais no Brasil. O que apontar que já não tenha sido merecidamente reconhecido? Talvez não se trate apenas de reforçar as qualidades do trabalho, que já são mais do que evidentes a esta altura, mas de situar algumas das contribuições originais trazidas pela pesquisa, para compreender, a partir da antropologia, um cenário que muitas vezes parece restrito às análises de economistas e técnicos de governo. É muito bem-vindo o esforço de realizar uma etnografia multissituada no centro - ou nas margens, a depender da perspectiva que se adota - do contemporâneo sistema de produção, circulação e consumo de mercadorias.
Assim, é preciso pontuar, antes de tudo, como a antropologia permite à autora uma perspectiva inovadora: o caráter artesanal da pesquisa na disciplina possibilita observar de muito perto as conexões entre produtores e comerciantes chineses, paraguaios e atravessadores e consumidores brasileiros. Aquilo que eventualmente poderia ser descrito por meio de frias tabelas, ganha vivacidade e sotaque na investigação de Rosana Pinheiro-Machado.
O trabalho é resultado de um processo de pesquisa que compreende todo o período de formação da autora, desde a graduação. Da mesma maneira que a pesquisadora nos convida a traçar as rotas do comércio transnacional, seu próprio percurso permite perceber como essas rotas foram paulatinamente ganhando coerência no decorrer de uma década de pesquisa (1999-2009): se os atores têm acesso apenas parcial a essa cadeia, a antropóloga tem a oportunidade de reconstruir os nexos que os unem. A trajetória inicia-se com a etnografia de um camelódromo de Porto Alegre, passa pelos trânsitos de vendedores e de mercadorias entre Paraguai e Brasil e deságua nas indústrias da área do Grande Delta chinês. Estamos tratando, portanto, de um empreendimento etnográfico de duração considerável e estabelecido com o deslocamento espacial como recurso metodológico.
Outro recurso metodológico acionado pela pesquisadora não só possibilitou a realização da pesquisa, como o entendimento de uma categoria fundamental no universo de práticas e relações sociais chinês: o guanxi. Objeto de análise no decorrer do livro, o guanxi surge já no capítulo inicial, quando o leitor é introduzido aos dilemas, (des) venturas e soluções encontrados pela antropóloga ao se acercar de um objeto de pesquisa que demandava o manejo não apenas de uma língua de raiz diferente das línguas ocidentais, como de um sistema muito diverso de organização das relações pessoais. O guanxi integra esse sistema, implicando a "formação de conexões pessoais diádicas, que pressupõem uma ética de obrigações" (p. 154). Embora a reciprocidade seja conceito fundamental das Ciências Sociais desde Marcel Mauss, ao que se poderia argumentar que não há nada de novo no guanxi, é preciso ressaltar que a ideia de reciprocidade por si só não esgota o entendimento dessa prática, uma vez que ela integra e produz um sofisticado sistema envolvendo moralidades e hierarquias e se reveste de sentidos singulares na economia das trocas simbólicas e materiais na China, como bem demonstra Rosana Pinheiro-Machado.
Pois a prática do guanxi foi o que possibilitou à pesquisadora uma entrada em campo, através dos laços de reciprocidade estabelecidos com sua professora de chinês, que a introduziu na sua rede de relações, envolvendo comerciantes, empresários e policiais chineses. Os caminhos percorridos, porém, eram tortuosos na medida em que dependiam dos interesses dessa mulher chinesa de poucas chances no mercado matrimonial - posto que mãe e mais velha do que o desejável naquele mercado. Tal contexto, por vezes frustrante, foi manejado com rara habilidade pela pesquisadora, que descreve num texto saboroso como passa a tirar partido analítico diante das artimanhas de uma professora/ intérprete que colocava suas próprias necessidades à frente da pesquisa e transformava entrevistados em potenciais pretendentes ou parceiros sexuais, dos quais podia obter ganhos materiais e/ou afetivos. As próprias práticas dessa "informante-chave", assim, vão abrindo janelas para que o leitor possa compreender as mudanças dramáticas pelas quais atravessa uma China que, nas palavras da autora, "transformou-se revolucionariamente em direção a qualquer coisa de global e moderno" (p. 80).
É possível já anotar nessa capítulo uma contribuição interessante para a discussão sobre ética e metodologia na pesquisa etnográfica: ao explicitar a importância da relação com Feifei, a professora, e o pagamento de suas horas de trabalho - não apenas para que esse trabalho se efetuasse, mas para que pudesse estabelecer os limites entre informante ou antropóloga - surge uma rica discussão a respeito das trocas que inevitavelmente são estabelecidas numa relação de pesquisa. Ainda sobre trocas, essa passagem serve para um diálogo com a literatura sobre a prática do guanxi e as relações entre homens e mulheres, bem como para uma abordagem perspicaz sobre trocas e afetos em meio a convenções de gênero e sexualidade que vigoram naquele contexto e que também se encontram em constante deslocamento. Não só nessa passagem, como nos capítulos finais, em que são discutidas as relações entre homens e mulheres numa situação de interação entre chineses, paraguaios e brasileiros, fica a sensação de que uma interlocução com a literatura do campo dos estudos de gênero e sexualidade, no que concerne a trocas envolvendo afeto, dinheiro, bens e sexo, traria proveitosos resultados tanto para o campo desses estudos como para a análise. Embora esse não seja o foco da autora, que já articula uma extensa bibliografia sobre diversos temas mais centrais ao seu problema de pesquisa, a qualidade dos dados referentes a gênero e sexualidade é instigante para um leitor dessa área.
A leitura dos capítulos 2 e 3 também remete à discussão de gênero quando as mulheres aparecem como "o lado mais frágil do sistema" e foco privilegiado de "ONGs, associações e sindicatos" (p. 141), ao tratar daquilo anunciado como "condições mais objetivas da produção chinesa e do seu crescimento econômico" (p. 37). Nesses capítulos, temos um elucidativo quadro que permite traçar as conexões entre a situação precária do trabalho em geral e o crescimento econômico atual que caracteriza o direcionamento da China para uma economia de mercado - processo ainda incompleto. Percebemos, então, que o empreendedorismo como objetivo de vida, que estimula a criação de inúmeras fábricas, inseridas num cenário em que a linha entre formalidade e informalidade é tênue, está ligado à valorização de práticas de consumo capazes de denotar inserção num contexto global que, por sua vez, também tem relações com as estratégias do desenvolvimentismo chinês e com a precariedade do trabalho nas fábricas, e assim por diante, até que se feche um círculo que permite entender o contexto chinês sem recorrer a exotizações. Para além disso, marca a leitura não apenas a recorrência à literatura sobre a China e a fontes de dados diversos, mas a empatia da antropóloga, bem como a vívida descrição de sua experiência solitária em meio às duras condições dos trabalhadores e migrantes chineses, trazendo à tona mais uma vez a discussão entre relativismo cultural e direitos humanos.
No capítulo 4, a "dimensão subjetiva" desse processo é abordada, definida pela autora como "tudo aquilo que não diz respeito ao modo de produção, bens, infraestrutura, máquinas ou sistemas de exportação" (p. 37). O guanxi, então, volta à baila para ganhar status não só de recurso metodológico como também de categoria de análise. Aqui, uma pergunta central deve ser feita: se evidentemente a China aparece inserida num capitalismo global, seria possível falar de um "capitalismo chinês", ou seja, de uma maneira particular de funcionamento do sistema capitalista? A própria relação de intersubjetividade da etnografia e a prática do guanxi como recurso metodológico em diversas situações permite que se fale em um "capitalismo chinês", definido pela autora como "a indigenização do mercado a partir da incorporação das regras locais do guanxi" (p. 149). Recorre-se, então, à prática etnográfica e à problematização já conhecida na discussão sobre consumo na antropologia a respeito de oposições entre público e privado, interesse e sentimento, dádiva e mercadoria, entre outras, para analisar a tessitura de uma malha social formada por um sistema de trocas materiais e imateriais. A pesquisadora contribui, assim, para a extensa discussão sobre o guanxi e a especificidade do capitalismo chinês baseada em um lugar original.
As relações de parentesco, vizinhança, coleguismo, entre outras, são base para o estabelecimento de guanxi. Quando elas inexistem, são acionados banquetes como dádiva, no intuito de estabelecer conexões. Esse sistema de obrigações constitui vínculos que permeiam a realização de acordos e negócios no contexto chinês, viabilizando as atividades de mercado e, ao mesmo tempo, instituindo trocas de favores que se encontram entre a legalidade e a ilegalidade. Assim, por meio do acionamento das redes sociais de Feifei, sua "informante-chave", e do estabelecimento do guanxi, a antropóloga teve oportunidade de participar de ocasiões sociais altamente ritualizadas, que lhes permitiram saber um pouco mais acerca da vida de jovens empresários chineses que haviam migrado do campo e obtido rápido sucesso na cidade; conhecer grandes empresários da cidade de Shenzhen e uma fábrica que produzia "originais" e "cópias", por intermédio de um policial que tinha uma dívida de gratidão com o pai de Feifei; e, por fim, estabelecer relações com empresários italianos proprietários de uma fábrica que produzia bens para algumas da principais grifes da Itália. Os encontros etnográficos possibilitaram, dessa maneira, refletir sobre "o complexo encontro do Estado e do mercado e a forma como o capitalismo - aliado a um idioma nativo de trocas, presentes, sentimentos, etiquetas e emoções - encontra lugar na China pós-Mao" (p. 184).
É também por meio da experiência etnográfica no contraste com a literatura que a autora oferece outra contribuição original a uma discussão de grande relevância. A questão da "pirataria", da propriedade intelectual e das medidas regulatórias e repressivas à comercialização de "cópias" ou "produtos falsificados" tem gerado amplos debates internacionais, em que mais comumente os sujeitos autorizados a falar têm sido representantes dos Estados, operadores ou pesquisadores da área do direito, da economia, das relações internacionais, entre outros, que, seguramente, não incluem antropólogos. No entanto, a atuação dos movimentos sociais que desafiam os acordos internacionais de regulação da propriedade intelectual e do comércio tem se restringido quase majoritariamente à esfera dos bens culturais (destacadamente, softwares, obras artísticas reprodutíveis, livros). A discussão, embora concentrada no capítulo 5, está presente em muitos momentos do livro, evidenciando seu lugar duplamente diferenciado: ao mesmo tempo, situa-se a partir da antropologia e trata de bens cuja comercialização é tida como menos moralmente defensável, como cópias de bolsas ou relógios do mercado de luxo. Além de explorar como a produção da cópia está histórica e culturalmente enraizada na China e nas suas estratégias político-econômicas, sua abordagem também demonstra que é impossível separar a produção chinesa do que se convencionou chamar negativamente de "pirataria", da velocidade de fluxos e flexibilização envolvendo as técnicas de produção capitalista atuais num plano global. A antropologia aparece aqui como uma possibilidade de interpretação sobre oposições "original" versus "cópia" ou "autêntico" versus "falso", não a partir de polarizações, mas do pressuposto de que tais noções só podem ser analisadas se consideramos que "o estudo de mercadorias falsificadas ou da construção da autenticidade deve levar em consideração múltiplas vozes e esferas" (p. 200).
Se as análises a respeito do guanxi e da produção de "bugigangas" ou "cópias" perpassam todo o livro, estruturando muitos dos argumentos e análises apresentados, há uma costura entre os capítulos que vai se delineando mais fortemente conforme nos aproximamos do final do livro, ligando os pontos de uma cadeia comercial entre China, Paraguai e Brasil. Ciudad del Este é retratada como ponto nervoso dessa cadeia, pano de fundo da interação entre chineses, paraguaios e brasileiros e marcada pela intensa circulação de mercadorias, dinheiro e pessoas. Nesse processo, que remete à diáspora chinesa e à construção do poderio chinês no exterior, se dão relações de tensão entre pessoas de diferentes países, produzindo os "chineses" - apesar e através de diferentes origens regionais - e também os "outros", e vice-versa. Tensas relações de diferença, hierarquia e desigualdade também se constituem nesses meandros, que de certo modo reproduzem e rearticulam na vida social as relações institucionais mais amplas envolvendo negócios na fronteira. A mobilidade, porém, não se formata apenas de acordo com o rumo do mercado, mas também precisa responder ao impacto das políticas de controle do contrabando e da falsificação ancoradas em acordos internacionais (especialmente no acordo TRIPs/OMC), como as implementadas pelo Estado brasileiro nos anos 2000, que vão paulatinamente deslocando a importância de Ciudad del Este e provocando novas migrações. No capítulo 8, acompanhamos o que a pesquisadora chama de "etnografia da fiscalização", tirando partido das viagens com sacoleiros brasileiros e da pesquisa com agentes da Receita e da Polícia Federal para conhecer melhor as dinâmicas dos fluxos de mercadorias e de pessoas, bem como as ações da fiscalização - e os contextos de vulnerabilidade e violência daí decorrentes.
Nos últimos parágrafos do livro, a autora assinala a importância dos "dados primários obtidos por meio de observação participante" (p. 325), no sentido de reconstruir uma cadeia mercantil sobre a qual até então se tinha um conhecimento bastante incompleto. O desafio a que se propôs, entretanto, demandava uma abordagem capaz de alinhavar continuamente processos sociais e econômicos de diferentes escalas com a análise das situações muitas vezes fugidias proporcionadas pela pesquisa de campo, percurso permeado por debates contemporâneos de grande relevância, abrangendo disputas sobre direitos intelectuais e fronteiras tênues entre legalidade e ilegalidade, formalidade e informalidade. Tendo, porém, a corroborar que, se o livro é permeado por discussões importantes sob variados aspectos, é a pesquisa etnográfica proporcionada pela imersão em campo e marcada pela empatia com os atores sociais que singulariza a contribuição apresentada pela antropóloga, materializada num texto admiravelmente claro e de notável honestidade intelectual.
ISADORA LINS FRANÇA é doutora em ciências sociais (Unicamp) e pesquisadora colaboradora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu/Unicamp. E-mail: <isa.linsf@gmail.com>.
Fronteira intranquila
Taniele Rui
Gabriel de Santis FELTRAN. Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo, Editora da Unesp/CEM/Cebrap, 2011. 366 páginas.
Verbetes do dicionário alçados à epígrafe avisam: fronteira de tensão é uma fronteira viva. E fronteira viva é daquele tipo que é fruto do paulatino processo histórico, retraçada através de choques ou lutas (muitas vezes, armadas). Não é visível em mapas; não há placas a indicar seus contornos; está longe de ser uma linha divisória, uma raia, um marco fixo, ou a representação do fim. Sobretudo, uma fronteira viva não está morta, portanto, não está tranquila; ao contrário, impregnada de incertezas, é constituída pelo desassossego - o nome íntimo do conflito.
O livro de Gabriel Feltran debruça-se, desde o título, sobre as Fronteiras de tensão entre política e violência que conectam e também separam as periferias da cidade de São Paulo e o mundo público. Levando ao paroxismo as sugestões do vocábulo, o autor mergulha profundamente na vida de moradores de Sapopemba, zona leste da metrópole, deixando-se guiar por uma rede de trajetórias que, em algum momento entre 2005 e 2010, passou pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca), situado no distrito, mediador e também protagonista desta investigação.
O hoje livro já foi um dia tese merecidamente agraciada pela Anpocs com o prêmio melhor tese de doutorado em ciências sociais de 2009. Três anos separam a publicação de um trabalho e de outro. Tempo suficiente para notar minúsculas, mas importantes mudanças tecidas ao longo do contato com redes de interlocução e de incessantes reflexões que, talhadas por elogiável escrita e por rara habilidade de tornar o mundo mais compreensível, conferem ao livro o privilégio de obrigatório.
O desafio perseguido é difícil: falar de violência, que é também o tema que recentemente marca a fala pública sobre as periferias urbanas, tentando escapar, página a página, das generalizações midiáticas e dos olhares externos que teimam em retratar tais territórios como marcados por homicídios, tráfico de drogas, assaltos e conflitos cotidianos com a polícia. Lançar outra perspectiva de observação é o que de fato importa.
Para fazê-lo, Feltran dá, primeiro, um passo atrás: recorda-nos de que nem sempre foi a partir da violência que se falou publicamente desses territórios. Basta remontar às décadas de 1970 e 1980, e a uma série de estudos acadêmicos - entre os quais o anterior dele1 1 Gabriel Feltran, Desvelar a política na periferia: histórias de movimentos sociais em São Paulo, São Paulo, Humanitas, 2005. se inclui - para lembrar que, quando se ia até às periferias, era para falar de política. Reduto da família operária alicerçada em torno da migração, do projeto de ascensão social coletivo, trabalho fabril e teologia católica, as periferias eram o lugar onde surgiam grupos de sindicalistas e para onde se deslocavam setores "de esquerda" das classes médias. Tais características chegaram a figurar, na cena pública, a "periferia trabalhadora" como lócus de emergência dos chamados "novos movimentos sociais". O autor relembra - e convém repetir porque não se pode correr o risco de esquecer - que nelas já se depositou, em boa parte, a promessa de democratização do país.
Aqui se nota uma importante contribuição do livro: ele atualiza empiricamente um cenário já tarimbado das ciências sociais e recoloca o debate. Mostra que, de então e em diante, muita coisa aconteceu: duas gerações nasceram e cresceram, os arranjos familiares se complexificaram, o país formalmente se democratizou, a infraestrutura urbana é visível, o acesso ao crédito, bem como às políticas sociais, foi ampliado. No mesmo passo, a reestruturação produtiva flexibilizou e precarizou vínculos e direitos trabalhistas, a representação dos movimentos populares decresceu, o pentecostalismo ganhou espaço, fiéis e dinheiro, as políticas de encarceramento se acirraram, o mundo do crime se expandiu.
É nesse caldo efervescente de modificações sociais que um dos principais argumentos do autor ganha ponto de partida, a saber, a expansão do mundo do crime "não pode ser compreendida exceto se captada analiticamente em sintonia a essas transformações, e a partir das relações que trava com as dinâmicas sociais consideradas legais e legítimas" (p. 4). Tal afirmativa sintetiza outra de suas contribuições, dessa vez analítica: trata-se de apreender, com olhos muito atentos às transformações, nexos e relações entre instâncias legais e ilegais, legítimas e ilegítimas que, no cenário em tela, atravessam e são atravessadas ou, usando as palavras que o autor gosta mais, tencionam e são tensionadas pelo mundo do crime.
E já que se fala tanto dele, um cuidado com as definições. Expressão amplamente utilizada, mundo do crime designa, num primeiro momento, e a partir das perspectivas dos jovens e adolescentes das periferias, "um conjunto de códigos sociais, sociabilidades, relações objetivas e discursivas que se estabelecem, prioritariamente, no âmbito local, em torno dos negócios ilícitos do narcotráfico, dos roubos, dos assaltos e dos furtos" (p. 19). Num sentido, ela é bem menos que referência a esmo a qualquer tipo de atividade criminal e ilícita, em qualquer ambiente. Mas ela também pode ser mais que as perspectivas dos jovens e adolescentes destacadas, pois
[...] não se está no crime apenas quem pratica crimes; também compartilha com essa sociabilidade quem se relaciona diretamente com ele. Por isso, um menino envolvido já quer dizer muita gente envolvida, indiretamente [...]; há a família, os amigos, outras instituições. O número se amplifica. Mas, além disso, está mais claro pra mim que o mundo do crime inclui uma forma de vida, códigos e uma concepção de mundo que entra na briga com tantas outras, e inclui mesmo uma parcela da população que não é diretamente implicada nos negócios da droga, dos roubos. Não se trata mais de algo residual (p. 63).
Se não é mais residual, urge pensar tal alargamento do léxico e da semântica do crime no tecido social local. Desse modo, ao argumentar por essa expansão, e ao reter cuidadosamente a expressão, o que está em jogo são dimensões políticas mais importantes do que o aumento de um exército criminal de reserva, bem como uma perspectiva analítica mais interessante do que o mero postulado do crescimento, em si mesmo, das atividades ilícitas nas periferias. O que vale são as relações e principalmente as fronteiras, sempre vivas, em disputa, que tal expansão redefine.
Durante o período observado pelo autor, este era o cenário delineado: de um lado da fronteira, internamente às periferias, opera-se a partir da ampliação do marco discursivo do crime - como dito, especificamente entre a parcela mais pobre de sua população jovem, que situa o tráfico de drogas e o crime local como parte da comunidade, não seu oposto. Do outro lado, retroalimentando o mesmo processo que a erige, retoma-se a criminalização das periferias urbanas e suas populações, no debate público e no senso comum.
Gabriel formula que tal processo de criminalização tende a se confrontar, na cena pública, com aquela outra figuração ideológica, um dia igualmente construída - a da "periferia trabalhadora", numa disputa que, infelizmente, está bem longe de ser apenas abstrata. Cotidianamente, o conflito se dá pela necessidade de classificação de indivíduos e grupos moradores desses territórios, de modo a situá-los de um ou outro lado da fronteira, produzindo a representação de que há duas populações essencialmente distintas, em dois lados opostos da vida social: os trabalhadores e os bandidos.
Contudo, abusando das expressões do autor, "acontecimentos que são assunto no mundo público são casos concretos em Sapopemba". O longo caminho que persegue a hipótese de expansão do mundo do crime (parte 1 do livro) é trilhado no esforço de desconstrução das identificações polares - e, portanto, insuficientes analiticamente - de trabalhadores e bandidos e, mais que tudo, é apontado pelo próprio mundo empírico, pelas histórias de muita gente.
Histórias como a de Pedro que foi virando ladrão e, depois de topar com a morte, fez o caminho de volta, de conversão: viu que era "tudo ilusão".
Histórias também como a de seu Cláudio e dona Sílvia, pais de três filhos, que chegaram a Sapopemba quando era "tudo mato" e que viram o bairro se tornar cidade. Amparados num projeto de ascensão social a partir do trabalho, o casal desdobrou-se para garantir um futuro melhor para todos - o que, em certa medida, aconteceu. A família até lidou com histórias de drogas e de conflito com a polícia durante a adolescência de um dos filhos, mas conseguiu passar por elas a ponto de distanciar-se das experiências e dos códigos do mundo do crime. "Classe média no horizonte, periferia na memória". "Grande parte dos moradores de Sapopemba", nos conta Gabriel, "vive assim".
Não é esse o caso de Maria, mãe de Jonatas, Michel e Robson, que por um tempo tentou investir só nos estudos dos filhos, mas a opção pelo trabalho, que enobrece, prevaleceu: primogênito, desde os 12 anos Jonatas trabalhou. Foi ele o primeiro a entrar nas drogas, o primeiro a entrar pro crime, o primeiro a ser preso, o primeiro a morrer aos 17 anos- ao que tudo indica assassinado por um policial. Na sequência, depois de trilhar semelhante caminho, quem morreu foi Robson, também aos 17, dessa vez por um acerto de contas do próprio crime - parece que ele não tinha proceder. Michel sobreviveu. Nessa trajetória familiar, brevemente sintetizada, o crime não permaneceu exterior à família, mas invadiu a casa e destruiu suas dinâmicas internas.
Há também casos, não de completa destruição, mas de coexistência. Deles dá mostra a história de Ivete e de seus oito filhos (três que trabalham, cinco que dão trabalho). Instigante, nessa trajetória familiar, é que são os filhos trabalhadores os que falam muito de si mesmos, salientando as resistências e as dificuldades que passam para se manter firmes no caminho certo. Problema de justificação invertido: são os filhos trabalhadores os obrigados a encontrar justificativas para o fato de não terem optado pelo crime. Tal como mostra o autor, "a necessidade recorrente de reafirmar seus argumentos, e sofisticá-los progressivamente, apenas evidencia que a escolha oposta é firme o suficiente para demandá-los" (p. 153). Já os cinco integrantes da família que vivem no mundo do crime não falam muito. A validação de suas funções familiares é de outra ordem, sobretudo financeira.
Histórias resumidas aqui e que, como muitas outras, convivem no tempo e no espaço. heterogêneas, revelam ora a coexistência, ora a disputa pela legitimidade de códigos e formas de vida. Ao entrar em contato com elas, o leitor compreende que aquilo que parecia oposto e estanque (a saber, o trabalho ou a família versus o crime) ganha em complexidade e densidade existencial; as fronteiras são mais fluidas, a vida bem mais complicada.
E é ao descrever tais emaranhados que o argumento do autor se clarifica, pois ele é, sobretudo, haurido do "saber local": recentemente, quem vive nas periferias sabe que o mundo do crime é um domínio com o qual, inexoravelmente, será preciso lidar, por meio dos mais diversos arranjos (combater, coexistir, afastar-se, passar, imergir). De um lado da fronteira, é assim que tal expansão opera. Do outro lado, no mundo público, a fronteira é ausente de complexidade - há, sem negociação, trabalhadores e bandidos - o que pode ser dramaticamente pungente. Foi isso o que revelaram os crimes de 2006 ou os ataques do PCC, na arguta análise do autor, ao fim dessa primeira parte. O Estado, na premissa de reagir, não foi nada seletivo: escolheu muitos daqueles que, pelos sinais diacríticos que carregavam, eram naturalmente suspeitos, naturalmente bandidos - o que faz emergir a dimensão política do problema: a morte desses jovens, os suspeitos, não foi lida como descalabro em uma ordem democrática. Muito pelo contrário, foram esses assassinatos que acalmaram a opinião pública e seus formuladores.
Ou seja, mais de duas décadas e o próprio funcionamento democrático parece ter incluído, como parte constitutiva de seu desenho normativo, o emprego de doses elevadas de violência, muitas vezes ilegal, para a construção das fronteiras de acesso a legitimidades. Quando isso acontece, não é de estranhar, então, que daquele outro lado da fronteira a polícia já não tenha respeito nenhum, e que a legitimidade do crime seja um fato.
Touché. Argumento fundamentado, pesquisa sólida, análise original - e audaciosa. O livro poderia acabar por aí. Mas nada como um autor que não se dá por satisfeito e que, como bom analista político, sabe que onde há conflitos, há também mediações.
Inspirado por essa relação, Gabriel Feltran também percorrerá um longo caminho (parte 2 do livro) para mostrar que a expansão do mundo do crime é coetânea com a expansão da gestão social. E o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cedeca), que atuava como porta de entrada e de passagem para as trajetórias observadas anteriormente, passa a ser foco de análise, na medida em que age exatamente na fronteira de tensão entre os códigos sociais da periferia e o código normativo do Estado democrático, na pauta exata dos direitos humanos. Vale dizer, entre os casos de violência vividos em Sapopemba e a responsabilidade estatal de zelar pela garantia de direitos.
Especialmente no caso dos adolescentes já julgados e condenados por algum ato infracional cometido, o Cedeca atua observando o cumprimento de medidas socioeducativas. Como em muitas outras entidades desse tipo, o adolescente deve passar, primeiro, pelo atendimento e, a partir da construção de um vínculo, adentra num fluxo de encaminhamentos que expandirá sua rede de proteção. Idealmente, o atendimento depende da ativação da rede de proteção, e ambos são dependentes de projetos de financiamentos públicos e privados. Na prática, há uma série de obstáculos, desde convencer os adolescentes que eles devem comparecer às atividades propostas, até conseguir um serviço disposto a acolhê-los (a escola, a saúde e o trabalho não querem os "LA" em suas atividades). A principal "saída" é produzir internamente uma espécie de simulacro da rede de encaminhamentos na própria dinâmica interna da entidade.
Tudo se complica porque, do outro lado, o crime, não só acolhe os adolescentes em suas atividades, e paga por seus serviços, como está presente em cada esquina. Nada que não possa piorar. O Cedeca é desprestigiado nas secretarias e o programa de atendimento de medidas socioeducativas vive em crise e, não contraditoriamente, em constante expansão. Além disso, digladia-se internamente, cindido entre profissionais técnicos e militantes, entre seguir convênios ou editais públicos e fazer ação política. Num impasse, cria outra iniciativa: o Centro de Direitos humanos de Sapopemba (CDHS), consequência, portanto, da própria trajetória do Cedeca e dos limites à sua ação política.
Criação de nova entidade, surgimento de outra fronteira: o Cedeca prossegue com os atendimentos; o CDHS faz política - quando é que essas coisas se separaram, não internamente, mas no mundo público, é o que convém indagar. De todo modo, a tensão volta em outros termos, ligada agora às transformações mesmas do que devem ser os movimentos sociais, a ação social e, particularmente, a gestão do social.
É assim, porque ambas falam das relações entre política e violência, que a expansão da gestão do social coexiste com a expansão do mundo do crime. E é precisamente nessas perversas relações que se encontra também o que autor chama de "sentidos políticos da violência". De um lado, a violência massiva, decorrente dos embates entre a violência do crime e a repressão ilegal. De outro, a violência política, o fim da possibilidade de representação política, especialmente dos setores jovens, no mundo público; trata-se da própria impossibilidade da fronteira seguir viva. Chegamos ao precipício.
Para não concluir a resenha com triste vaticínio, alguns breves comentários.
Um mistério da literatura sobre as periferias paulistas parece ser a pouca atenção que foi dada à violência antes dos anos de 1990. Difícil saber se ela não estava lá ou se a temática passou batida pelos pesquisadores, absortos que estavam em outras questões. Investigar a fundo esse período parece ser relevante para melhor entender a história recente desses territórios e, principalmente, para complexificar o passado. Nesse sentido, a hipótese de expansão do mundo do crime, nos termos aqui já salientados, é um primeiro impulso para volver o olhar para trás, assim como um estímulo para seguir em frente, acompanhando a série de novas transformações que redesenham as relações entre as periferias e o mundo público - as mortes massivas que voltaram a acontecer em 2012 são um indício contundente de que as fronteiras continuam em tensão.
Talvez, ainda, seja preciso explicitar por que não discorri sobre o PCC, a insígnia paulista do que aqui se chama crime. Em certa medida, porque também o PCC aparece pouco no livro, quase sempre para marcar acontecimentos locais, isto é, cotejando as trajetórias analisadas, conferindo inteligibilidade às experiências (algumas vezes, com informações que vieram a posteriori). É pequena a descrição do que ele é, dos seus códigos, de suas condutas internas, de sua força enquanto enunciado, de seu papel como instância de resolução de conflitos, das suas relações com o Estado, enfim, não recebeu a atenção que viria a ter em trabalhos futuros do autor - o que, a meu ver, revela principalmente o caráter pioneiro desta investigação e o fato de que, também a partir dela, um campo enorme foi aberto para ser desbravado, indagado, compreendido.
Por fim, é preciso sempre lembrar que um livro pode importar não só pelos argumentos principais, ou pelo que tem de inovador; às vezes, basta que, em qualquer de suas páginas, se tenha a sensação de que "uma luz se fez". Foi isso o que se deu comigo, na primeira vez que li Fronteiras de tensão, ainda em formato de tese; especialmente quando li a trajetória de seu Cláudio e de dona Sílvia, que é, em muitos aspectos, semelhante à dos meus pais. Lendo-a, consegui dar inteligibilidade à minha própria trajetória, jamais formulada de tal modo por mim mesma. Foi também isso o que aconteceu a uma de minhas alunas que trabalhava como educadora de medidas em uma entidade semelhante ao Cedeca.2 2 Sou professora do curso de especialização "Psicossociologia da juventude e políticas públicas", oferecido pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ao ler sobre Pedro, estranhou pela primeira vez sua função (e duvidou da eficácia dela). Trazendo sua experiência para a sala de aula, deixou claro que não há mais espaço para esperanças baratas.
Fronteiras vivas são continuamente delineadas por incidentes e conflitos, e até mesmo por muitas histórias.
Notas
TANIELE RUI é doutora em antropologia social pela Unicamp. E-mail: <tanielerui@yahoo.com.br>.
Uma análise compreensiva do "British style" na sociologia e na política
Orlando Villas Bôas Filho
Wanda CAPELLER. Relire Giddens: entre sociologie et politique. Paris, LGDJ, 2011. 215 páginas.
A obra de Anthony Giddens se coloca entre as mais significativas contribuições para a sociologia, a partir da segunda metade do século XX. Sua ambição de renovar essa ciência mediante a revisão dos clássicos, a elaboração de sua "teoria da estruturação", de suas reflexões acerca da modernidade avançada e, finalmente, de suas análises de intervenção no debate público (que marcam, respectivamente, os quatro grandes períodos de sua produção teórica) são de indiscutível relevância para as ciências sociais. Danilo Martuccelli, por exemplo, situa sua obra, ao lado das de Georg Simmel, Erving Goffman e Alain Touraine, como expressiva do que denomina "matriz da condição moderna" no âmbito das "sociologias da modernidade".1 1 Segundo Martuccelli (1999, p. 29 e ss.), as "sociologias da modernidade", desenvolvidas a partir do último decênio do século XIX, estariam articuladas ao redor de três matrizes fundamentais: (a) "diferenciação social" (Durkheim, Parsons, Bourdieu e Luhmann); (b) "racionalização" (Weber, Elias, Marcuse, Foucault, habermas); (c) "condição moderna" (Simmel, Goffman, Touraine e Giddens). Trata-se, entretanto, de um autor que, paralelamente à sua importante contribuição acadêmica, desenvolveu intensa (e controversa) atividade no cenário da política britânica, o que torna ainda mais complexa uma trajetória já em nada trivial. Seu engajamento resoluto na política da "terceira via", desenvolvida pelo governo de Tony Blair, e sua adesão à democracia liberal não serão isentas de críticas que, por vezes, procuram desqualificar sua importância teórica em virtude de suas opções políticas.
O livro Relire Giddens: entre sociologie et politique, de Wanda Capeller, proporciona ao leitor uma análise profunda e abrangente desse complexo autor que, transitando entre academia e política, gerou significativa influência no Brasil. A obra está organizada em cinco capítulos, nos quais se consignam reflexões que podem ser lidas de forma independente, mas que, articuladas entre si, fornecem um quadro compreensivo do pensamento do autor britânico. Os três primeiros capítulos enfocam os eixos fundamentais de sua produção de caráter essencialmente científico, quais sejam: (a) sua crítica às ciências sociais por meio de uma releitura dos clássicos e sua teoria da estruturação; (b) suas interlocuções - reais ou hipotéticas - com importantes contemporâneos seus (especialmente, Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Raymond Boudon); (c) sua análise relativa à modernidade avançada e às mudanças por ela engendradas na vida e na intimidade dos indivíduos. As duas reflexões desenvolvidas nos capítulos seguintes da obra enfocam os escritos do autor que refletem seu engajamento no debate político de seu tempo, nos quais a autora observa uma substituição do ponto de vista analítico por outro mais normativo. Assim, o quarto capítulo discorre sobre a proposta da "terceira via" e o quinto, o posicionamento político de Giddens relativamente à questão climática. Por fim, à guisa de conclusão, a autora propõe uma interessante relação do pensamento de Giddens com a teoria crítica e examina seus possíveis aportes para os estudos sobre o direito.
A reflexão que constitui objeto do primeiro capítulo aborda o modo pelo qual Giddens, após revisitar criticamente a teoria social e a sociologia clássica, procura torná-las adequadas à compreensão da sociedade contemporânea, transformada profundamente, de acordo com ele, pela globalização. Nesse sentido, Wanda Capeller ressalta, sobretudo, a preocupação de Giddens de desvencilhar a sociologia de sua vinculação às amarras do pensamento clássico, com vistas a torná-la adequada a um contexto social significativamente distinto daquele que aparecia como horizonte das análises clássicas.2 2 Nesse particular, o paralelo com a proposta de Paradigmawechsel feita por Luhmann (1987, pp. 15-29) é flagrante. No bojo dessa análise, são examinadas as nove teses para uma "sociologia do futuro", apresentadas por Giddens no livro Social theory and modern sociology, que são admiravelmente sintetizadas pela autora e, posteriormente, articuladas à "teoria da estruturação" que, por sua vez, é objeto de uma profunda abordagem, desenvolvida ao redor de seus três componentes essenciais: conceitual, empírico e metodológico. A análise se encerra com a capitulação de algumas críticas endereçadas ao pensamento de Giddens, especialmente as de Jean Nizet, Jean-Michel Berthelot, David held, John Thompson, Zygmut Bauman, Derek Gregory e Patrick Baert.
O segundo capítulo, intitulado Conversations françaises, explora as interfaces do pensamento de Giddens com os de Michel Foucault, Pierre Bourdieu e Raymond Boudon. Trata-se de uma análise especialmente interessante, pois, em primeiro lugar, aponta as razões essencialmente ideológicas da rejeição encontrada pelo pensamento do autor britânico no contexto intelectual francês e, em segundo, explora as virtualidades da sociologia de Giddens numa perspectiva que a contrasta com importantes teóricos dessa tradição, via de regra, refratária ao seu pensamento. Assim, Wanda Capeller reconstrói habilmente um diálogo possível (apesar de, por vezes, faticamente inexistente), de modo a elucidar potenciais aportes do pensamento de Giddens para as temáticas por eles trabalhadas. Assim, no que concerne à sua interface com o pensamento de Foucault, é sublinhada, sobretudo, a temática do poder que, como se sabe, é central à "fase" genealógica de seu pensamento.3 3 Para uma análise das "fases" ou "acentos metodológicos" do pensamento de Foucault, ver Davidson (1999, pp. 221-233) e Fonseca (2012, p. 263). Nesse sentido, é realçada a crítica de Giddens ao caráter demasiadamente mecânico por ele atribuído à noção de poder disciplinar em Foucault e o modo pelo qual, a partir dessa crítica, o autor britânico propõe uma renovação da "teoria do poder". Quanto à interface de Giddens com Bourdieu, a autora sublinha a crítica endereçada por ambos ao funcionalismo e ao estruturalismo, ressaltando, em seguida, a influência sobre eles exercida por Wittgenstein, sobretudo no que concerne à questão das regras e da sua obediência e, por fim, a divergência entre eles relativamente à questão da ação. A análise da interlocução de Giddens com Boudon, que efetivamente ocorreu, tem como "pano de fundo" a rejeição de ambos à redução do indivíduo a uma condição de "joguete" das estruturas e das instituições. No bojo dessa discussão, é feito um exame contrastado dos dois autores acerca de questões relacionadas ao "individualismo metodológico" e à "intencionalidade da ação". A análise se encerra com a reconstrução da crítica que Boudon endereça a Giddens, relativamente à sua suposição de que na sociedade atual haveria um declínio da moral e dos valores, crítica essa que Boudon, aliás, estende a Ulrich Beck e Bryan Wilson.
No terceiro capítulo, encontra-se uma reflexão direcionada ao caráter fugidio da modernidade avançada e às mudanças por ela engendradas nos modos de vida e na intimidade dos indivíduos. A análise se inicia com a ênfase na visão descontínua que Giddens tem da história. Para tanto, são recuperados os aspectos essenciais da crítica por ele endereçada à perspectiva evolucionista nas ciências sociais e às armadilhas que dela decorrem, nomeadamente: (a) compreensão unilinear (que propõe uma só linha de evolução geral para todas as sociedades humanas); (b) compreensão homológica (pressuposição de uma homologia entre os estados de evolução social e o desenvolvimento da personalidade individual); (c) ilusão normativa (tendência etnocêntrica de equalização, numa dada escala de evolução, das dimensões econômica, política, militar e moral); (d) distorção temporal (ideia de que a história consistiria apenas na mudança social e que a passagem do tempo seria idêntica à mudança). Opondo-se a essa perspectiva, Giddens, conforme bem aponta Capeller, enfatiza que a ideia de evolução progressiva de uma sociedade supostamente "simples" para uma "complexa", propugnada pelo evolucionismo, escamotearia as descontinuidades históricas, impossibilitando, por via reflexa, a apreensão das especificidades da modernidade.
Nas três seções subsequentes que compõem o capítulo, são examinadas questões centrais relacionadas à especificidade da modernidade avançada: (a) a reconstrução das teses propostas no livro Nation-State and violence, acerca da importância do Estado-Nação como expressão da ruptura que marca o advento da sociedade moderna; (b) a globalização como um fenômeno associado essencialmente às sociedades pós-tradicionais modernas; (c) o repto da sociologia em apreender os elementos distintivos da modernidade avançada, caracterizada pela emergência de novos dinamismos, dentre os quais se destacam os seguintes aspectos: a dissociação espaço-temporal (enfocada, sobretudo, a partir das condições que cria para uma articulação de relações sociais através de grandes distâncias); os mecanismos de desencantamento (abordados a partir de um interessante contraste com a teoria sistêmica de Niklas Luhmann) e, finalmente, o caráter essencialmente reflexivo que - nos planos individual, coletivo e institucional - passa a orientar a reprodução social na modernidade (reconstruído, sobretudo, mediante uma comparação com Ulrich Beck e Scott Lasch).
Abordando a passagem operada por Giddens do campo propriamente sociológico para o político, o quarto capítulo direciona-se à análise das ideias fundamentais que sustentam a chamada "terceira via", propugnada pelo autor britânico como uma forma de captar a "nova cultura política" que, em meio às mudanças ensejadas pela globalização econômica, teria surgido nas sociedades pós-industriais. Mediante uma ampla abordagem das teses consignadas nos livros Beyond left and right e The third way. The renewal of social democracy, Capeller analisa o modo pelo qual Giddens concebe a proposta da "terceira via" em meio às transformações experimentadas pelo Estado no contexto hodierno. Entretanto, transcendendo o provincianismo analítico das abordagens eurocêntricas, a autora procura testar a proposta da "terceira via" em contextos sociais diversos daqueles que constituem seu horizonte empírico mais direto. Para tanto, além de enfocar a reforma do modelo social europeu, alude aos países emergentes, centrando o foco no Brasil e, especialmente, na política do governo Lula que, segundo ela, teria implementado um programa social democrata com conotações de "terceira via".4 4 A sociedade brasileira também é o foco da análise de outro excelente livro da autora, L'engrenage de la répression. Stratégies sécuritaires et politiques criminelles au Brésil, ainda inédito em português.
O quinto capítulo, cujo objeto refere-se às propostas de Giddens para o problema do aquecimento global, consigna um aprofundamento da análise relativa à "virada política" que marca o percurso intelectual do autor. A grande obra de referência aqui é o livro The politics of climate change, publicado em 2009, que aborda a mudança climática e as maneiras de prevenir e retardar seus efeitos. Para tanto, explora, de forma recorrente, a questão energética. Diante da constatação de que há uma exploração predatória das fontes energéticas existentes, Giddens enfatiza a necessidade de implementação de um conjunto de políticas públicas bem ordenadas a partir de uma perspectiva de longo termo. Os conceitos fundamentais utilizados em sua proposta são o "princípio de precaução" e o "desenvolvimento durável", a partir dos quais se desdobram vários outros com vistas a fundamentar uma política de mudança climática. Sublinha, contudo, que a possibilidade de êxito dessa política depende de uma sociedade civil bem informada e consciente da gravidade do problema e de uma comunidade internacional disposta a uma cooperação real, o que remete ao primado do âmbito político.
O livro se encerra com duas instigantes reflexões. Na primeira, a autora contrasta a perspectiva de Giddens com a teoria crítica, sublinhando as tensões e as afinidades que o autor britânico mantém com os "mandarins" da Escola de Frankfurt (habermas inclusive) para, em seguida, reconstruir as três condições que Giddens considera indispensáveis à teoria crítica da modernidade (condições essas que se põem no plano epistemológico, institucional e concernente à relação entre teoria e prática). Na segunda reflexão, são analisadas as potenciais contribuições do pensamento de Giddens para os estudos do direito. Nesse particular, a autora indica a existência de um "aporte problemático ao direito" e um "aporte útil à sociologia do direito". No primeiro caso, ressalta que Giddens não teria levado devidamente a sério a especificidade do fenômeno jurídico-normativo e também a questão das sanções jurídicas, o que restringiria a capacidade heurística das potenciais contribuições de sua teoria a esse campo. Entretanto, no segundo caso, sua teoria da estruturação se mostraria útil e, inclusive, suscetível de fornecer aportes importantes à renovação da sociologia do direito e da justiça, pois se se considera que a renovação da sociologia é indissociável da abordagem política, fica claro que uma perspectiva como a de Giddens, profundamente inscrita no debate político, pode fornecer novos e significativos quadros interpretativos para uma sociologia jurídica que, ao menos em uma de suas mais importantes tradições (a francesa), tende a se transformar cada vez mais numa "sociologia política do direito".5 5 A respeito, ver Commaille (2010) e Commaille e Duran (2009).
Trata-se e uma obra que, além de reconstruir habilmente o essencial do pensamento de Giddens, testa o alcance de suas hipóteses para além dos horizontes que lhe foram fixados pelo autor. Nesse sentido, como o bem nota Jacques Commaille, no prefácio da obra, Wanda Capeller exercita magistralmente a stratégie du détour, propugnada pela célebre helenista Jacqueline de Romilly, uma vez que, mediante a apreensão de outros universos, originalmente não visados diretamente pela teoria de Giddens, é capaz de ampliar seu alcance na compreensão da sociedade coetânea.
Notas
BIBLIOGRAFIA
COMMAILLE, Jacques. (2010), "De la 'sociologie juridique' à une sociologie politique du droit", in J. Commaille, L. Dumoulin e C. Robert (dirs.), La juridicisation du politique, Paris, LGDJ, pp. 29-51.
COMMAILLE, Jacques & DURAN, Patrice. (2009), "Pour une sociologie politique du droit: présentation". L'Année sociologique, 59 (1): 11-28.
DAVIDSON, Arnold I. (1999), "Archeology, genealogy, ethics", in David C. hoy (ed.), Foucault: a critical reader, Oxford/Malden, Blackwell.
FONSECA, Márcio Alves da. (2012), Michel Foucault e o direito. São Paulo, Saraiva.
LUHMANN, Niklas. (1987), Soziale Systeme. Grundri einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
MARTUCCELLI, Danilo. (1999), Sociologies de la modernité. Paris, Gallimard.
ORLANDO VILLAS BÔAS FILHO é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E-mail: <ovbf@usp.br>.
Democracia e desigualdade nos Estados Unidos
Tiago Nery
Larry M. BARTELS. Unequal democracy: the political economy of the new gilded age [Democracia desigual: a economia política da nova era dourada]. New Jersey, Princeton University Press, 2008. 325páginas.
Unequal democracy: the political economy of the new gilded age é resultado de uma rigorosa pesquisa sobre as causas e as consequências da desigualdade econômica nos Estados Unidos. Larry Bartels afirma no prefácio que a inspiração para este trabalho decorreu, em grande medida, das transformações ocorridas na sociedade estadunidense nos últimos trinta anos, quando houve uma escalada na desigualdade socioeconômica. Bartels observou que as mudanças econômicas estavam atraindo considerável atenção dos economistas, mas não a dos cientistas políticos. É justamente essa lacuna que o autor preencheu com elegância e rigor. Por meio da combinação de uma análise estatística sistemática com estudos de caso, Bartels procura avaliar em que medida a desigualdade econômica contemporânea se traduz em desigualdade política.
Ao analisar pesquisas e estatísticas dos últimos sessenta anos, Unequal democracy desmascara alguns mitos sobre a política norte-americana contemporânea. Bartels revela a maneira pela qual diferenças partidárias marcantes têm moldado importantes decisões em matéria de política pública. Os dados analisados demonstram as relações intrincadas entre partido, política pública e desigualdade econômica. Desse modo, a injusta distribuição da renda não é simplesmente resultado das forças "naturais" do mercado, mas efeito direto de escolhas políticas e partidárias. A distância entre ricos e pobres costuma aumentar, segundo o autor, sob a administração de presidentes republicanos, ocorrendo o inverso em governos democratas. Ademais, ao contrário do senso comum, que aponta para uma preponderância de temas culturais, as questões econômicas e políticas continuam centrais.
Os padrões de polarização ideológica sugerem que as crenças dos estadunidenses sobre as desigualdades são profundamente políticas em suas origens e implicações. O advento do Tea Party e mais recentemente do movimento Occupy Wall Street indicam o grau de polarização atual da sociedade norte-americana. Após quatro anos da publicação deste livro, os Estados Unidos enfrentam uma eleição altamente polarizada, na qual o candidato do GOP (partido Republicano), Mitt Romney, propõe um drástico ajuste fiscal que afetará, sobretudo, os mais pobres, enquanto o presidente e candidato à reeleição Barack Obama defende uma estrutura tributária mais progressiva, com o retorno, por exemplo, da alíquota de 39,6% sobre as rendas mais elevadas. Esse cenário confirma a atualidade da obra de Larry Bartels e de sua mensagem principal: a política importa e é central para entender e interferir na realidade econômica.
"A nova era dourada"
No capítulo introdutório, Larry Bartels avalia a extensão na qual a desigualdade econômica na sociedade norte-americana contemporânea se traduz em desigualdade política. Robert Dahl sugeriu que a democracia implicava respostas continuadas do governo às preferências dos cidadãos, considerados politicamente como iguais. hoje, os Estados Unidos estão muito longe de alcançar esse padrão. O autor destaca que é difícil comparar os atuais níveis de desigualdade com aqueles da "era dourada" do final do século XIX (the gilded age), mas que é possível comparar a atual posição da elite econômica com a de sua contraparte da década de 1920, conhecidos como os "ruidosos anos 20" (the roaring twenties). Aquela década é considerada por muitos historiadores econômicos uma das mais desiguais da história do país. Por este prisma, a nova "era dourada" norte-americana constitui uma regressão de caráter histórico.
Do final dos anos de 1940 ao início da década de 1970, as famílias em todas as faixas de renda experimentaram crescimento robusto, notavelmente equilibrado, ao menos em termos percentuais. Nesse período, tanto as rendas das famílias pobres como as das ricas cresceram em torno de 98%. O crescimento da renda foi um pouco maior para as famílias de classe média e um pouco menor para aquelas do percentil mais elevado. No entanto, todas as faixas de renda experimentaram crescimento real da renda entre 2,4% e 2,7% ao ano.
Entre 1974 e 2005, o crescimento da renda foi muito mais lento e desigualmente distribuído. Enquanto as famílias de classe média experimentaram um crescimento real da renda de menos de 1% ao ano (versus 2,7% anteriormente), as famílias pobres tiveram um crescimento da renda de apenas 0,4% ao ano (versus 2,6%).1 1 Parte considerável do crescimento da renda ocorrido pode ser atribuída ao aumento das horas de trabalho, especialmente a partir do incremento da participação das mulheres no mercado de trabalho. Ademais, o aumento da produtividade nesse período não se converteu em melhorias salariais para os trabalhadores norte-americanos. Já o percentual da renda direcionado aos mais ricos, após permanecer constante entre 1945 e 1975, experimentou uma rápida escalada a partir de então. Os contribuintes do topo da pirâmide (1%), por exemplo, viram sua participação na renda total subir de 10%, em 1981, para 21,8% em 2005.
Bartels critica o fato de grande parte do debate público sobre a desigualdade econômica na nova "era dourada" ignorar sua dimensão política. Analistas e jornalistas costumam tratar esta questão de maneira passiva, técnica, apolítica. No entanto, Kevin Phillips traça paralelos entre as dimensões política e econômica da "era dourada", dos "eufóricos anos 20" e do momento contemporâneo. Economicamente, os três períodos foram marcados por reestruturação corporativa, concentração de riqueza, polarização econômica e crescentes níveis de desigualdade. Politicamente, caracterizam-se pelo conservadorismo político e ideológico, pela redução ou eliminação dos tributos dos mais ricos e das grandes corporações e pelos elevados níveis de corrupção.
Na mesma direção, Paul Krugman tem enfatizado a importância das forças política e social na modelagem das tendências econômicas dos últimos anos. O surgimento de uma classe média robusta foi resultado de normas sociais implementadas no pós-Segunda Guerra, que permitiram melhor distribuição da renda, fortalecimento dos sindicatos e tributação progressiva. Desde os anos de 1980, as políticas dos governos norte-americanos favoreceram constantemente os mais ricos em detrimento das famílias trabalhadoras. Seguindo as exortações do economista britânico A. B. Atkinson, Bartels procura explicar em que medida as políticas públicas e a política econômica são moldadas pela ideologia ou preferências dos partidos políticos.
"A economia política dos partidos"
Bartels procura relacionar as causas da desigualdade econômica contemporânea com as contrastantes políticas públicas implementadas por presidentes democratas e republicanos nos últimos cinquenta anos. Em governos democratas observou-se uma modesta diminuição das desigualdades de renda, com as famílias pobres se saindo um pouco melhor do que as ricas. Já sob governos republicanos, verificou-se um aumento da desigualdade de renda, com as famílias ricas ganhando muito mais do que as pobres.2 2 Entre 1947 e 1974, o crescimento médio da renda das famílias mais pobres foi de 1,5% sob presidentes republicanos e 3,8% sob presidentes democratas. Entre 1974 e 2005, a renda das famílias mais pobres cresceu em média -0,3% sob presidentes republicanos e 1,3% sob presidentes democratas.
Tendências de longo prazo como as flutuações no preço do petróleo e as mudanças no mercado de trabalho (a exemplo da entrada das mulheres) são forças sociais e econômicas inter-relacionadas que estão além do controle presidencial, sendo, portanto, muito difícil discernir seus distintos efeitos na modelagem da distribuição da renda. Dessa forma, a marcante diferença nos destinos econômicos das famílias ricas e pobres pode ser mais bem compreendida como um reflexo das escolhas partidárias em matéria de política econômica nos Estados Unidos do pós-guerra. Assim, presidentes democratas e republicanos adotaram diferentes políticas macroeconômicas que tiveram consequências significativas na estrutura de distribuição da renda.
As administrações democratas preferiram correr o risco de uma maior inflação ao praticar políticas expansionistas que diminuíssem o desemprego e incrementassem a taxa de crescimento da economia. Já os governos republicanos adotaram frequentemente políticas contracionistas para controlar a inflação, causando maior desemprego e menores taxas de crescimento econômico. Assim, as políticas econômicas adotadas pelos presidentes democratas tenderam a beneficiar mais as famílias pobres e de classe média, enquanto as aplicadas pelos presidentes republicanos tiveram efeitos insignificantes no crescimento real da renda daqueles situados na base da distribuição de renda.
Nos últimos trinta anos, as crescentes dificuldades em influenciar as políticas macroeconômicas fizeram com que os partidos adotassem políticas tributárias e de transferência para alcançar diferentes impactos econômicos e sociais. Nesse sentido, enquanto os republicanos adotaram cortes de impostos que beneficiaram os mais ricos e as grandes corporações, os democratas tenderam a tornar a estrutura tributária um pouco mais progressiva. Assim, tanto republicanos como democratas - mesmo perdendo considerável influência sobre a distribuição de renda via políticas macroeconômicas (pre-tax income) - continuaram apresentando diferenças partidárias marcantes na distribuição de renda via políticas tributárias e de transferências (pos-tax income). Dessa forma, as diferentes políticas econômicas adotadas pelos partidos foram de fundamental importância para os destinos econômicos dos cidadãos norte-americanos comuns.
"Política de classe e mudança partidária"
Neste capítulo, Bartels sugere que as questões econômicas permanecem importantes na política eleitoral norte-americana contemporânea, sobretudo entre as pessoas mais afetadas negativamente pelo sistema de livre mercado. A visão política dessas pessoas mudou pouco nas últimas décadas, enquanto seu apoio aos candidatos presidenciais democratas aumentou.
Bartels refuta as hipóteses que sugerem que a estrutura de classe e o padrão de votação herdados do New Deal deram lugar a uma nova clivagem, na qual a ideologia conservadora e as questões culturais teriam empurrado muitos trabalhadores brancos para a esfera do partido Republicano. Ao adotar o critério de renda para definir classe, o autor observa que o status econômico se tornou mais importante na definição do voto presidencial dos brancos norte-americanos nos últimos cinquenta anos. Observou-se uma tendência crescente de apoio aos candidatos presidenciais democratas entre os brancos mais pobres, em contraste com uma perda significativa de apoio entre os eleitores brancos mais ricos. Na realidade, ocorreu uma erosão na identificação com o partido Democrata entre os brancos pobres do sul, enquanto a crescente disparidade entre brancos pobres e ricos se manteve claramente tanto no sul como no restante do país. Assim, apesar da ênfase dada ao enfraquecimento da coalizão do partido Democrata erigida durante o New Deal, poucos analistas parecem notar que o declínio no apoio aos candidatos presidenciais democratas entre os eleitores brancos nos últimos cinquenta anos é totalmente atribuível às mudanças partidárias no sul. O avanço republicano ocorreu entre os eleitores de renda média e alta, concentrando-se no sul dos Estados Unidos no período que se seguiu ao movimento pelos direitos civis.
Enquanto o debate ideológico entre políticos e intelectuais parece ter dado uma guinada à direita nos últimos trinta anos, não está claro se a visão política dos cidadãos comuns se tornou mais conservadora. há pouca evidência de que em questões econômicas e culturais centrais - aborto, gasto governamental - tenham ocorrido mudanças significativas na opinião da maioria, seja na classe trabalhadora branca seja no eleitorado branco em geral. Apesar de as questões culturais influírem crescentemente na política norte-americana contemporânea, as questões econômicas continuam centrais. Na realidade, o aumento da importância das questões culturais concentrou-se nos eleitores brancos de alta renda e não nos de baixa renda culturalmente conservadores. A predominância das questões econômicas, e não culturais, ocorre mesmo entre aqueles eleitores brancos mais influenciados por valores religiosos, que se concentram nas faixas de renda mais altas. Apesar do crescimento do aborto como tema proeminente nos últimos vinte anos e seu significado entre os eleitores religiosos, mesmo estes votam movidos mais por questões econômicas do que culturais.
A relação entre polarização de classes e comportamento eleitoral pode ser mais bem entendida com base em dois fatores: polarização partidária e fragmentação religiosa. Como os Estados Unidos possuem dois grandes partidos, com certa distância ideológica entre eles, a probabilidade de se depositar um voto conservador é maior do que em sistemas eleitorais com alternativas mais moderadas de direita. A polarização de classes no comportamento eleitoral norte-americano cresceu mais ou menos ao mesmo tempo em que se estruturava a polarização ideológica entre as elites republicanas e democratas. A fragmentação religiosa tende a aumentar o apoio a partidos de direita entre os eleitores de renda elevada, aprofundando o fosso no eleitorado de direita entre os eleitores pobres e os mais abastados. Assim, a polarização de classes no sistema partidário estadunidense é significativa, não apenas em relação ao recente comportamento histórico, mas também em comparação ao padrão prevalecente em outras democracias.
"Tendências partidárias e responsabilização econômica"
Entre 1952 e 2004, os candidatos republicanos à presidência receberam 51,7% dos votos nas catorze eleições desse período, vencendo nove delas, enquanto os candidatos democratas ficaram com 48,3% dos votos. Para explicar esses resultados, Bartels aponta três tendências relativas ao impacto da responsabilização econômica (economic accountability) na política eleitoral norte-americana contemporânea.
Em primeiro lugar, os eleitores seriam "míopes", respondendo fortemente ao crescimento da renda no ano das eleições presidenciais, mas ignorando ou esquecendo o desempenho econômico no período anterior do mandato presidencial. Enquanto nas administrações republicanas a média de crescimento da renda real alcança o seu ápice nos anos eleitorais, o padrão de crescimento da renda nos governos democratas atinge o seu auge no segundo dos quatro anos de mandato, declinando em seguida. Assim, presidentes republicanos têm logrado atingir crescimento econômico robusto em ano eleitoral, resultando em maior apoio a seus candidatos. Em contraste, presidentes democratas têm sido constantemente punidos pela "miopia" dos eleitores devido ao fraco desempenho em ano eleitoral, recebendo pouco crédito pelo forte crescimento da renda nos anos anteriores.
Em segundo lugar, o crescimento da renda dos mais ricos em ano eleitoral produz mais consequências do que o aumento da renda das camadas média e pobre, inclusive entre os eleitores desses últimos estratos. As estatísticas analisadas pelo autor revelam que os eleitores de baixa renda são mais sensíveis às taxas de crescimento da renda, em ano eleitoral, que favoreçam as famílias de alta renda. O mesmo comportamento é observado entre os eleitores de renda média e alta, que tendem a apoiar o partido da situação quando as famílias próximas ao topo da estratificação de rendas apresentam forte crescimento em ano eleitoral.
Em terceiro lugar, os dados analisados pelo autor demonstram que os recursos destinados ao financiamento das campanhas eleitorais têm efeito nas escolhas dos eleitores. Surpreendentemente, entretanto, esse efeito parece maior entre aqueles situados nos estratos superiores de renda. A análise separada do comportamento dos eleitores de alta, média e baixa renda sugere que os gastos com campanha são duas vezes mais impactantes entre os votantes de maior renda do que naqueles de renda média. Já entre os eleitores de baixa renda, esses gastos não demonstraram nenhum efeito significativo sobre suas escolhas eleitorais. Dessa forma, os recursos despendidos em campanhas têm tido significativo impacto eleitoral nas eleições presidenciais dos últimos sessenta anos.
Assim, essas três tendências combinadas - miopia econômica; sensibilidade dos eleitores ao crescimento da renda dos mais ricos; diferencial de gastos com campanha - explicam em grande medida as vitórias dos republicanos nas eleições presidenciais desde 1952. Na ausência delas, Bartels (2008, p. 124) conclui que "a votação dos Republicanos teria alcançado, em média, nove pontos percentuais a menos do que realmente obteve nas eleições presidenciais do último meio século".
"Os norte-americanos se preocupam com a desigualdade?"
Com o objetivo de refutar a crença, amplamente difundida, de que os estadunidenses são apáticos em relação à desigualdade, Bartels analisa quatro importantes facetas da visão sobre a igualdade.
A primeira delas refere-se ao apoio público a valores igualitários, suas bases sociais e consequências políticas. A análise de alguns dados (1984-2004) mostrou que as pessoas com renda familiar mais alta tendiam a apoiar menos os valores igualitários do que aquelas com menor renda. Além disso, os afro-americanos (e em menor medida os hispânicos) eram mais igualitários do que os brancos não hispânicos, enquanto os religiosos praticantes eram menos igualitários do que aqueles que frequentavam irregularmente ou não iam às igrejas. Já na relação entre valores igualitários e ideologia partidária, democratas e liberais mostraram-se mais dispostos a apoiar as ações governamentais nas políticas analisadas (government jobs, government services; aid to blacks, health insurance) do que republicanos e conservadores. Entretanto, as análises mostraram que o efeito dos valores igualitários sobre a preferência por aquelas políticas públicas superava a identificação partidária ou ideológica, em três dos quatro temas (government jobs, government services; aid to blacks). Desse modo, observa-se um forte efeito dos valores igualitários sobre as preferências por políticas públicas, para além da polarização partidária.
A segunda faceta diz respeito às atitudes públicas em relação a alguns grupos, como os ricos, as grandes empresas, os sindicatos, entre outros. Ao contrário do que se pensa sobre a sociedade norte-americana, as pesquisas revelaram que muitos estadunidenses possuem mais sentimentos positivos para com a classe trabalhadora do que em relação à classe média. Ademais, eles demonstraram apoio substancial ao aumento da progressividade do sistema tributário. Assim, se há algum tipo de solidariedade, esta parece se dirigir mais aos pobres e à classe trabalhadora em geral do que aos estratos médios e ricos.
A terceira faceta enfatiza as percepções públicas sobre desigualdade e oportunidade, incluindo a percepção relativa à crescente desigualdade econômica e as explicações para o aumento da disparidade. Pesquisas realizadas entre 1966 e 2005 revelaram que a ampliação do grau de percepção sobre a desigualdade econômica se concentrou entre fins dos anos de 1960 e início da década seguinte, período no qual aquela era modesta comparada aos padrões atuais. O fato de essas percepções possuírem pouca relação com a atual tendência de crescimento das desigualdades, não significa que elas sejam insignificantes ou politicamente inconsequentes. há elementos sugerindo que a atitude dos norte-americanos sobre a desigualdade econômica tem mudado nos últimos anos. Entre 1987 e 1999, pesquisa realizada pelo Intenational Social Survey Program mostrou que o número de estadunidenses que achavam que grandes diferenças de renda eram necessárias para a prosperidade do país passou de 50% para níveis semelhantes aos de democracias mais igualitárias, como Alemanha, Suécia e Noruega. Talvez a grande diferença entre o passado e o presente esteja no fato de que, nos anos entre 1960 e 1970, os movimentos por igualdade eram mais organizados e atuantes. Após décadas de desmobilização, o movimento Occupy Wall Street parece indicar que muitos cidadãos estão novamente dispostos a lutar pela redução das desigualdades econômicas em uma sociedade cada vez mais polarizada.
Por fim, o autor analisa como as percepções sobre a desigualdade, suas causas e consequências, são modeladas pela interação entre informação política e ideologia. As pesquisas mostraram que as pessoas informadas tendiam a reconhecer em maior proporção que as desigualdades econômicas haviam aumentado e que isso era ruim. Em geral, a informação política tendia a aproximar as percepções públicas da ideologia liberal. No entanto, a crescente conscientização política mostrou ter efeitos bem diferentes em liberais e conservadores. Enquanto um menor nível de informação política aproximava as percepções dos dois grupos em relação ao crescimento das desigualdades nos últimos vinte anos, um maior nível levava a divergências significativas entre ambos.
A convergência entre liberais e conservadores pouco informados sugere que essas pessoas não reconhecem com precisão as implicações de seus próprios valores sobre questões públicas cruciais. O aumento da consciência política, entretanto, aprofunda a polarização ideológica não apenas em relação às preferências por políticas públicas, mas também relativas às percepções sobre as condições sociais objetivas. Os conservadores mais bem informados, por exemplo, mostram-se mais dispostos a negar que as diferenças de renda tenham aumentado. Assim, os padrões de polarização ideológica sugerem que as crenças dos norte-americanos sobre as desigualdades são profundamente políticas em suas origens e implicações.
"Desigualdade econômica e representação política"
Para refutar a tese convencional de que o comportamento dos políticos eleitos reflete uma simples média das visões de seus eleitores, Bartels analisa a composição do Senado norte-americano entre o final dos anos de 1980 e o início dos de 1990. Na realidade, os senadores respondem desigualmente aos interesses dos eleitores. Seu padrão de votação parece responder mais à visão ideológica dos eleitores de alta renda, e em menor medida dos de classe média, ao passo que a visão do eleitorado de baixa renda não tem impacto relevante no comportamento desses parlamentares.
Ao estender a análise do efeito dos padrões de votação no comportamento dos senadores democratas e republicanos, Bartels observou três fatos. Primeiramente, os senadores republicanos mostraram-se duas vezes mais responsivos do que os democratas às visões dos eleitores de alta renda. Em segundo lugar, ambos mostraram-se igualmente responsivos às opiniões do eleitorado de classe média. Por fim, não houve evidência de qualquer resposta às visões dos eleitores de baixa renda, inclusive por parte dos senadores democratas.
As análises sugerem que as discrepantes atenções conferidas pelos senadores aos eleitores não são causadas pelas diferenças entre os eleitores ricos e pobres em relação aos distintos níveis de comparecimento, conhecimento e contato com pessoas públicas, embora esta última característica tenha alguma importância. As diferentes capacidades de contribuir para campanhas políticas têm forte impacto no comportamento dos eleitos, mas esta relação é indireta e o papel do dinheiro na modelagem das políticas públicas necessita investigações empíricas mais cautelosas.
O fato de os senadores serem, em grande medida, oriundos das camadas mais influentes não é irrelevante para entender a conexão entre seu comportamento parlamentar e as preferências dos eleitores mais ricos. No entanto, não se deve subestimar o efeito indireto poderoso da opinião pública sobre o processo eleitoral. Os votos dos pobres podem ter consequências no curso das políticas públicas, apesar de suas opiniões não terem nenhum efeito direto no comportamento dos parlamentares que eles ajudam a eleger. Entretanto, o peso desproporcional dos eleitores com mais recursos comprova a influência constante da desigualdade econômica no sistema político norte-americano.
"Democracia desigual"
Segundo Aristóteles, "deve-se antes chamar democracia o Estado que os homens livres governam, e oligarquia o que os ricos governam".3 3 Aristóteles, A política. 3. ed., São Paulo, Martins Fontes, 2006, p. 120. Por estes parâmetros, o sistema político norte-americano parece funcionar mais como uma oligarquia - ou plutocracia - do que uma democracia. Se a desigualdade econômica compromete seriamente os valores da democracia é preciso relembrar as maneiras pelas quais a política pode limitar os efeitos perversos da economia. O crescimento das desigualdades econômicas e da corrupção política da "era dourada" e dos "ruidosos anos 20" estimularam as reformas institucionais da Progressive Era e do New Deal. Como afirmou Louis Brandies, que participou dos dois movimentos reformistas, ou se tem uma sociedade democrática ou uma grande concentração de riqueza nas mãos de poucos, mas nunca as duas coisas simultaneamente.
Segundo Bartels, a visão que os cidadãos - ricos ou pobres - possuem das políticas públicas tem menos impacto no processo de formulação do que as convicções ideológicas dos políticos eleitos. O curso das políticas públicas nos últimos cinquenta anos variou conforme as mudanças no controle partidário do governo nacional. O controle governamental pelos dois partidos foi o fator determinante para o resultado das políticas. Enquanto os presidentes democratas apoiaram políticas que favoreceram os mais pobres, os presidentes republicanos atuaram em benefício daqueles situados nos altos estratos sociais. Os partidos estariam, portanto, mais ideológicos, coesos e distintos do que nunca.
Atualmente os cidadãos norte-americanos parecem mais apáticos em relação à rápida ruptura do tecido social. Uma das razões para as contradições e ambiguidades da opinião pública nos Estados Unidos está na separação entre as esferas política e econômica. Quando a população enxerga as políticas distributivas pelo prisma econômico, ela costuma rejeitá-las com base no princípio da diferenciação. Quando essas mesmas políticas são analisadas como uma questão política, costuma-se tratá-las segundo
o princípio da igualdade, e algumas vezes aceitá-las. Segundo Bartels (2008, p. 296), "o 'princípio da diferenciação' em julgamentos morais sobre a desigualdade é reforçado pela tendência de pensar a esfera econômica como preexistente e separada da política". Dessa forma, acentua-se a percepção de que as forças de mercado são impessoais e benéficas, e que qualquer interferência política na sua dinâmica seria ineficaz diante da inexorabilidade da realidade econômica.
Além disso, as pressões por políticas redistributivas seriam restringidas pela apartação espacial entre ricos e pobres, devido ao deslocamento das classes médias e altas para os subúrbios. Por fim, a divisão de classes nos Estados Unidos hoje tem um forte componente racial e étnico, com os negros e hispânicos se situando entre as camadas mais pobres da sociedade. Em 2005, a configuração étnica das disparidades entre ricos e pobres foi exposta pela destruição causada pelo furacão Katrina.
A principal mensagem da obra de Bartels é de que a política é central para entender e interferir na realidade econômica. Não sabemos quanta desigualdade um regime democrático pode suportar. Nesse sentido, é impossível não pensar em certo filósofo genebrino, para quem, sob qualquer princípio ou lei, não seria razoável "que um punhado de gente tenha coisas supérfluas em abundância enquanto a multidão faminta carece do necessário".4 4 Jean Jacques Rousseau, Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, Porto Alegre, L&PM, 2011, p. 114.
Notas
TIAGO NERY é doutorando em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp) da Uerj. E-mail: <tiagonnety@gmail.com>.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
14 Nov 2012 -
Data do Fascículo
Out 2012