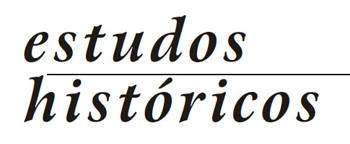Resumos
O domínio colonial português em Moçambique criou novas identidades para os africanos. Entre estas, a categoria "indígena" definia determinados africanos como primitivos com aversão ao trabalho. Através desse discurso, os agentes coloniais buscaram justificar a exploração da mão de obra dos "indígenas". Um dos instrumentos de seu domínio foi a aplicação de penas de trabalho como forma de disciplinar os povos colonizados. Diante disso, este artigo analisa a forma como os discursos e as práticas da administração colonial foram usados para definir o trabalho como pena aplicável exclusivamente aos "indígenas" entre o final do século XIX e o início do XX.
Moçambique; colonialismo; trabalho; penalidade; indígenas
The Portuguese colonial rule in Mozambique created new identities to the Africans. Among them, the "indigenous" category defined certain Africans as primitive with aversion to work. Through this discourse, the colonial rulers sought to justify the "indigenous" labor exploitation. One of the instruments of their domain was the labor penalties used as a means to discipline the colonized peoples. This article analyzes the way the colonial administration discourses and practices were used to define the work as a penalty to be assigned exclusively to the "indigenous" between the late 19th and 20th centuries.
Mozambique; colonialism; work; penalty; indigenous
La domination coloniale portugaise au Mozambique a créé des nouvelles identités pour les Africains. La catégorie «indigène» classifiait certains d'entre eux comme primitifs, ayant aversion au travail. Par ce discours, le colonisateur a cherché à justifier l'exploitation du travail de l '«indigène». L'un des instruments de sa domination était l'imposition du travail comme pénalité, de façon à discipliner les peuples colonisés. Cet article examine comment les discours et les pratiques de l'administration coloniale ont été utilisés pour définir le travail comme pénalité appliquée uniquement aux «indigènes» entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
Mozambique; colonialisme; travail; pénalité; indigène
ARTIGOS
Disciplinar o "indígena" com pena de trabalho: políticas coloniais portuguesas em Moçambique
Disciplining the "indigenous" with work penalty: Portuguese colonial policies in Mozambique
Fernanda Nascimento Thomaz
Fernanda Nascimento Thomaz é Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (fefathomaz@yahoo.com.br)
RESUMO
O domínio colonial português em Moçambique criou novas identidades para os africanos. Entre estas, a categoria "indígena" definia determinados africanos como primitivos com aversão ao trabalho. Através desse discurso, os agentes coloniais buscaram justificar a exploração da mão de obra dos "indígenas". Um dos instrumentos de seu domínio foi a aplicação de penas de trabalho como forma de disciplinar os povos colonizados. Diante disso, este artigo analisa a forma como os discursos e as práticas da administração colonial foram usados para definir o trabalho como pena aplicável exclusivamente aos "indígenas" entre o final do século XIX e o início do XX.
Palavras-chave: Moçambique; colonialismo; trabalho; penalidade; indígenas.
ABSTRACT
The Portuguese colonial rule in Mozambique created new identities to the Africans. Among them, the "indigenous" category defined certain Africans as primitive with aversion to work. Through this discourse, the colonial rulers sought to justify the "indigenous" labor exploitation. One of the instruments of their domain was the labor penalties used as a means to discipline the colonized peoples. This article analyzes the way the colonial administration discourses and practices were used to define the work as a penalty to be assigned exclusively to the "indigenous" between the late 19th and 20th centuries.
Key words: Mozambique; colonialism; work; penalty; indigenous.
RESUME
La domination coloniale portugaise au Mozambique a créé des nouvelles identités pour les Africains. La catégorie «indigène» classifiait certains d'entre eux comme primitifs, ayant aversion au travail. Par ce discours, le colonisateur a cherché à justifier l'exploitation du travail de l '«indigène». L'un des instruments de sa domination était l'imposition du travail comme pénalité, de façon à discipliner les peuples colonisés. Cet article examine comment les discours et les pratiques de l'administration coloniale ont été utilisés pour définir le travail comme pénalité appliquée uniquement aux «indigènes» entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle.
Mots-clés: Mozambique ; colonialisme ; travail ; pénalité; indigène.
No final do século XIX e início do XX, havia vários povos e grupos sociais em Moçambique. No extremo norte, especificamente na ilha mais conhecida do distrito de Cabo Delgado, a Ilha do Ibo, havia pessoas que se identificavam como muanis, macuas, filhos do Ibo, entre outros.1 1 Muani e macua eram povos do norte de Moçambique, enquanto "filhos do Ibo" eram um grupo de mestiços que assim se auto-identificavam. Algumas dessas identificações chegavam a ser utilizadas para distinguir e hierarquizar os grupos. Os muanis, por exemplo, orgulhavam-se porque eram originários da área costeira, e olhavam para os povos do continente, principalmente os macuas, como inferiores (Conceição, 2006: 218-221). Nesse caso, a distinção geográfica relacionava-se com a identificação étnica, refletindo um contexto socioeconômico vivido pelas populações do norte de Moçambique. O comércio de longa distância de marfim e escravos cravou uma distinção no imaginário das pessoas da região. Como diz Eduardo Medeiros, "todos tinham como história comum a sua participação no comércio de longa distância de marfim e de escravos" (Medeiros, 1997: 45). A diferenciação entre continentais e costeiros ocultava a distinção social entre
walungwana e watwana.2 2 Essas duas categorias expressam na língua quimuani a dicotomia entre continentais e costeiros, de modo que também abarcam a ideia de que walungwana seria o homem livre, enquanto watwana seria escravo. As diferentes formas de diferenciação social estavam vinculadas à dicotomia "livre" e "escravo", à herança que cada pessoa possuía da escravidão e do comércio de escravos. Na Ilha do Ibo, os filhos do Ibo atribuíam-se um passado de homens livres e de negociantes de escravos, por serem mestiços descendentes de indianos e europeus, entre outros. Os muanis, por serem originários das áreas costeiras, apresentavam-se como desvinculados da posição de escravos. Enquanto isso os macuas, ajauas e macondes eram identificados pelos filhos do Ibo e pelos muanis como os autênticos herdeiros dos escravos, em função de sua origem nas áreas interioranas do continente, já que muitos escravos foram levados do interior para a costa (Conceição, 2006: 218-219). Em contrapartida, no interior do continente, nas áreas onde viviam os macuas, havia distinção entre os descendentes dos epotchá (escravos) e dos anèthi (pessoas livres).3 3 AHM - Direcção dos Serviços de Negócios Indígenas, cx. 1096, Ano: 1936, "Questionário etnográfico sobre escravidão".
Com o processo de ocupação colonial do território que atualmente conhecemos como Moçambique, entre o final do século XIX e o início do XX, e a consequente burocratização desse domínio, novas identidades foram criadas. A lógica colonial não era mais a do comércio de escravos, nem deveria refletir as diferenças entre escravizados e homens livres. Tornava-se necessário construir a imagem de inferiorizados a partir de uma perspectiva racial, de modo que o mundo dos brancos representasse a "civilização" e o mundo dos negros a "selvageria", com ênfase na ideia de que seres humanos "primitivos" eram incapazes de se organizar, política e socialmente, sozinhos. A dicotomia passava a ser entre civilizado europeu e selvagem (ou bárbaro) africano. Assim ficava mais fácil justificar a exploração e o domínio colonial como ações humanitárias, através do discurso de que pessoas "evoluídas" levavam a razão e a ciência aos povos incivilizados. A idéia de "indígena" veio justamente aglutinar todas essas supostas características inferiorizantes criadas para os povos colonizados.4 4 Em função das características atribuídas ao termo "indígena", pretende-se utilizá-lo com a devida cautela neste artigo e, por isso, ele aparecerá sempre com aspas. O termo "africano" também será utilizado com aspas quando fizer referência às pessoas que o poder colonial denominava "indígenas", uma vez que havia africanos que não eram chamados de "indígenas". Através de políticas administrativas e jurídicas, grupos distintos foram reduzidos a apenas um indivíduo - o "indígena".
Este artigo volta-se para as questões ligadas à definição de "indígena" no contexto do domínio e da exploração colonial, e analisa sua importância para a utilização de um dos instrumentos mais eficazes dessa exploração: a aplicação de penalidades aos "africanos". Leva-nos assim a entender os motivos da constante insistência em utilizar o trabalho para penalizar os africanos condenados nos tribunais coloniais.
Por que categorizar os africanos?
O essencialismo racial determinou o padrão das relações entre os administradores coloniais europeus e os colonizados africanos. O racismo e as políticas coloniais caminharam juntos durante o colonialismo português em Moçambique, o qual, através do respaldo científico, fez um esforço para criar imagens de pessoas e culturas homogeneizadas (Zamparoni, 2008a: 20-21). Desse modo, os agentes coloniais classificaram um "outro" inferiorizado e ridicularizado como forma de implementar a exploração do território a ser colonizado (Macagno, 2006: 34). Em uma região que comportava grupos de diferentes origens, desde os próprios africanos até asiáticos e europeus, tais ideias hierarquizaram as identidades criadas. O pequeno número de europeus nas áreas coloniais possibilitou criar ou reafirmar subordinações entre os grupos de africanos, de modo que, cada vez mais, uma minoria de africanos passou a se distinguir de uma maioria que considerava "incivilizada" (Zamparoni, 2008a: 21). Ao longo do domínio colonial, os primeiros receberam melhores condições de vida em comparação com os demais.
É possível observar essa situação no extremo norte de Moçambique, no distrito de Cabo Delgado. Embora houvesse uma antiga presença europeia na Ilha do Ibo, a ocupação colonial portuguesa ocorreu na área continental somente a partir de 1894. O governo português, nesse ano, concedeu a uma empresa chamada Companhia do Nyassa o direito de ocupar e explorar dois distritos do extremo norte de Moçambique, Cabo Delgado e Niassa. Até 1929, essa região foi administrada pela companhia. A área ficava distante da capital da colônia de Moçambique, da antiga Lourenço Marques, localizada no extremo sul, e ainda estava sob a tutela de uma companhia com parcos recursos financeiros (Medeiros, 1997). Tais condições tornaram o lugar menos atraente para os portugueses migrarem. Além disso, havia a presença de grupos mestiços e "brancos naturais", que eram o reflexo dos diferentes contatos entre povos africanos, asiáticos e europeus nas áreas costeiras. Esses mestiços e "brancos naturais" passaram a auxiliar os portugueses no governo colonial e, por conseguinte, não foram incluídos na categoria "indígenas".
Os dados do censo de 1908 nos ajudam a perceber essa distribuição social, uma vez que havia nos territórios conquistados pela Companhia do Nyassa cerca de 104 europeus, 343 asiáticos, 237 "brancos naturais", 232 mestiços e 275.590 "pretos".5 5 Mapa estatístico da população, referente a 31 de dezembro de 1908. In: Boletim da Companhia do Nyassa n.º 133, 31 de março de 1909. A hierarquização da sociedade colonial compreendia a presença dos europeus no topo da pirâmide, com a vasta maioria de africanos na base, que passou a ser chamada de "indígena". Os mestiços e os "brancos naturais" estavam em uma posição intermediária. O governo colonial português iria definir linhas identitárias entre a maioria e a minoria africana, com o intuito de "dominar a vida dessas categorias sociais e culturais recém-criadas nas suas relações com o colonialismo" (Zamparoni, 2008a: 21).
Preocupados em justificar o novo domínio e identificar a população a ser colonizada, vários códigos e regulamentos foram criados, estabelecendo as características dessa nova identidade subordinada ao poder colonial (Macagno, 2006: 54). A primeira legislação colonial a definir "indígena" foi o decreto de 27 de setembro de 1894, que instituía a pena de trabalhos públicos a ser aplicada aos "indígenas das terras portuguesas em África". Definia como "indígena" somente as pessoas nascidas nas colônias, com pai e mãe "indígena", que não se "distinguissem pela sua ilustração e costumes do comum de sua raça". O principal objetivo desse decreto não era, simplesmente, a definição de um grupo de pessoas, mas saber a quem seria aplicada a pena de trabalhos públicos. Essa disposição legislativa isentava os africanos que possuíam alguma ascendência não "indígena" e que tivessem determinados comportamentos diferenciados dos demais daquela localidade. Era, de fato, a reconstrução de novas distinções e de novos grupos. Ainda que a ascendência e a origem espacial fossem importantes, as características socioculturais dos indivíduos tornaram-se fundamentais para definir quem poderia ser classificado como "indígena" (Zamparoni, 2008b). Podemos perceber isso na definição de "indígena" apresentada no Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de 1929, que considerava "indígenas os indivíduos da raça negra ou dela descendentes que, pela sua ilustração e costume, não distingam do comum daquela raça; e não indígenas, os indivíduos de qualquer raça que não estejam nestas condições".6 6 Estatuto Político, Civil, Criminal dos Indígenas. Decreto n.º 16.473, de 6 de fevereiro de 1929. In: Ministério das Colónias. Lisboa: Imprensa Nacional, 1929. Independentemente do enfoque, o racismo foi ampliado nas áreas coloniais, impondo as distinções raciais entre os africanos (Zamparoni, 2008a: 21).7 7 Houve uma mudança de critério na classificação do "indígena", que passou a valorizar a cor da pele, na lei provincial de concessão de terras de 1909 e na Regulação de Importação, Venda e Uso e Licença de Arma de Fogo de 1914. Inúmeras outras, como a Portaria do Assimilado de 1917, o Estatuto Político, Civil e Criminal dos Indígenas de 1929 e o Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, centravam-se nas características socioculturais. Ver Zamparoni, 2008a.
Como afirmou Renato da Silveira, o racismo foi provedor e legitimador de várias doutrinas políticas agressivas no final do século XIX. Foi uma ideologia discriminatória forjada pela burguesia européia, que estruturou o "universo simbólico". Com base no discurso científico, através de um método específico e de uma linguagem descritiva e argumentativa, foi estabelecida uma objetividade que justificava a superioridade racial da burguesia europeia, conotando uma hierarquização cultural, religiosa, moral, artística, política, técnica, militar e industrial frente ao mundo (Silveira, 1999: 91-92). A partir disso, a naturalização das diferenças socialmente significativas e a interpretação dessas diferenças como desigualdade tornaram-se importantes sustentáculos ideológicos do racismo (Stolcke, 1991: 112). Naturalizar as diferenças e desigualdades construídas na relação colonialista permitiu legitimar, cada vez mais, a ideia de superioridade dos brancos e inferioridade dos negros.
Com o intuito de naturalizar uma inferioridade construída, criou-se a categoria sociojurídica do "indígena". Assim, o negro africano destituído de qualquer racionalidade recebia uma denominação jurídica. Desse modo, o "outro" era identificado, comportando todas as características inferiorizantes naturalizadas. Diante do crescente interesse colonialista, a criação de regras jurídicas e políticas particularistas para esse "outro" tornara-se fundamental, na tentativa de transformá-lo em uma simples força de trabalho (Cruz, 2005: 10).
O decreto de 1894 demonstra o interesse do governo colonial em instituir leis diferenciadas para determinados grupos colonizados. A penalidade específica para os "indígenas" era uma forma de explorar a mão de obra africana, inserindo-a forçosamente na lógica colonial. Era o resultado da ineficácia das leis de mercado europeias nas colônias. O capitalismo no final do século XIX exigia a criação de uma força de trabalho estável que estivesse integrada no meio da produção colonial, o que não foi possível nas áreas colonizadas, porque as populações estavam voltadas para as suas próprias lógicas de trabalho. Por esse motivo o governo colonial procurou usar uma forma utilitarista e prática para dar conta de tais necessidades (Zamparoni, 2008a: 21-23). Ainda que a penalidade não tenha sido a opção mais eficiente para esse problema, como veremos mais à frente, ela persistiu durante várias décadas do colonialismo português em Moçambique.
No final do século XIX, houve uma "ressignificação" das práticas escravistas frente aos novos interesses capitalistas dos portugueses. Antes do processo de ocupação colonial no continente africano, um teórico português chamado Oliveira Martins enfatizava a necessidade de se possuir "braços e ferramentas humanas", utilizando a força de trabalho dos "indígenas" sem submetê-los à escravidão (Oliveira Martins, 1920). Essa concepção foi reforçada alguns anos depois por um dos pensadores do colonialismo português em África, António Enes. Enes afirmava que Portugal deveria encontrar uma maneira de defender e obter a produção nas suas colônias mediante a imposição da obrigatoriedade do trabalho "indígena" (Enes, 1947). O trabalho forçado foi a forma "de fazer com que este potencial produtivo desperdiçado se transformasse numa força de trabalho disponível e abundante para servir ao mercado" (Zamparoni, 2004: 301-302).
Portanto, o trabalho prisional foi o primeiro recurso utilizado pelos colonizadores, aplicado através de multas de trabalho aos "indígenas" quando condenados por "embriaguez, desordem, ofensa à moral e ao pudor, desobediência às autoridades e infracções dos regulamentos policiais" (Zamparoni, 2004: 303). Durante a administração da Companhia do Nyassa foram utilizados outros mecanismos violentos para adquirir braços para o trabalho forçado. Em 1894, a prisão foi substituída pela condenação ao trabalho forçado, enquanto, em 1903, o imposto a ser pago pelos "indígenas" passou a ser trocado por trabalho. O trabalho forçado foi usado em vários setores da economia colonial, com maior frequência na abertura de estradas, em obras públicas e no cultivo das machambas (plantações) (Medeiros, 1997: 178-180). Vale reforçar que os interesses concretos do colonialismo concentravam-se em manter a ordem, evitar despesas excessivas e reunir mão de obra para o transporte (como o carregamento), infraestrutura e produção agrícola. Para alcançar esses objetivos, as autoridades coloniais utilizaram três mecanismos: a reforma no sistema judiciário, o recurso ao trabalho forçado e a criação de impostos pessoais (Betts, 1991: 334).
O sistema que certamente mais beneficiou o governo colonial na sua estratégia de mobilização do trabalho "indígena" foi o sistema tributário, especificamente o "imposto da palhota". Nos primeiros anos do governo da Companhia do Nyassa surgiu um regulamento provisório, até que em 1913 foi aprovado um decreto que estabelecia que os "indígenas" deveriam pagar uma taxa anual sobre cada palhota que possuíssem.8 8 Palhota era a habitação dos "africanos". Estavam isentos do "imposto da palhota" os chefes locais, as pessoas de "avançada idade" que não pudessem trabalhar, quem possuísse alguma deficiência física, as crianças e as mulheres com filhos menores que não tivessem condições de sustentá-los. A princípio, o pagamento deveria ser efetuado em moeda, podendo ser pago também em gênero. Esse imposto estava ainda sujeito as várias restrições e aumento de valor e, em última instância, seria pago em trabalho.9 9 Decreto de 4 de outubro de 1913. In: Boletim da Companhia do Nyassa n.º 190, 31 de dezembro de 1913. Era uma forma de inserir os "indígenas" nas atividades econômicas coloniais e ampliar o sistema monetário colonial, além de obrigá-los a vender sua força de trabalho a fim de pagar o imposto (Betts, 1991: 335).
A Companhia do Nyassa demonstrou-se incapaz de desenvolver de forma qualitativa o aparato colonial, uma vez que não possuía fundos para investir na produção colonial. O principal recurso financeiro da companhia passou a ser o imposto da palhota. Como a circulação de moeda era reduzida, cobrou-se o imposto da palhota através de produtos comercializáveis ou do trabalho. O valor do imposto chegou a aumentar cerca de 70% entre os anos de 1901 e 1928. Em 1920, passou-se a não aceitar o pagamento em trabalho, somente em gênero ou dinheiro, o que propiciou a migração de muitas pessoas para a área colonial inglesa com o intuito de adquirir libras para pagar o imposto. Oito anos depois, o trabalho como forma de pagamento voltou a ser utilizado. Assim, quem não pagasse o imposto da palhota estava sujeito a três meses de trabalho forçado. Muitos homens continuaram a fugir para não pagar o imposto, recaindo o trabalho forçado sobre suas mulheres, irmãs ou tios, que eram levados para as "plantações dos funcionários da companhia, para trabalhos domésticos, ou para construção e limpeza de estradas" (Medeiros, 1997: 170-173).
A ausência da virtude do trabalho nos "indígenas"
Além do decreto do imposto da palhota, outras disposições legislativas também foram aprovadas em 1913. Uma delas foi o Regulamento dos serviços administrativos e policias em Cabo Delgado, que pretendia disciplinar e ordenar as populações dos centros urbanos.10 10 Decreto de 19 de setembro de 1913. In: Boletim da Companhia do Nyassa n.º 189, 29 de novembro de 1913. A lei apresentava-se como uma forma de garantir a disciplina social através das forças policiais. Ou seja, a instituição policial tornava-se um dos instrumentos utilizados pela Companhia do Nyassa para assegurar a disciplina e a ordem social, bem como a segurança das pessoas e bens. Apesar de exigir que as determinações do regulamento fossem exercidas pelos diferentes grupos sociais, inúmeros artigos eram específicos para os "indígenas", impondo novas formas de higiene e comportamentos. O não cumprimento das exigências do regulamento resultava em sanções, como penas de trabalho, somente para os "indígenas".11 11 Idem. Era a administração colonial assumindo a autoridade e o controle sobre o sistema legal, cujo discurso se pautava na necessidade de corrigir costumes e adaptar pessoas às exigências da nova estrutura social, tornando-as conhecedoras de direitos e deveres criados recentemente.
Nesse regulamento, a penalização de multa às pessoas consideradas "não indígenas" correspondia ao trabalho correcional para os "indígenas". Exemplo disso foi o artigo 83, que informava:
O indivíduo detido por perturbar o socêgo público sem estar embriagado, pagará a multa de 2$, e quando esta não seja paga imediatamente será cobrada por meio coercitivo seguindo-se os termos do respectivo regulamento, salvo se o detido fôr indígena, pois em tal caso ser-lhe-há imposta a pena de vinte dias de trabalho correcional sem vencimento, mas com direito a $04 para alimentação.12 12 Idem.
A utilização do trabalho forçado era a principal forma de penalização dos "indígenas", bastante distinta das exigências impostas aos "não indígenas". A virtude do trabalho era enaltecida nos discursos e nas práticas colonialistas. Sua recusa pelos "indígenas" levaria à punição por trabalho forçado, enquanto o "vadio não indígena será apresentado na secretaria do concelho a fim de se lhe obter emprêgo ou passagem para fora do território".13 13 Idem. Justificava-se que a rejeição à venda da força de trabalho nas relações coloniais propiciava o surgimento de vícios, a miséria e a inveja, que juntas constituíam as mais importantes causas do crime. Aos poucos, o trabalho passava a ser considerado o oposto do crime; os criminosos cometiam delitos, principalmente o roubo, porque não possuíam qualquer disciplina de trabalho.14 14 Eco do Nyassa, 15 de março de 1919 (artigo: "Vadiagem"). No final do século XIX e início do XX, em Portugal, a vadiagem era considerada uma ação de recusa ao trabalho, tendendo a ser "o primeiro passo para uma carreira de crime". Por esse motivo, acreditava-se que era fundamental reprimi-la fortemente (Vaz, 1998: 82). Essa era a concepção burguesa na qual os administradores coloniais se apoiaram ao longo do colonialismo português em Moçambique.
A preocupação com a vadiagem ultrapassou os discursos e as práticas dos colonialistas para ser apropriada por alguns mestiços da Vila do Ibo, que enfatizavam:
Segundo nos informam, o furto e o roubo são coisas agora muito em moda cá na terra.
O preto, por causas diversas que, por ora, nos abstemos de apontar, tem atingido o auge da petulância.
Com a vinda das expedições militares, largou, na sua maior parte as suas ocupações atingidas, para se entregar ao serviço das tropas expedicionárias, por acha-lo menos pesado e melhor remunerado.
Habituou-se assim a comodidades que não conecta, e ganhou aversão ao serviço que nunca lhas proporcionara.
Com a retirada das tropas, ficou-se centenas, sem serviço, ganhando assim o hábito de andar à boa vida.
E aí está êle caído na vadiagem.
Feito vadio, tornado está êle ladrão, porque, precisamos trabalhar para viver, e não fazendo, necessário se lhe torna lançar mão do alheio.
Muito urge, pois, que se adoptem aqui contra a vadiagem as medidas que se usa tomar na Provincia.15 15 Idem.
Isso demonstra que essa concepção se espalhou na sociedade urbana, especificamente entre os "não indígenas", que passaram a entender que era fundamental reivindicar e apoiar medidas para combater o crime devido à sua crescente ameaça, acionando e respaldando a ação do corpo policial e da autoridade colonial. Ademais, essa concepção pautava-se na ideia da incapacidade do indivíduo de lutar pela sobrevivência ou de obter alguma disciplina no trabalho, o que não lhe permitia se acostumar com o ritmo e as condições do trabalho "assalariado". O interesse pela prevenção do crime e pela classificação de determinados comportamentos como crime tornava-se imperativo e justificado pela necessidade de reprimir tais comportamentos. Cada vez mais, a vadiagem e o ócio passavam a ser considerados peculiares aos "indígenas". No entanto, havia uma opinião um pouco diferente em um jornal ligado à Companhia do Nyassa, quase 20 anos antes do texto acima:
Fervet'opus, n'este momento, no tribunal judicial d'esta comarca.
Ha um processo por homicio voluntario, outro por estupro commettido na pessoa de menor, uma policia correcional por diffamação, e, presa a esta, uma querella por trafico d'escravos.
E não se ajuíze mal do povo do Ibo, por esta profusão de processos. Apenas n'um d'estes, o de homicídio, o acusado é indígena.16 16 O Nyassa, 6 de julho de 1900 (artigo: "Movimento judicial").
Obviamente as condições e os contextos se haviam modificado nesse período de 20 anos, mas a criminalidade, no exemplo acima, não estava diretamente relacionada aos "indígenas", nem mesmo era apresentada como resultado da recusa ao trabalho. Com isso, é possível perceber que o discurso do trabalho tornara-se cada vez mais significativo para a implementação das ações colonialistas, que vinculavam a identificação de um "outro" inferiorizado à ideia de ócio e vadiagem. A partir das últimas décadas do século XIX, foram crescentemente criadas tipologias das sociedades não ocidentais, percebendo a "civilização" como algo igual a "trabalho" (Leclerc, 1973: 16). O desenvolvimento tecnológico dos europeus simbolizava "civilização" e significava "trabalho". Como uma atitude humanitária, os administradores e teóricos coloniais afirmavam que deveriam impor o trabalho aos povos não ocidentais. O trabalho era mais do que educação, levaria essas sociedades ao caminho da civilização. No início da década de 1920, o alto comissário de Moçambique, Brito Camacho,17 17 Foi comissário régio de Moçambique no período de 1921 a 1923. defendia que todos os animais trabalhavam para satisfazer suas necessidades, uns para saciar suas necessidades imediatas, outros para provisões futuras. Acrescentou que essa relação nas sociedades humanas variava de acordo com o nível mental, ressaltando que nos "pretos" essas necessidades eram menos complexas do que nos "brancos", e era por isso que "civilizar, no fim de contas, nada mais é do que criar necessidades, propiciando ao mesmo tempo os meios de as satisfazer" (Camacho, 1946: 190-194).
Havia, portanto, de forma crescente, uma linha muito tênue entre "indígena" e criminoso nas áreas urbanas coloniais. As condições econômicas históricas dos africanos nas relações coloniais fizeram dos "indígenas" a população com menos recursos materiais. A ideia de "preto" e pobre avizinhava-se da criminalidade, visto que o primeiro recusara o trabalho, mantendo-se pobre, e estando apto ao crime. É implícita a concepção de que a vida no meio urbano tirava a simplicidade dos "indígenas" que seguiam à procura das necessidades criadas pelo colonialismo e da ambição de usufruir dos mesmos recursos materiais que a população "não indígena". Ou seja, as relações nos espaços urbanos levavam a população mais pobre a ambicionar, imitar e desejar os mesmos modos de vida do colonizador, ocasionando o crime.18 18 Eco do Nyassa, 15 de março de 1919 (artigo: "Vadiagem"). Tudo isso nos faz perceber que o crime não deixa de ser uma construção social (Batiata, 2009: 22). As noções de classe, raça e crime estavam mais vinculadas no imaginário social das pessoas que viviam nas vilas e nas cidades.
Trabalho como pena exclusiva para o "indígena"
As concepções veiculadas sobre "indígena", "civilização" e "trabalho" ajudavam a moldar uma legislação penal específica para os "africanos". A identificação de grupos colonizados, a demarcação de superioridade e a importância da mão de obra propiciaram uma constante reflexão em relação à penalidade a ser aplicada aos "indígenas" na execução das leis coloniais. Não é coincidência que a primeira legislação colonial a definir "indígena" instituiu a utilização da pena de trabalhos públicos somente para esse grupo de africanos. Esse decreto foi uma iniciativa, em 1894, do comissário régio António Enes, que criticava a aplicação do Código Penal Português nas colônias sem nenhuma alteração. Portanto, António Enes foi um dos primeiros a apresentar e a defender uma reforma judiciária diferenciada para Moçambique, justificando que:
Os regimes penaes vão, por toda a parte, associando o trabalho á expiação, como meio de utilizar e moralisar o criminoso. Nas colônias inglesas de Africa do Sul, os sentenciados teem sido um enérgico instrumento dos melhoramentos materiaes; quem entrar no porto de Natal, por exemplo, lá verá centenas de negros occupados colossaes, sob a vigilância de guardas de espingarda carregada. Em Moçambique, ao contrário, só na fortaleza de S. Sebastião ha sempre tresentos ou quatrocentos criminosos, dos quaes só alguns fazem serviço, se querem, ao governo e aos particulares. Estão as prisões atulhadas de ociosos e as administrações publicas não teem pessoal para occupação indispensaveis ou pagam-no por altos preços (Enes, 1947: 72).
O comissário régio não fazia crítica às doutrinas do Código Penal Português de 1886. A insatisfação era com a sua utilização em Moçambique, porque considerava que o uso de penas de prisão celular não propiciaria o desenvolvimento moral e cultural dos "indígenas". António Enes enfatizava que somente a prisão não causava intimidação, visto que a passividade e a inércia dos "indígenas" faziam com que estes se acostumassem rapidamente com a privação da liberdade. Ironicamente, afirmava que passar "a vida deitado a contar historias de feitiços e quizumbas, entremeadas com cantarolas de sina mama, não moe tanto o corpo nem caleja a pele como a canna da machilla ou o punho do remo (...)" (Idem, ib., p. 73).
António Enes defendia a existência de um sistema penal voltado para o trabalho público e correcional, como forma de inserir os "indígenas" na relação de trabalho colonial. Segundo o comissário régio, o período em que o infrator estivesse em trabalho prisional deveria ser um momento de correção. O discurso era permeado pela ideia de instituir a moralidade aos "indígenas":
Tão-pouco cuido que o encarceramento possa moralisar o negro. Não entrarei aqui em dissertações acerca do regime penal que convém aplicar a seres incompletamente conscientes e responsáveis, a quem a crença nos feitiços e nos feiticeiros perturba tanto o senso moral e intelectual, que não raramente cometem hediondos crimes, convencidos de que praticam acções beneméritas ou de que apenas cedem a fatalidades irresistíveis (Idem, ib., p. 74).
Assim a ação humanitária dos portugueses poderia e deveria impor o trabalho:
O trabalho é a missão mais moralizadora, a escola mais instrutiva, a autoridade mais disciplinadora, a conquista menos exposta a revoltas, o exercito que pode ocupar os sertões ínvios, a única polícia que há-de reprimir o escravismo, a religião que rebaterá o maometismo, a educação que conseguirá metamorfosear brutos em homens (Idem, ib.).
A proposta de António Enes exigia políticas que destruíssem, bruscamente, os sistemas jurídico-culturais dos povos colonizados, com a justificativa de estar elevando o nível moral e civilizacional dessas pessoas.
Na virada do século, um dos adeptos e impulsionadores das ideias de António Enes foi Manuel Moreira Feio, que considerava que a aplicação do mesmo regime penal português era bastante grave, porque acabava se constituindo como um prêmio para os "indígenas". Feio estava convicto de que o ideal do "preto" era viver sem trabalhar, e a prisão permitia continuar na ociosidade. Completava dizendo que o indivíduo poderia ter cometido os crimes mais bárbaros, mas recebia casa, cama e comida dentro do presídio. Sem dúvida, essa situação apresentada por Manuel Moreira Feio não correspondia à realidade das prisões da colônia (Feio, 1900).
Contudo, Manuel Moreira Feio discordava de António Enes sobre alguns mecanismos a serem utilizados para moralizar os "indígenas". Na sua obra intitulada Indígenas de Moçambique, Feio atentou para o desconhecimento que a administração colonial tinha das leis e costumes dos povos colonizados, ressaltando que o caráter jurídico das sociedades "indígenas" refletia seu estágio de "evolução". Por esse motivo, a metrópole não podia atacar as bases dessas instituições com o único objetivo de substituí-las por outras, afirmando que "não vae assim impunemente um punhado de civilisadores atacar milhões e milhões de selvagens, que vivem, crescem e morrem aferrados aos preconceitos". A ideia seria fazer uma seleção do que deveria ser eliminado por ser considerado absurdo e do que seria conservado por simples conveniência. Manuel Moreira Feio enfatizava que, devido ao atraso das sociedades africanas, o governo colonial não deveria contrariar suas fantasias, mas procurar meios de civilizá-las. As leis e instituições dos povos colonizados seriam aceitas até que fosse amenizada "sua crueldade" e unificada sua forma legislativa na colônia (Idem, ib.).
Ainda que discordassem do método a ser imposto pelo sistema jurídico português aos colonizados, Enes e Feio defendiam a não aplicação das mesmas penalidades determinadas no Código Penal Português para os "indígenas". As questões que envolviam a criminalidade poderiam ser baseadas nesse código, enquanto as penas deveriam ser excepcionais para os "indígenas", como parte do processo de civilização das áreas coloniais. E, de fato, durante todo o período colonial, a justiça penal nas colônias portuguesas baseou-se no código de 1886. Mesmo com a criação de tribunais coloniais específicos para julgar os "indígenas" e com as políticas de codificação dos costumes dos povos colonizados a partir da segunda metade da década de 1920, utilizou-se o mesmo Código Penal.19 19 Em 1929, foram criados os Tribunais Privativos dos Indígenas, cujo objetivo era julgar de forma privativa os africanos chamados de "indígenas". Somente na década de 1940 surgiu um projeto de Código Penal específico para os "africanos" de Moçambique, que não foi aprovado (Cota, 1946).
No entanto, as penalidades foram sendo construídas de forma diferenciada para os "indígenas" ao longo do colonialismo em Moçambique, sempre baseadas em trabalhos públicos ou correcionais. Em contrapartida, o uso da pena de trabalho em Portugal foi bastante criticado durante a segunda metade do século XIX. Justificava-se que não havia eficácia nessa forma de penalidade, porque ela não causava a intimidação e a moralização do "delinquente", proporcionando-lhe apenas o desprezo público. Portanto, no Código Penal Português constavam somente as penas de prisão celular e de degredo, ou seja, não havia penas de trabalho.20 20 Código Penal Portuguez, ordenado pelo decreto de 16 de setembro de 1886. 5.ª edição. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1905.
O Código Penal Português de 1886 estava baseado na perspectiva do "ressurgimento das idéias retributivas" (Barreiros, 1980: 593). Era um retorno às teorias clássicas do Direito Penal, que, de uma forma geral, defendiam que a repreensão servia para revidar o mal ao infrator.21 21 A chamada Escola Clássica, oriunda do Iluminismo, influenciou significativamente o pensamento português em relação ao crime e à penalização durante o século XIX. Suas teorias foram desenvolvidas entre o final do século XVIII e o princípio do seguinte, no âmbito da filosofia política liberal, tendo como um dos seus ícones o filósofo italiano Cesare Beccaria. O acusado não era considerado diferente das demais pessoas, como se sua ação fosse predeterminada. Acreditava-se que o delito havia surgido mediante o livre arbítrio do indivíduo, e não a partir de motivações patológicas. O autor do delito deveria ser responsabilizado pelas suas próprias ações como qualquer outra pessoa. Além disso, a pena era concebida como "instrumento legal para defender a sociedade do crime, criando, onde fosse necessário, um dissuasivo, ou seja, uma contramotivação em face do crime" (Baratta, 2002: 31). A principal preocupação era o delito, compreendido como um conceito jurídico devido à violação do direito e do pacto social pelo seu autor, causando um distúrbio na sociedade (Vaz, 1998: 32).
A aplicação do Código Penal Português em Moçambique foi marcada por uma contradição no que se referia à responsabilidade do acusado em relação ao delito cometido. O código determinava que a "ignorância" em relação à lei criminal portuguesa não isentava ninguém da pena a ser cumprida, nem mesmo tornava o acusado digno de atenuação.22 22 Código Penal Portuguez, ordenado pelo decreto de 16 de setembro de 1886, cit. Nos tribunais coloniais existentes em Moçambique, o "grau de civilização" do acusado era enfatizado com freqüência.23 23 AHM - Concelho de Cabo Delgado no Ibo, Juízo de Direito da Comarca, várias caixas, anos 1896-1930, autos-crime (vários acusados); AHM - Administração do Concelho de Porto Amélia, Secção "F" - Justiça, várias caixas, anos 1929-1940, autos-crime (vários acusados). Alegava-se que a responsabilidade criminal do acusado deveria seguir de acordo com o seu desconhecimento da lei metropolitana, o que era admitido somente para os chamados "indígenas". Essa diferenciação chegou a servir para amenizar a pena do acusado, embora sua principal função fosse a de determinar quem deveria ser condenado a pena de trabalho. Essa adaptação tinha um significado explícito: a aceitação da "ignorância dos indígenas" em relação à penalidade do código português.
Às críticas dos portugueses em relação ao uso de penas de trabalho para os condenados na metrópole faziam-se ecos contrários nas colônias. As penas de prisão correcional e maiores, atribuídas de acordo com os delitos cometidos, foram substituídas pelas penas de trabalho correcional e trabalhos públicos em Moçambique. O condenado a pena de trabalho ficava sob a vigilância especial da polícia, devendo receber um salário fixo pelos serviços prestados.24 24 Idem. A pessoa não recebia seus vencimentos enquanto não terminasse o tempo da pena. Após cumprir a pena, o vencimento salarial deveria ser entregue ao trabalhador. O valor a ser recebido era um terço do salário vencido (bruto), e o restante ficava para o fundo do governo colonial.
A pena de trabalho correcional não poderia ser inferior a três dias e superior a dois anos, cumprida na própria área administrativa do tribunal que julgou o acusado. Já a pena de trabalho público, atribuída a delitos considerados graves, deveria ser cumprida entre 10 a 28 anos em região diferente daquela onde foi realizado o crime, podendo ser na colônia ou fora dela.25 25 O mesmo tempo de prisão apresentado no Código Penal foi substituído pelo de trabalho. Ver Codigo Penal Portuguez, ordenado pelo decreto de 16 de setembro de 1886, cit.; AHM - Concelho de Cabo Delgado no Ibo, cit., e AHM - Administração do Concelho de Porto Amélia, cit. As penas de trabalho público eram cumpridas nas colônias agrícolas, e somente as pessoas com idade superior a 60 anos e os portadores de alguma deficiência física estavam isentos. As mulheres e os menores de 14 anos deveriam cumprir pena nos hospitais, nas missões religiosas, estabelecimento de beneficência e ensino, entre outros.26 26 AHM - Governo Geral, cx. 164, ano 1946, Ofício ao Cônsul Geral da União da África do Sul, 28 de agosto de 1946; Regulamento dos Tribunais Privativos dos Indígenas. Aprovado pelo diploma legislativo de n.º 162, de 1 de junho de 1929. Os presidiários "indígenas" considerados perigosos eram internados no Depósito de Sentenciados na Ilha de Moçambique. Ficavam junto com prisioneiros brancos e "não indígenas". É possível presumir que esse tipo de prisão não agradasse muito aos colonialistas, chegando mesmo a haver críticas pelo fato de se "condenar à pena de prisão, para então serem misturados com os não indígenas nos estabelecimentos prisionais, com péssimos efeitos para o prestígio do colonizador e para o nível moral dentro do estabelecimento" (Moreira, 1955: 143).
Apesar de os castigos corporais terem sido abolidos em Portugal, as penas disciplinares para os presos "indígenas" chegavam-se a usar castigos corporais como forma de repreensão.27 27 AHM - Governo Geral, cit. O estudo das ações e debates jurídicos nas colônias portuguesas indica que a principal finalidade das sanções criminais para os "indígenas" era a intimidação. Havia uma acentuada tendência à aplicação das penas máximas sempre que se tratava de "indígena" (Idem, ib., p. 132-134). Os trabalhos mais pesados eram atribuídos aos condenados a trabalho público, e os mais leves às pessoas que cumpriam pena de trabalho correcional. Em toda a colônia havia "indígenas" cumprindo pena; alguns dormiam nos "calabouços administrativos", mas a maioria vivia em cubatas28 28 Casas rústicas. por eles construídas. Muitos colonialistas chegavam a criticar o fato de que as penas atribuídas aos "indígenas" não atingiam a finalidade de prevenção, correção e tratamento, afirmando que os presos estavam quase sempre ociosos ou ocupados em trabalhos inúteis por falta de planejamento jurídico-administrativo. Deste modo, criticava-se também que, ao invés de ser cumprida pena de trabalho, realizava-se pena de desterro (Idem, ib., p. 143-144).
Mesmo com as críticas dos próprios administradores coloniais às condições em que os "indígenas" cumpriam suas penas, o discurso colonialista na década de 1940 não se diferenciava da defesa do administrador colonial José Manuel Duarte Gouveia:
O regime celular para os indígenas não me parece aconselhável, pois não poderá satisfazer aos fins que se têm em vista. Por isso se defende desde já, a criação de novos estabelecimentos prisionais, como centros organizados de trabalho de carácter predominantemente agrícola (...). Ou seja, a execução das penas deve depender da personalidade do delinqüente e não da natureza da pena (Idem, ib., p. 175).
Algumas décadas depois das defesas de António Enes, o administrador colonial em Cabo Delgado, José Manuel Duarte Gouveia, enfatizava que o regime penal e prisional a ser aplicado aos "indígenas" deveria atingir um caráter concretamente educativo e civilizador. Sem dúvida, esse era um pensamento colonialista hegemônico!
Considerações finais
O discurso civilizatório manteve-se, ao longo dessas décadas, vinculado à imposição de uma forma de relação de trabalho aos "indígenas". As bases da estrutura administrativa do colonialismo português em Moçambique pautaram-se no princípio da identificação do "indígena", com o intuito de impor leis para explorar sua força de trabalho. No campo administrativo e jurídico, aos delitos e infrações cometidas pelos "indígenas" atribuíam-se, geralmente, penas de trabalho. A obrigatoriedade do trabalho, o imposto da palhota, as penalidades ligadas aos trabalhos públicos e correcionais passavam a ser justificáveis quando eram impostos a indivíduos considerados "inferiores", enquanto a "civilização" isentava os demais. Por isso, buscou-se criar um "outro" que fosse legalmente considerado diferente dos colonizadores. A identificação de um indivíduo com suas características inferiorizadas pelo poder colonial admitia a criação de certos mecanismos de controle impostos somente ao colonizado. A alternativa foi utilizar um discurso que não contrariasse totalmente as defesas da liberdade e da igualdade em Portugal. Ao longo desse domínio em Moçambique, imperou uma concepção bastante defendida por António Enes, que era a necessidade de primeiro igualar as pessoas para depois igualar as leis. Pessoas com hábitos e costumes diferentes deveriam estar sob leis diferentes. Assim, justificou-se o uso de penalidades que há tempos eram rejeitadas em Portugal.
Notas
Artigo recebido em 30 de junho e aprovado para publicação em 21 de setembro de 2012.
- BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal: introdução à Sociologia do Direito Penal Rio de Janeiro: Revan, 2002.
- BARREIROS, José António. As instituições criminais em Portugal no século XIX: subsídios para sua a história. Análise Social Lisboa, vol. XVI (63), 1980.
- BATISTA, Vera Malaguti. Criminologia e política criminal. Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica Niterói, vol. 1, jul-dez 2009.
- BETTS, Raymond F. A dominação europeia: método e instituições. In: BOAHEN, A. Adu (coord.). História geral da África. África sob dominação colonial 1800-1935, vol. VII. São Paulo: Ática/Unesco, 1991.
- BRITO, Camacho. A preguiça indígena. In: Antologia colonial portuguesa, vol. I: Política e administração. Lisboa: Divisão de Publicações e Biblioteca/Agência Geral das Colônias, 1946.
- CONCEIÇÃO, António Rafael da. Entre o mar e a terra: situações identitárias do norte de Moçambique Maputo: Promédia, 2006.
- COTA, Gonçalves. Projecto definitivo do Código Penal dos Indígenas da colônia de Moçambique. Lourenço Marques: Imprensa Nacional de Moçambique, 1946.
- CRUZ, Elizabeth Ceita Vera. Estatuto do indigenato: a legalização da discriminação na colonização portuguesa. Luanda: Chá de Cazinde, 2005.
- ENES, António. Moçambique. 4o ed. Lisboa: Imprensa Nacional, 1947.
- FEIO, Manuel Moreira. Indígenas de Moçambique Lisboa: Typographia do Comércio, 1900.
- LECLERC, Gérard. Crítica da antropologia Lisboa: Editorial Estampa, 1973.
- MACAGNO, Lorenzo. Outros muçulmanos: Islão e narrativas coloniais. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2006.
- MEDEIROS, Eduardo da Conceição. História de Cabo Delgado e do Niassa (c. 1836-1929). Maputo: Arquivo Histórico de Moçambique, 1997.
- MOREIRA, Adriano. Administração da justiça aos indígenas. Agência Geral do Ultramar/Divisão de Publicações e Bibliografia, 1955.
- OLIVEIRA MARTINS, J. P. O Brazil e as colónias portuguezas. 5 ed. Lisboa: Parceria António Maria Pereira Lived, 1920.
- SILVEIRA, Renato da. Os selvagens e a massa: papel do racismo científico na montagem da hegemonia ocidental. Afro-Ásia, nº 23. Rio de Janeiro, 1999.
- STOLCKE, Verena. Sexo está para gênero assim como raça está para etnicidade? Estudos Afro-Asiáticos, nº 2, jun. 1991.
- VAZ, Maria João. Crime e sociedade: Portugal na segunda metade do século XIX. Oeiras: Celta Editora, 1998.
- ZAMPARONI, Valdemir. Da escravatura ao trabalho forçado: teorias e práticas. Africana Studia, nº 7. Edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004.
- _____. Colonialism and the creation of racial indentities in Lourenço Marques, Mozambique. In: BARRY, B.; SOUMONNI, E. & SANSONE L. Africa, Brazil and the construction of trans-atlantic black identities. Africa World Press, 2008a.
- _____. Frugalidade, moralidade e respeito: a política do assimilacionismo em Moçambique, c. 1890-1930. 2008b. bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/aladaa/valde.rtf (25/10/2011).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Abr 2013 -
Data do Fascículo
Dez 2012
Histórico
-
Recebido
30 Jun 2012 -
Aceito
21 Set 2012