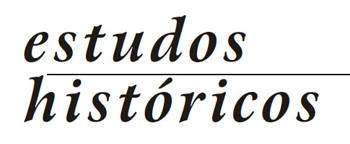João, gostaria de agradecer sua disponibilidade em conversar comigo para publicar a entrevista na revista Estudos Históricos, cujo tema é “História, democracia e instituições”. Para começar, gostaria que você contasse um pouco como foi sua graduação na Unicamp. Por que você escolheu fazer Ciências Sociais?
Na verdade, comecei fazendo o curso de Direito, logo depois vi que não era aquilo que eu gostava. Um mês depois tentei passar para o curso de História na Universidade de São Paulo (USP). Eu morava em Campinas, mas estava fazendo o curso na USP e meu pai era juiz. Naquela época ele era juiz no Tribunal de Alçada, trabalhava em São Paulo. Não consegui passar para o curso de História. Durante o ano de 1972, enquanto frequentava o curso noturno de Cinema, comecei a perceber que queria mesmo fazer Ciências Sociais. Então, fiz outro vestibular e passei para Ciências Sociais na Unicamp. Fiquei na Unicamp de 1973 até 1976. Comecei a lecionar em 1975. Nos primeiros dois anos, então, fiquei sem trabalhar, mas depois comecei a dar aula.
Aula de quê?
Comecei a dar aula de História, em cursos supletivos. Alunos adultos, todos eles maiores de 18 anos, das mais diferentes profissões, logo passei a ter classes grandes. No começo eram classes de 60, depois foram classes de mais de 100 alunos. E, em dois anos de trabalho, já estava ambientado com a sala de aula. Foi uma tremenda escola para mim, porque eu tinha de traduzir aquela linguagem que havia aprendido na Unicamp numa linguagem que os alunos - um garçom, um policial, uma enfermeira, um metalúrgico, tinha muitos operários - pudessem entender. Logo descobri certa facilidade pessoal para traduzir coisas complicadas em uma linguagem bem-humorada, que eles entendessem. Tinha de manter os alunos acordados, porque durante esses primeiros anos foram alunos do curso noturno, e eles trabalhavam durante o dia. Enquanto isso, eu realmente levei muito a sério o curso na Unicamp, quase nunca faltei, durante os quatro anos. Eu morava em Campinas mesmo, não precisei nem sair de casa para fazer o curso de Graduação. Naquele período, por volta de 1974, o movimento estudantil começou a se rearticular em novas formas, agora havia o que se chamava de tendências nacionais. Antes você tinha muitas organizações regionais, como a Dissidência Estudantil da Guanabara, por exemplo. Havia em São Paulo o grupo da Aliança Libertadora Nacional (ALN), no Rio Grande do Sul, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), em Minas Gerais a corrente trotskista de onde saiu o Colina. Até 1968, esses grupos, ou trotskistas ou dissidentes do Partido Comunista, eram regionais e tinham certas afinidades entre si. O de São Paulo tinha laços com o do Rio Grande do Sul, que, por sua vez, também tinha afinidade com o de Minas, por serem trotskistas. Depois de 1974, o movimento estudantil foi se reagrupando, fazendo encontros por área e encontros regionais, e pouco a pouco ele começou a se rearticular. Eu passei a participar da política estudantil, mas não pertencia a nenhum grupo. Como a Unicamp tinha um reitor muito ciente de seu espaço e que tinha vindo da Universidade de Brasília (UnB), onde havia sido reitor também, então não havia repressão na universidade, como havia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na USP, por exemplo. A Unicamp tinha um espaço mais ou menos preservado, mais ou menos isolado também. A universidade era nova, mas havia bastante movimentação e algumas atividades culturais. Comecei a me envolver e a organizar noites de música latino-americana, depois passamos a organizar noites de cinema, entre outras coisas.
Qual era a pauta política do movimento estudantil naquela época? Tinha uma conexão com a política nacional?
Naquela época, era basicamente uma questão de renascimento do movimento estudantil, com muita cautela. Mas, ao mesmo tempo, quando entrei na universidade em março de 1973, houve o assassinato de Alexandre Vannucchi Leme, e fui para São Paulo, na missa da Sé; lá encontrei vários amigos da Unicamp. O grupo da esquerda da Unicamp se conhecia. Tinha pouca gente na Unicamp, todos os alunos, de todos os cursos, se conheciam, desde Medicina, passando pelas Exatas e Humanas. No Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, os alunos frequentavam o curso básico, onde tinha Linguística, Economia e também Ciências Sociais, e fazíamos o primeiro ano juntos. Classes grandes, turmas de cem alunos. Mas era bem pequena perto das outras universidades. Em termos do conteúdo mesmo do curso, havia vários professores jovens, altamente motivados, alguns moravam aqui em Campinas e outros em São Paulo. Paulo Sérgio Pinheiro, por exemplo, Décio Saes, que foi meu orientador de Doutorado, Evelina Dagnino, que tinha acabado de voltar de Stanford. Décio e Paulo Sérgio tinham voltado da Sorbonne. Havia André Villa Lobos e os antropólogos, eles eram notáveis, pois vieram para fundar esse curso na Unicamp com o apoio do diretor do IFCH, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Fausto Castilho, que faleceu há pouco tempo, mas ele logo foi demitido. Foi ele quem recrutou esse grupo de antropólogos: Peter Fry, Verena Stolcke, Mariza Correa - que faleceu recentemente também -,Suely Kofes, Antonio Augusto Arantes. O grupo que tinha mais carisma era o da Antropologia. Antropologia europeia. Eles chegaram aqui em pleno apogeu da questão do chamado massacre das populações indígenas no Brasil. No primeiro ano eles nos fizeram realizar uma longa pesquisa em jornais, para tomar consciência da questão indígena. O jornal O Estado de S. Paulo, embora houvesse uma ditadura, e estivesse censurado, tinha uma boa cobertura dessa questão, então era uma situação um tanto híbrida. Um professor, por exemplo, Roberto Gambini, que era também diretor teatral, foi chamado ao Departamento de Ordem Política e Social (Dops) e advertido. De repente, suas aulas mudaram. Em um debate conosco, acabou contando. Não tinha laços com organização nenhuma. Então, vivíamos essa situação: a repressão estava ali o tempo todo, mas ao mesmo tempo havia uma liberdade de expressão muito maior do que no Chile, cujo golpe ocorreu em 1973. A queda e a morte de Allende foi um marco na minha vida de estudante. Uma grande tristeza. Mas no meu segundo ano de faculdade, em 1974, já havia começado o governo Geisel e teve uma mudança.
Essa mudança foi perceptível na sala de aula e nos corredores da Universidade?
Os professores eram todos muito cautelosos porque havia o risco de prisão, de ser chamado para depor etc. Mas eram, em geral, professores de esquerda, o marxismo teve uma grande presença naquela época, o estruturalista ou o gramsciano; era uma questão de qual marxismo. E, basicamente, o que vigorava era uma crítica ao nacional desenvolvimentismo. Uma crítica àquela crença na burguesia nacional, na questão do populismo. As teorias do Francisco Weffort eram muito presentes. Nós tínhamos professores muito bons, e havia um grupo da minha classe que realmente levava tudo muito a sério. Era uma geração que lia muito, nós trocávamos livros e líamos muita literatura latino-americana. Eram pessoas que gostavam mesmo de ler, gostavam de arte, de literatura, de teatro. Mas era uma universidade do interior. Tinha recursos, e a biblioteca foi crescendo também, mas ela estava longe do centro político do País. Isso se preservou até que aconteceu um grande evento na Unicamp, em 1975, organizado por Paulo Sérgio Pinheiro, com a presença de Eric Hobsbawm, além de grandes nomes das Ciências Sociais na época. Mino Carta tinha contato com Paulo Sérgio e, então, saiu uma capa da revista Veja, com o título mais ou menos assim: O reduto da inteligência brasileira. Os professores eram jovens, de um modo geral muito bem preparados, e alguns ficaram muito conhecidos. Mas ao mesmo tempo havia uma vontade de criticar algumas teorias vigentes na esquerda, principalmente no Rio de Janeiro, que nos deixou um pouco mal preparados para entender a realidade do Brasil. Por exemplo, nós não tínhamos o menor preparo para imaginar que um dia aqueles líderes chamados “populistas”, coisas de museu, voltariam a ter peso na política nacional. Houve um episódio que me marcou muito, lembro que foi um choque tremendo: a morte do Juscelino Kubitschek. Ouvi na rádio Jornal do Brasil, às dez horas da noite, o radialista Eliakin Araujo noticiar: “Acaba de falecer, em um acidente de automóvel na via Dutra, o ex-presidente Juscelino Kubitschek”. E o que aconteceu nos dias seguintes foi absolutamente surpreendente. Houve grande comoção popular, e o governo militar nem ousou impedir as manifestações em Brasília. A Cidade parou para receber o corpo de Juscelino. Tinham enterrado o “populismo” no Curso de Ciências Sociais da Unicamp e, de repente, nos defrontávamos com a memória fortíssima do populismo. Então, isso mostrou que o nosso curso era muito bom, mas tinha algum problema de conexão com a realidade. E, depois, Jânio foi eleito prefeito de São Paulo, Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, Miguel Arraes voltou a governar Pernambuco e, talvez, Juscelino tivesse sido presidente da República, se não tivesse morrido naquele acidente.
A que vocês atribuem esse problema de formação para analisar as questões da realidade política brasileira naquela época?
Parece que havia certo “teoricismo”, uma postura muito intelectualista, um certo desprezo por intelectuais como Darcy Ribeiro e Paulo Freire, por exemplo. No Rio de Janeiro havia uma tradição muito maior de conexão entre a universidade e a realidade política. E na Unicamp nós herdamos um pouco da tradição da USP. Mas com a volta dos exilados, a universidade mudou. José Serra e Luciano Martins voltaram e foram dar aula na Unicamp. Maria Hermínia Tavares de Almeida começou a dar aula para nós no fim do curso. A partir daí, passou a ser outro curso. Campinas tinha entre 300 e 350 mil habitantes, no começo dos anos 1970, embora a universidade tivesse poucos laços com a Cidade. Quando cursei o Mestrado (1978-1986), a Universidade já era outra.
Seu engajamento no movimento estudantil se deu a partir de 1974/1975, correto? Foi importante para a decisão do seu tema de conclusão de curso e do seu mestrado?2 2 MARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e militarização do Estado no Brasil, 1964-1968. Dissertação de Mestrado em Ciência Política, Unicamp, Campinas, 1986.
Desde 1974 a gente já percebia uma movimentação e não sabia muito bem quem era quem. Houve, também, a repressão ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no Araguaia. Nós tivemos vários colegas em sala de aula que já tinham sido presos por participação na luta armada, que foram barbaramente torturados e depois soltos, pois já tinham cumprido a pena. Com certeza esse engajamento foi importante, porque a primeira vez que liguei o rádio do carro, um pouquinho antes das duas horas da tarde, e ouvi que tinha saído uma passeata do campus da Universidade de São Paulo em direção ao Largo da Batata, em Pinheiros, no começo de 1977, eu senti uma sensação de “puxa vida, pela primeira vez, depois que saí da universidade, vejo que voltou a existir o movimento estudantil de rua”. Na época, já não era mais aluno de Graduação, tinha entrado no Mestrado e continuava a ser professor de cursinhos para adultos. Minha participação começou a ser muito intensa no movimento de oposição sindical, como se chamava na época, dos professores. Aí me envolvi muito com o movimento sindical.
Quando você desenvolveu sua dissertação de Mestrado havia pouca bibliografia sobre o movimento estudantil para dialogar. Como você estruturou seu trabalho?
Havia o trabalho de Marialice Foracchi, que morreu muito cedo e publicou vários livros, um deles se chama O estudante e a transformação da sociedade brasileira3 3 FORACCHI, M. M. O estudante na transformação da sociedade brasileira. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1965. e outro A juventude e a sociedade moderna.4 4 FORACCHI, M. M. A juventude e a sociedade moderna. São Paulo: Pioneira, 1972. Então eu tinha essa referência, uma análise mais de cunho, vamos dizer, marxista, sociológica. Eu li bastante coisa sobre o movimento estudantil francês. Eu tendia mais para o althusserianismo, no caso da Itália, do II Manifesto, Rossana Rossanda, o pessoal crítico dos partidos comunistas, mas que eram oriundos dos mesmos partidos comunistas. E, aqui, no caso do Brasil, Décio Saes. Meu orientador era Caio Navarro de Toledo, que havia escrito sobre o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), mas Décio Saes tinha feito um trabalho de peso sobre a classe média brasileira. Então eu inseri o movimento estudantil nesse quadro do Décio. Sobre o movimento estudantil, mais especificamente, José Luis Sanfelice estava realizando uma pesquisa na área de educação,5 5 SANFELICE, J. L. Movimento Estudantil: a UNE na resistência ao Golpe de 64. Tese de Doutorado em Educação, PUC, São Paulo, 1985. mas eu não sabia do trabalho dele, além de Marcelo Ridenti, que estava desenvolvendo seu trabalho na USP, sobre o qual eu também não tinha conhecimento. Ridenti passou do Mestrado direto para o Doutorado e, alguns anos depois, publicou sua tese.6 6 RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira: raízes sociais das esquerdas armadas, 1964-1974. Tese de Doutorado em Sociologia, USP, São Paulo, 1989. A primeira edição do livro foi publicada em 1993 pela editora UNESP/FAPESP, São Paulo. Tanto eu quanto Marcelo tivemos de reconstruir toda a trajetória da esquerda brasileira sozinhos. Quando nós estávamos terminando a Pós-Graduação, saiu o livro de Jacob Gorender.7 7 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. 1. ed., São Paulo: Editora Ática, 1987. Nosso trabalho teria sido muito mais fácil. De qualquer modo, fiquei muito tempo estudando a história da esquerda brasileira, conheci relativamente bem a trajetória da esquerda brasileira. Mas havia pouca coisa. Como estava dando aula, fiquei sete anos no Mestrado, e quando saiu o meu livro sobre a dissertação, em fevereiro de 1987,8 8 MARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e ditadura militar, 1964-68. 1. ed. Campinas: Papirus, 1987. foi um sucesso, porque saiu nas principais revistas: na IstoÉ, como livro recomendado, três páginas na Revista Senhor e no jornal Leia. É algo que você não pode imaginar hoje. Eu tinha 34 anos, e o livro esgotou rapidamente. Todas as livrarias tinham o livro. Foi uma tiragem de 2 mil exemplares, e a editora não quis reeditar, mas era um tema ainda novo.
Como foi a relação com Caio Navarro de Toledo, que é um nome muito forte nas Ciências Sociais brasileiras?
O tema de pesquisa de Caio era mais o período final do “populismo”, e ele era muito crítico com o nacionalismo da esquerda, basicamente, considerando uma ideologia dentro da esquerda, aquele nacionalismo do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). Depois ele escreveu um livro sobre o governo João Goulart.9 9 TOLEDO, Caio Navarro de. O governo Goulart e o golpe de 1964. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982. Não havia nenhum debate como vemos agora Jorge Ferreira recuperando a história do trabalhismo, trabalhos como o de Lira Neto sobre Getúlio Vargas, de Angela de Castro Gomes, que foi a pioneira no campo. Naquela época, você fazia o trabalho de pesquisa praticamente sozinho. Já no Mestrado, os alunos tinham autonomia intelectual. Eram alunos que liam muito, que tinham independência, que rapidamente pegavam o esquema de citações e de como se fazia um trabalho acadêmico. Assim, tínhamos conversas importantes com os orientadores, mas não era uma orientação. Havia uma relação de amizade muito forte, porque os alunos também já eram mais maduros, mas ao mesmo tempo você incomodava muito pouco seu orientador.
Como foi a mudança de tema e de orientador, do Mestrado para o Doutorado?
Comecei o Doutorado em Ciências Sociais na Unicamp, em agosto de 1987, quando o livro sobre o Mestrado foi publicado. Conversando com Décio, que seria meu orientador natural, eu propus dois temas: um era estudar as tensões internas das Forças Armadas, outra era estudar o Poder Judiciário e sua relação com a ditadura. Ele falou que eu iria fazer um bom trabalho estudando qualquer um dos dois temas e que, portanto, eu deveria escolher. Escolhi as tensões militares. O Mestrado havia sido em Ciência Política, mas o Doutorado era na área de Ciências Humanas, e nós sentávamos ao lado de colegas da Antropologia, da Sociologia e da Ciência Política. Então, nós saíamos do Doutorado de Ciências Humanas com um bom repertório teórico. Novamente, foi uma fase de muita leitura. Comecei como professor universitário na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em 1988. Meu sonho era poder fazer pesquisa fora do País, e consegui uma bolsa da Fullbright/CNPq, para estudar nos Estados Unidos. Fui com a minha família. Tânia, minha esposa, foi com bolsa também do CNPq. Nós ficamos14 meses e foi um período muito bom, porque nos entrosamos muito com o grupo da revista Latin american perspectives. Meu supervisor foi Ronald Chilcote, que tinha um livro sobre o PCB. Conheci e fiquei amigo de James Green, que ainda era estudante de Mestrado naquela época. Tinha também Timothy Harding, ou seja, um grupo muito bom que nos acolheu muito bem. A Universidade de California, Riverside, tinha uma biblioteca muito boa, com cerca de 30 mil livros sobre o Brasil, onde fiz boa parte de minha pesquisa para a reconstrução do período abordado na tese, de 1964 a 1969. Embora eu tivesse passado pela experiência estruturalista, havia muito peso da História na minha formação, então eu privilegiava muito a dinâmica política. Com o desenrolar da pesquisa, construí a hipótese de que o campo militar do pós-golpe não se resumia ao conflito entre “duros” que se opunham à moderação dos “liberais”, que era o grupo de Castelo Branco. Fui percebendo que a dinâmica era muito mais complexa do que isso.
Hoje, já encontramos muitos trabalhos que aprofundaram a análise sobre as disputas políticas no âmbito da “caserna” e como elas se refletiam no “palácio”, durante a ditadura. Seu trabalho é um dos primeiros que analisa, academicamente, a relação entre essas duas categorias, “duros” e “moderados” (ou o “grupo da Sorbonne”). Foi difícil pesquisar sobre essas dinâmicas, na época? Havia fonte suficiente?
Ao contrário do trabalho sobre o movimento estudantil, em que eu dialoguei com meia dúzia de líderes estudantis, durante o Doutorado eu não tinha com quem dialogar. Para o Mestrado, conversei com José Dirceu, José Genoíno, David Capistrano Filho, que já faleceu, Jorge Baptista, que era do grupo da Dilma Rousseff e morreu num acidente de automóvel, Bernardino Figueiredo, que, se não me engano, era da Ala Vermelha e cursava Geologia na USP. Fui à casa dessas pessoas entrevistá-las. Para o Doutorado, eu não tinha a menor noção de como conversar com militares naquela época, nem, tampouco, vontade. Basicamente, reconstruí esse período a partir da imprensa e dos trabalhos que já existiam, fossem eles trabalhos jornalísticos, crônicas políticas ou relatos memorialísticos. Como o governo Castelo Branco teve muitos intelectuais, todos escreveram memórias: Luís Vianna Filho, Mem de Sá, Afonso Arinos. Todo esse grupo de pessoas deixou memórias, publicadas no fim dos anos 1970, e eu trabalhei com essas narrativas. Não tinha nenhum preconceito em trabalhar com essas fontes. E outra fonte importante para mim foi o livro muito mal escrito, mas enorme, do Jayme Portella de Mello,10 10 MELLO, Jayme Portella de. A revolução e o governo Costa e Silva. Rio de Janeiro: Ed. Guavira, 1979. que era o chefe do gabinete militar de Costa e Silva e tinha uma visão de como havia sido o golpe militar nos quartéis. O grupo de Costa e Silva era mais militar mesmo, no sentido de que tinha menos contato com a elite política e intelectual do País. Então, Jayme Portella registrou quais eram os bastidores. Havia temas esperando para serem enfrentados. Por exemplo, um assunto que ficou oculto por muito tempo foi a influência da doutrina francesa da Guerra Revolucionária, maior até do que da Doutrina de Segurança Nacional, que deveria ser chamada de Ideologia da Segurança Nacional. A informação estava lá nos periódicos militares, mas por que não a enxergávamos? Porque havia a crença de que os Estados Unidos eram os responsáveis pelo golpe, então, por que procurar outras influências?
Quando você começou a discutir as cisões internas nas Forças Armadas e como elas refletiram nos governos dos presidentes militares, acabou entrando em uma discussão que aparecia muito nos jornais, mas não tinha sido analisada à luz das Ciências Sociais. Como você acha que seu trabalho foi recebido pela academia brasileira?
O trabalho teve muito menor repercussão do que meu livro sobre o movimento estudantil, que esgotou em dois anos. Foi publicado por uma editora média aqui de Campinas, mas teve uma ampla divulgação e foi muito bem distribuído, mas naquela época saíam poucos livros por ano, comparado a hoje. Meu segundo livro11 11 MARTINS FILHO, João Roberto. O palácio e a caserna: a dinâmica militar das crises políticas na ditadura. 1. ed. São Carlos, SP: Edufscar, 1995. foi publicado em duas tiragens de trezentos exemplares e ficou anos assim. Praticamente, quem leu e divulgou foi um grupo de pessoas que trabalhava com uma perspectiva parecida, principalmente o grupo da Revista de Sociologia e Política do Paraná. Quando o golpe de 1964 completou 40 anos, em 2004, portanto, nove anos depois da publicação do livro, dei uma palestra na UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, e brinquei, dizendo que tinha uma obra completamente clandestina, que ninguém havia lido. Então, durante mais ou menos nove anos, não houve nenhuma recepção a ele. Depois mudou. Houve um momento em que essa revisão que eu fazia encontrou respaldo, principalmente, de pessoas estrangeiras ou que estavam estudando fora, como Maud Chirio e Rodrigo Nabuco de Araújo, até chegar um momento em que eu comecei, mais recentemente, a ver até nas histórias escritas por jornalistas. Mas foi um livro que demorou muito para ter aceitação. Veja, ele foi publicado em 1995 e passou a ter uma aceitação maior, 10, 15 anos depois.
Curioso, porque, hoje sua obra é considerada muito importante para entender o processo de consolidação do regime militar. É interessante você falar sobre esse período em que a obra não teve tanta ressonância, até para pensarmos sobre as leituras acerca do período ditatorial.
Posso garantir que até 2006, 2007, não havia quase repercussão, depois teve, graças ao trabalho de alguns professores que gostaram do livro; alguns ficaram meus amigos, outros eu não cheguei a conhecer. Era dificílimo conseguir o livro, não tinha essa facilidade de hoje. Houve uma divulgação do livro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), graças a Paulo Vizentini, que tinha uma série de orientandos que estudava a política externa de todos os governos militares e todos eles usaram meu livro. Teve, também, uma divulgação no âmbito da UFRJ, com Renato Lemos. Havia o grupo de Curitiba, com Adriano Codato, principalmente. Havia Marcos Del Roio, na UNESP de Marília. Foram essas pessoas que adotaram o livro em sala de aula e não deixaram o livro morrer, por incrível que pareça. Com isso, de repente, o livro chegou à sua geração e hoje é o meu segundo trabalho mais citado. O primeiro ainda é o do movimento estudantil.
João, você mencionou que, na passagem do Mestrado para o Doutorado, não sabia se estudaria o Poder Judiciário durante a ditadura ou as tensões militares no âmbito das Forças Armadas, optando pelo segundo tema. O que especificamente você gostaria de estudar sobre o Poder Judiciário? Trabalharia com quais fontes?
Bom, meu pai era juiz; na época, já era desembargador. Eu sempre acreditei que, independente do grupo social que se escolheu pesquisar, você tem de procurar as nuances intrínsecas a esse grupamento. O trabalho é bom na medida em que ele tem uma tese clara, mas que não simplifique as coisas. Então, achava na época que tinha havido, vamos dizer assim, uns bolsões de resistência à ditadura no âmbito do Poder Judiciário. Depois, em qualquer outro trabalho que desenvolvi procurei dar muita importância para essas evidências, de que havia uma análise fina a ser realizada e que não fosse uma análise já com parti pris, sem enxergar as nuances. Com relação às fontes, eu usaria pouco as entrevistas, acho que me basearia nas notícias de jornal e nas memórias. Mas não foi isso que fiz. Lembro que tinha um trabalho, um dos primeiros trabalhos, de uma coleção de livros pequenininhos.
É de Miranda Rosa,12 12 ROSA, Fellipe Augusto de Miranda. Justiça e autoritarismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. uma referência importante para quem estuda a atuação do Poder Judiciário durante a ditadura militar. Você optou, no Doutorado, por estudar as Forças Armadas por dentro, e esse tema acabou, de certa forma, sendo central nos seus estudos e na sua trajetória como cientista político. Você encontrou alguma resistência por parte dos militares?
Bem, até o fim da minha tese de Doutorado, não havia feito contato com nenhum militar. Depois, começaram a acontecer esses encontros de estudos estratégicos, e, a partir de então, os militares passaram a frequentar as salas de aula das universidades. Nesse momento, já estudava as posições das Forças Armadas brasileiras depois do fim da Guerra Fria.13 13 Refere-se ao projeto “Forças Armadas e política no Brasil do pós-Guerra Fria: um novo código operacional?”, desenvolvido entre 2005 e 2008, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Eu comecei a frequentar os grupos de estudos estratégicos da Unicamp e a conhecer aquilo que pessoas como Eliezer Rizzo de Oliveira, Dreifuss, Eurico de Lima Figueiredo, Manoel Domingos Neto já conheciam e, inclusive, já mantinham contato com militares havia bastante tempo. Conheci o almirante Flores e o almirante Vidigal nesses encontros, quando eu tinha acabado de publicar o meu livro. Depois disso, por meio do grupo da Unicamp, continuei a conhecer e a conversar com essas pessoas, mas a grande mudança foi quando se fundou a Associação Brasileira de Estudos de Defesa (ABED), em 2006, que nos deu projeção e status muito grandes junto às Forças Armadas. A partir de então, passou a ser muito fácil para mim entrevistar quem eu quisesse. Na pesquisa sobre a Marinha e sobre o submarino nuclear,14 14 Refere-se aos projetos “Forças Armadas, tecnologia e sociedade: a Marinha brasileira (1904-2004)”, desenvolvido entre 2006 e 2008, e “De fragatas e submarinos: os dilemas da modernização da Marinha brasileira (1970-2010)”, desenvolvido entre 2011 e 2013, ambos com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). entrevistei todos os almirantes mais importantes, e já havia cultivado outros contatos. A partir de então, passamos a viver outra época. A época da desconfiança completa, que coincidiu com o momento em que terminei meu trabalho; em 1995 havia terminado. Depois, foi a época dos encontros, em que surgiu uma corrente de estudos militares que era muito próxima do problema concreto: Eliezer, Eurico, Maria Celina D’Araújo, Ernesto López e Luiz Tibiletti, na Argentina. O grupo que hoje é sênior, era um pouco baixo clero, meus amigos eram Héctor Saint-Pierre, Samuel Alves Soares e Suzeley Kalil Mathias. Em seguida, temos a terceira fase, quando as Forças Armadas passaram a ter interesse no contato com os especialistas da área de defesa. Essa já é a fase de uma área consolidada na universidade e são os acadêmicos que têm a hegemonia. Os militares são muito ativos, mas com hegemonia civil. Tem a ver com a criação do Ministério da Defesa, em 1999. Então, a geração mais antiga, principalmente Eurico de Lima Figueiredo, atuou conosco, formando duas gerações de pesquisa que passaram a atuar juntas na ABED.
Gostaria que você falasse sobre suas pesquisas acerca da Marinha.
Estudei a Marinha brasileira no período da grande relação desta força com a Marinha inglesa, quando foi feita a compra dos encouraçados. Foi o período em que estive como pesquisador visitante no Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Oxford, entre outubro de 2006 e março de 2007. Eu voltei a ser um historiador em certo sentido, passei a estudar o começo do século XX. Dediquei-me somente a esse tema e ao período durante um bom tempo, por cinco, seis anos. Depois, percebi que gostaria de voltar a estudar o regime militar. Em 2013, quando terminei a pesquisa sobre a Marinha nos anos 1950, surgiu a ideia de pesquisar a relação do Brasil com a Inglaterra. A iniciativa só deu certo porque surgiu a chance da cátedra Rio Branco, no King´s College, em Londres, patrocinada pela Capes e pelo Itamaraty, no primeiro semestre de 2014.
Em geral, as pesquisas, no Brasil, sobre militares concentram-se na atuação do Exército. Você teve de mudar sua estratégia de pesquisa para estudar a Marinha?
Devo ter ficado dez anos estudando a Marinha, e, claro, meu trabalho mudou completamente, porque precisei me defrontar com a questão da tecnologia, da história e da teoria estratégica naval. Inclusive, lá na UFSCar eu tinha muita liberdade. Eu dava um curso de guerra e política, no qual eu ensinava os principais teóricos da Estratégia. Tive de conhecer bem esses três aspectos dos estudos da Marinha, que sempre são minoritários no âmbito dos estudos militares, mas é muito difícil porque você tem de aprender o nome dos navios, a questão da propulsão, a da tonelagem e a da estratégia naval, da história das batalhas, dediquei-me a tudo isso.
E quando você estuda a Marinha, trabalhos clássicos sobre militares, como os de Edmundo Campos Coelho e José Murilo de Carvalho, por exemplo, auxiliaram na sua compreensão do objeto ou foi necessário buscar outras referências bibliografias, mais específicas, para pensar a atuação da força naval?
Eu li essas obras para fazer a tese do Doutorado. No Brasil, havia alguma coisa escrita por Domício Proença, principalmente escrita por Salvador Razza, que tinha sido oficial da Marinha e chegou até a comandar as fragatas, mas ele saiu muito cedo, com 45 anos. Se você não passa para oficial-general, sai da força, então ele acabou indo para o meio acadêmico. Para conhecer a área de engenharia, no Mestrado Estratégico, a obra de Domício era importante, juntamente com a de Eugênio Diniz. Basicamente, segui um pouco esses estudiosos, que já tinham aberto esse caminho. A Escola Anglo-saxônica é uma referência para estudos nessa área, para todo o grupo de estudiosos estratégicos que tinha surgido no começo dos anos 1960, na Inglaterra e nos Estados Unidos.
Como mencionado, depois dos estudos sobre a Marinha, você começou a ter novamente interesse por estudar o regime militar brasileiro, em uma conexão com a política externa, mais especificamente nas relações do Brasil com a Inglaterra. Como foi o início dessa pesquisa? Você se deparou com algum arquivo específico?
Sim, nos National Archives, em Kew. Fui lá dez vezes para fazer uma pesquisa sobre o período de 1895 a 1910. Depois, estava estudando a política naval nas décadas de 1950, 1960 e 1970, comecei a pesquisar os relatórios dos embaixadores e a ver que, durante os anos 1970, eles tentavam diminuir a importância da tortura no Brasil, dado o interesse que eles tinham, naquela época, em manter uma boa relação comercial com o Brasil. Pensei que estava aí um bom tema. Até porque os temas que estudei nunca me abandonaram e me sentia muito mais à vontade no meio dos professores universitários, do que no meio dos oficiais militares. Não tinha muita vocação, tive de conversar com ministros na época da ABED, mas não era a minha seara. Estava muito mais à vontade no Congresso da Associação Nacional de História (ANPUH), por exemplo. Senti vontade de não precisar fazer os contatos formais, voltar à minha origem. Bem, estava com essa perspectiva, quando apareceu uma chance de conseguir a cátedra Rio Branco, isso já em 2013. Havia estado na Inglaterra por 45 dias, entre janeiro e fevereiro, para terminar a pesquisa da Fapesp sobre a Marinha brasileira, em suas três fases: a fase dos encouraçados, a das fragatas e a do submarino nuclear. Então, como já estava terminando a pesquisa sobre o submarino nuclear - o primeiro artigo foi publicado em 2010 -, resolvi apresentar-me ao King’s College. Por ser uma cátedra em Relações Internacionais, a relação da ditadura militar brasileira com as democracias europeias, no caso a Inglaterra, tinha a ver. Essa pesquisa se transformou no estudo que recebeu o nome de Segredos do Estado: o governo britânico e a tortura no Brasil entre 1969-1976, e isso aconteceu por acaso.
Seu mais recente livro publicado.15 15 MARTINS FILHO, João Roberto. Segredos de Estado: o governo britânico e a tortura no Brasil (1969-1976). Curitiba: Ed. Prismas, 2017.
Sim. Quando cheguei à Inglaterra, ainda nos primeiros dias, a BBC estava fazendo uma matéria sobre o uso das técnicas de tortura inglesas no Rio de Janeiro. Então, eles me convidaram para conversar, para testar se estavam no caminho certo e me mostraram um documento do governo de Ernesto Geisel (1974-1979), em que um general falava para um diplomata: “nós estamos usando o método inglês, nós estamos nos guiando pelo manual inglês’”. Eu disse de início que parecia estranho, porque o governo Geisel estava preocupado em desestruturar esses grupos e não em ativá-los ou criar alguma coisa paralela. Mas de qualquer modo, disse que iria pesquisar documento por documento e voltaria para conversar com eles. De repente, encontrei um despacho, o único documento encontrado até hoje, uma folhinha, uma carta anexada a um relatório. Todos esses relatórios anuais de embaixadores tinham sido pesquisados pelo jornalista Geraldo Cantarino, que publicara dois livros sobre a relação da Inglaterra com o Brasil,16 16 CANTARINO, Geraldo. 1964: a Revolução para inglês ver. Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 1999; e A ditadura que o inglês viu, Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 2014. um deles na mesma época em que eu estava começando minha pesquisa, mas ele não tinha visto essa carta anexada a um relatório sobre a tortura no Brasil. Ele havia lido o relatório e não a carta. E na carta, o embaixador diz: “Como vocês sabem aí em Londres, quando os brasileiros nos procuraram, nós demos assessoria, mas não fazemos mais isso desde o início do ano passado.” A carta é de agosto de 1972. Com isso, eu mandei cópia do documento para a BBC, que o publicou na matéria e mostrou na televisão.
Seu livro é importante para pensar a questão da tortura e o conhecimento dos militares sobre a prática durante a ditadura brasileira. Como você avalia a contribuição da sua obra?
Uma das minhas linhas de pesquisa havia sido as influências dos influxos externos na política brasileira. Eu pesquisei as relações entre Brasil e Estados Unidos em 1997, fui para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde fiquei por três meses com bolsa da Fapesp. Depois, pesquisei, aqui no Brasil, a influência da doutrina francesa nas Forças Armadas brasileiras e, mais recentemente, a questão da influência inglesa. Só que, originalmente, o tema não era esse, meu objetivo era estudar questões de política internacional: como o governo inglês conciliava seus interesses comerciais no Brasil com a pressão da opinião pública inglesa, principalmente da Anistia Internacional, contra a tortura e o genocídio de índios no Brasil. Esse foi o meu projeto, mas lógico que passava pela questão da tortura e pela atuação da Anistia Internacional, que lutava contra a violação dos direitos humanos no Brasil. Basicamente, desenvolvi um trabalho que falava muito da Anistia Internacional, mas ao mesmo tempo lançava essa questão de como se usou o que se chamava de técnicas irlandesas aqui no Brasil, mostrando, inclusive, que no Brasil essas técnicas foram aplicadas antes mesmo de serem usadas na Irlanda.
Em 2010, você publicou o artigo Tensões militares no governo Lula, de 2003 a 2009: a pré-história do acordo com a França.17 17 Publicado na Revista brasileira de Ciência Política, v. 4, p. 283-306, 2010. Você se propôs a analisar a atuação política das Forças Armadas a partir de quatro situações específicas: a queda do ministro da Defesa, José Viegas, a ascensão de Nelson Jobim ao cargo, a entrega de três jovens moradores do Morro da Providência, no Rio de Janeiro, a traficantes, por integrantes das Forças Armadas que estavam em ação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), e, por fim, a crise em torno do reconhecimento da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. Você ressalta que, naquele momento, vivíamos um período de relações civis militares consolidadas, além de outras questões importantes do primeiro governo Lula, no que diz respeito à atuação das Forças Armadas: a Missão de Paz no Haiti, a cooperação militar com a França, a iniciativa de criação do Conselho Sul-americano de Defesa, entre outras. Como você avalia, de 2015 para cá, a questão das relações civis militares no Brasil e como isso afeta a democracia brasileira?
Penso que desde o começo dos anos 1990, desde o fim do governo José Sarney (1985-1990), portanto o governo Fernando Collor/Itamar Franco (1990-1994), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), estava havendo um progresso lento para o controle civil e democrático das Forças Armadas, que se adaptaram inclusive a isto, mas era tudo muito lento se você comparar com o que acontecia na Argentina. Mas, ao contrário do que dizia Jorge Zaverucha, acho que esse processo não estava parado, acho que havia uma lenta movimentação no sentido de democratização. Isso é um ponto. Outro ponto é que tanto Fernando Henrique quanto Lula e, depois, Dilma Rousseff (2011-2016), tiveram sempre muito escrúpulo de comandar as Forças Armadas e ter uma política de defesa. As Forças Armadas, quando terminou o governo Fernando Henrique, estavam muito insatisfeitas com a política do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que era uma política de contenção de gastos e sem ênfase em questões de defesa nacional. Lula assumiu, inclusive com o conhecimento que José Genoíno - um dos quadros centrais do Governo - tinha do assunto, apresentando uma perspectiva de mudar a área, definindo uma política mais sul-americana e, ao mesmo tempo, uma política mais autônoma, com Forças Armadas mais modernas. No começo do governo, Lula nomeou um bom ministro da Defesa, José Viegas, mas o deixou completamente sem diretriz, e com o escândalo do “mensalão”, o Governo se deslocou completamente para o mandato, e as políticas de defesa ficaram sem atenção. Não fosse o acidente aéreo que provocou a nomeação do ministro Nelson Jobim, com carta branca, não haveria uma política de defesa até então, que pudesse ser chamada por esse nome. Havia uma lenta evolução da questão depois da criação do Ministério da Defesa, mas tinha sido criado ainda no governo Fernando Henrique. A condução do ministro Jobim foi algo próximo de um comando civil dos militares, e, em seu segundo governo, Lula retomou o projeto do submarino nuclear, um tema importantíssimo que sobreviveu, inclusive, à crise atual. Nós estávamos nessa situação quando estourou a crise política: a campanha de 2013 e o governo de 2014. O governo Dilma já começou mal, com um ministério muito ruim, com uma tentativa de fazer uma política conservadora, que também não funcionou, e, depois disso, abriu-se a crise do impeachment. O mundo civil estava totalmente destruído - e isso, inclusive, era uma das metas dessa nova judicialização da política, ou seja, deslegitimar o sistema político para poder punir os corruptos. Então, quando os políticos são transformados metódica e estrategicamente em bandidos, como eles vão poder comandar as Forças Armadas? Não há legitimidade. As Forças Armadas tomaram uma atitude de não ingerência, o que foi muito bom, mesmo porque as elites brasileiras não queriam que elas interferissem, mas queriam tê-las ali como uma espécie de aliado estratégico, se fosse necessário, como reserva. Mas acho que as Forças Armadas e seus oficiais embarcaram na onda reacionária que tomou conta do Brasil, e eles estavam muito preocupados com a mobilização social, que, no fim, acabou não acontecendo em larga escala. O Governo não provocou uma rebelião social, mas os militares com certeza estavam muito preocupados com isto. E daí para a frente acho que os militares encararam as ações do governo de Michel Temer como algo bom. No entanto, com tudo que aconteceu depois disso, eles devem estar começando a rever o preço que tiveram de pagar para derrubar o governo Dilma - que eles não interferiram ou participaram diretamente, mas viram até com simpatia, como o resto da classe média - em termos, por exemplo, de ver a revogação da Reserva Nacional de Cobre e Associados (RENCA), na Amazônia, que foi criada no último governo militar. Depois, a questão da negociação entre a Embraer e a Boeing. Todas essas medidas, claramente antinacionais, devem estar gerando certa revisão dos militares quanto ao apoio ao governo Temer. Ao mesmo tempo, acho que houve um avanço das forças conservadoras dentro das Forças Armadas. O comandante do Exército, por exemplo, que é um moderado, sofreu uma grande pressão desses grupos mais ativistas. Então, acho que foi um estrago tremendo nas relações civis militares, em uma democracia destroçada.
Você mencionou que sempre buscou ter uma visão das nuances dos grupos sociais que compõem uma instituição e, no seu caso de pesquisa, das Forças Armadas. Você acha que há novas nuances no âmbito do Exército, especificamente, que há novos grupos gerando uma cizânia ou não é algo tão radical como no período ditatorial?
Veja, eu não tenho informação em primeira mão, mas há profissionais que ficam pensando, a longo prazo, o que vai ser das Forças Armadas e querem manter o programa de modernização da Aeronáutica e da Marinha, mas não querem envolver o Exército no crime organizado, porque isso não vai dar certo. Mas acho que houve um avanço de grupos neoliberais que pensam que é hora de começar a abandonar a ideia de desconfiança face aos Estados Unidos. O Brasil deve fazer aliança com os Estados Unidos quando for necessário. Diante do clima político que o Brasil está vivendo, seria impossível que isso não tivesse impacto nas Forças Armadas. Mas isso são suposições, não tenho informações em primeira mão sobre o assunto.
Algumas ações mencionadas por você acabam nos levando a conversar sobre o dispositivo da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que é, de certa forma, polêmico, porque está sendo acionado muitas vezes para falar em intervenções militares. Esse é um dispositivo que começou com o governo Fernando Henrique Cardoso, com a edição de algumas leis complementares, e que depois foram se modificando nos governos dos presidentes Lula e Dilma. Como você vê, para a qualidade da democracia, pensando inclusive no plano constitucional, a existência desse dispositivo e das possíveis ações da GLO no Brasil?
Não há dúvida nenhuma, houve um excesso, principalmente por causa dos eventos esportivos mundiais, em que o Governo teve de colocar as Forças Armadas para impedir o fracasso e a vergonha do Brasil internacionalmente, e a aprovação da lei antiterrorismo, tudo isso foi feito pela Dilma, e houve um recuo nesse ponto. Acho que, de certa maneira, os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) evitaram, evidentemente, jogar tropas militares contra movimentos sociais e acredito que haja uma diferença em relação ao governo Fernando Henrique. Acho que o Exército sempre se deixou seduzir pela ideia da popularidade desse tipo de ação da GLO, mas acho que agora o Exército está cada vez mais preocupado em colaborar nesse aspecto com um Governo tão absolutamente ilegítimo quanto o de Temer, e queimar a instituição. Apesar de o entusiasta dessas ações ser o atual ministro da Defesa, Raul Jungmann, ele mesmo disse, recentemente, que não se deve usar as Forças Armadas em ações de segurança pública. Mas, ao mesmo tempo, prorrogou a intervenção dos militares no Rio de Janeiro até o fim de 2018.
João, muito obrigada por sua entrevista.
O prazer foi meu.
- MARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e militarização do Estado no Brasil, 1964-1968. Dissertação de Mestrado em Ciência Política, Unicamp, Campinas, 1986
-
2
MARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e militarização do Estado no Brasil, 1964-1968. Dissertação de Mestrado em Ciência Política, Unicamp, Campinas, 1986.
-
3
FORACCHI, M. M. O estudante na transformação da sociedade brasileira. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1965.
-
4
FORACCHI, M. M. A juventude e a sociedade moderna. São Paulo: Pioneira, 1972.
-
5
SANFELICE, J. L. Movimento Estudantil: a UNE na resistência ao Golpe de 64. Tese de Doutorado em Educação, PUC, São Paulo, 1985.
-
6
RIDENTI, Marcelo. O fantasma da revolução brasileira: raízes sociais das esquerdas armadas, 1964-1974. Tese de Doutorado em Sociologia, USP, São Paulo, 1989. A primeira edição do livro foi publicada em 1993 pela editora UNESP/FAPESP, São Paulo.
-
7
GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. 1. ed., São Paulo: Editora Ática, 1987.
-
8
MARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e ditadura militar, 1964-68. 1. ed. Campinas: Papirus, 1987.
-
9
TOLEDO, Caio Navarro de. O governo Goulart e o golpe de 1964. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1982.
-
10
MELLO, Jayme Portella de. A revolução e o governo Costa e Silva. Rio de Janeiro: Ed. Guavira, 1979.
-
11
MARTINS FILHO, João Roberto. O palácio e a caserna: a dinâmica militar das crises políticas na ditadura. 1. ed. São Carlos, SP: Edufscar, 1995.
-
12
ROSA, Fellipe Augusto de Miranda. Justiça e autoritarismo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
-
13
Refere-se ao projeto “Forças Armadas e política no Brasil do pós-Guerra Fria: um novo código operacional?”, desenvolvido entre 2005 e 2008, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
-
14
Refere-se aos projetos “Forças Armadas, tecnologia e sociedade: a Marinha brasileira (1904-2004)”, desenvolvido entre 2006 e 2008, e “De fragatas e submarinos: os dilemas da modernização da Marinha brasileira (1970-2010)”, desenvolvido entre 2011 e 2013, ambos com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).
-
15
MARTINS FILHO, João Roberto. Segredos de Estado: o governo britânico e a tortura no Brasil (1969-1976). Curitiba: Ed. Prismas, 2017.
-
16
CANTARINO, Geraldo. 1964: a Revolução para inglês ver. Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 1999; e A ditadura que o inglês viu, Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 2014.
-
17
Publicado na Revista brasileira de Ciência Política, v. 4, p. 283-306, 2010.
-
19
Entrevista concedida Via Skype, em 4 de janeiro de 2018.
-
1
Angela Moreira Domingues da SilvaMARTINS FILHO, João Roberto. Movimento estudantil e militarização do Estado no Brasil, 1964-1968. Dissertação de Mestrado em Ciência Política, Unicamp, Campinas, 1986 é professora adjunta da Escola de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais da Fundação Getulio Vargas (angela.moreira@fgv.br).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jan-Apr 2018