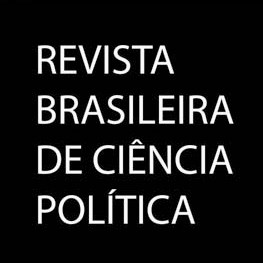Resumo
O artigo discute os impactos do processo revolucionário de 1918-1919 na Alemanha na análise de Max Weber sobre o socialismo. Demonstra-se como sua interlocução com as teorias econômicas de Otto Neurath e sua análise crítica da atuação dos intelectuais e das lideranças políticas deste movimento refletem-se nos seus escritos de sociologia econômica (em particular no segundo capítulo de Economia e sociedade - Categorias sociológicas fundamentais do agir econômico) e de sociologia política (em particular em Política como Profissão). Suas reflexões econômico-políticas sobre o socialismo são contextualizadas e articuladas com sua teoria da racionalização. O socialismo é interpretado sociologicamente partir das categorias da burocratização e do carisma, bem como a partir da antinomia entre racionalidade formal e material.
Palavras-chave:
Max Weber; Socialismo; Revolução; Conselhos; Revolução de Novembro
Abstract
The article analyzes the influences of the revolutionary process of 1918-1919 in Germany on Max Weber’s analysis of socialism. From his interlocution with the economic theories of Otto Neurath and from his critical analysis of the work of the intellectuals and political leaders of this movement, the reflections of this event are demonstrated in his writings of economic sociology (in particular in the second chapter of Economy and Society - Sociological Categories of Economic Action) and political sociology (particularly in Politics as Profession). His economic-political reflections on socialism are contextualized and articulated with his theory of rationalization, aiming to interpret this movement sociologically from the categories of bureaucratization and charisma, as well as from the antinomy between formal and material rationality.
Keywords:
Max Weber; Socialism; Revolution; Councils; November Revolution
Evento histórico de enorme importância, a revolução socialista de 1918-1919 [conhecida em alemão como Novemberrevolution - Revolução de Novembro], ocorrida na Alemanha (e que em 2018 completou seus 100 anos), marca o nascimento da moderna democracia de massas nesse país. É o que defende o experiente Wolfgang Niess (2017)NIESS, Wolfgang. (2017) Die Revolution von 1918/19: Der wahre Beginn unserer Demokratie. München: Europa-Verlag., historiador que se deu ao trabalho de examinar as diferentes imagens desse evento ao longo da trajetória histórica alemã. No contexto de crise de legitimidade do Segundo Império (Wehler, 2003WEHLER, Hans-Ulrich. (2003) Deutsche Gesellschaftsgeschicht. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914 - 1949. München: Beck. ), a revolução bávara, por sua vez, possui um papel especial. Primeiro, porque foi em Munique, precisamente em 07 de Novembro, dois dias antes do mesmo acontecimento protagonizado por Philipp Scheidemann em Berlim (Proclamação da República em 09 de Novembro de 1918), e apenas cinco dias depois do início da revolta dos marinheiros de Kiel (entre 29 e 30 de Outubro), que Kurt Eisner proclamou a República Democrática da Baviera. Depois de sua morte (acontecida em 21 de fevereiro de 1918), precisamente em 07 de Abril de 1918, era proclamada a República dos Operários e Soldados de Munique [ou República dos Conselhos de Munique - münchener Rätererrepublik]. Aliás, sob este ponto de vista, não seria equivocado concluir que foi o Conselho Operários e Soldados de Munique o verdadeiro ponto de partida da futura República de Weimar, ainda que ela só se consolide realmente na Assembléia Constituinte (de 06 de fevereiro de 1919 até 03 de julho de 1919), mas agora já sob a liderança do social-democrata Friedrich Ebert. Junto a este, existe ainda um segundo motivo que torna a República dos Conselhos da Baviera um evento singular. Ela foi, para usar uma expressão de Ralf Höller (2017HÖLLER, Ralf. (2017) Das Wintermärchen: Schriftsteller erzählen die bayerische Revolution und die Münchner Räterepublik 1918/1919. Berlin: Edition TIAMAT. ), a revolução dos literatos. Nela foram testadas e discutidas, com suas esperanças e contradições, algumas das utopias mais profundas do início do século XX (Weidermann, 2017WEIDERMANN Volker. (2017) Träumer: Als die Dichter die Macht übernahmen. Köln: Kiepenheuer & Witsch. ).
Mas nem todos deixaram-se levar pelo entusiasmo utópico daquele “carnaval adornado com o nome de revolução”2 2 Expressão que ele também emprega frequentemente em sua correspondência (disponível em MWG II/10-2), como em 13 de Dezembro de 1918 (p.356), 15 de janeiro de 1919 (p.394) e 10 de Abril de 1919 ( p.570). (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.227), como se expressou a respeito um de seus principais analistas e críticos: o sociólogo alemão Max Weber. Compreender a análise que Max Weber realizou da revolução de novembro não só nos proporciona a chance de entender a reação da intelectualidade burguesa frente àqueles acontecimentos, como também nos permite, para além dessa importante tarefa histórica, a oportunidade de nos colocarmos questões de caráter teórico-sociológico.
Parto do pressuposto de que a revolução de 1918-1919 na Alemanha, e muito particularmente a experiência bávara, é determinante para entender a concepção de Weber sobre o socialismo. Não se pode, é claro, negar a importância das pesquisas weberianas sobre a revolução bolchevique (já bem analisada por Tragtemberg, (1992)TRAGTEMBERG, Maurício. (1992) Burocracia e ideologia. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1992.), mas entendo que o que está em jogo nos escritos sobre a Rússia (Mata, 2006MATA, Sérgio da. (2006). “Max Weber e o destino do “despotismo oriental””. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 21, 61, p. 203-207. ) é, em primeiro lugar, a possibilidade de uma revolução liberal e apenas subsidiariamente uma avaliação da natureza e das possibilidades do socialismo. Portanto, ainda que sem negar os óbvios aportes daqueles escritos, minha ênfase neste artigo recairá no que o processo revolucionário alemão (1918-1919), em específico, acrescenta à reflexão de Weber sobre este assunto. Com base nesta escolha metodológica, o foco da análise será o segundo e terceiro capítulos de Economia e sociedade e a conferência Política como profissão, escritos em que as marcas da revolução socialista na Alemanha são profundamente evidentes, como pretendo demonstrar ao longo deste artigo. Textos escritos por Weber antes do processo revolucionário de 1918-1919 na Alemanha também serão mobilizados, mas de modo auxiliar, justamente para acentuar o que de particular vai se depositar nos escritos que refletem os eventos revolucionários já mencionados.
Além dessa, há uma segunda escolha metodológica que orienta a presente investigação. Entendo que, para conectar as reflexões de Weber sobre o processo revolucionário alemão com sua teoria sociológica mais ampla, é necessário ir além da mera análise político-conjuntural. Neste ponto, Wolfgang Mommsen (1974)MOMMSEN, Wolfgang. (1974) Max Weber und die deutsche Politik 1890 - 1920. 2a. ed. Tübingen: Mohr, Siebeck. é, ainda hoje, a referência central. Em seu notório trabalho, este historiador (Mommsen, 1994MOMMSEN, Wolfgang J. (1994) Max Weber und die deutsche Revolution 1918/19. Heidelberg: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte., p.10-11) resumiu muito bem a forma como Weber, de modo pessoal, e principalmente em termos políticos, foi reagindo à radicalização política em curso. Segundo ele é possível identificar claramente três momentos nesta trajetória. No primeiro, Weber reagiu de forma emocional e bastante enérgica contra os efeitos internacionais supostamente negativos da explosão revolucionária. Em um segundo momento, ele procurou construir pontes de diálogo com as tendências social-democratas. Já na terceira fase, tendo em vista a radicalização dos grupos de esquerda (fundação do USPD - Partido Social Democrata Independente da Alemanha e do KPD - Partido Comunista da Alemanha) e sua inserção no recente fundado DDP [Partido Democrático da Alemanha], as críticas voltam a aparecer. Wolfgang Mommsen também coletou uma carta de Max Weber a Ludo Moritz Hartmann que condensa, com rara limpidez, o modo como ele questionava a legitimidade e os resultados políticos da experiência dos Conselhos de Munique. Dado o seu valor documental, vamos nos permitir um pequeno excurso, citando a longa carta de Max Weber (MWG II/10-2WEBER, Max (MWG II/10). (2012) Cartas de 1918-1919. Gerd Krumeich (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.385-388) integralmente:
nós criticamos o Governo dos Conselhos pela seguintes razões: 1. por se tratar claramente de um governo de minoria que depende apenas da violência, assim como qualquer outra ditadura militar, 2. por não garantir a liberdade das eleições. Na maioria dos casos até mesmo os automóveis são utilizados pelos conselhos para fins de agitação, ou seja, para exercer uma “influência eleitoral oficial”, o que, de acordo com nossos princípios (e aqueles da velha social-democracia), torna as eleições inválidas, 3. porque ele tolerou e, eventualmente, até sancionou a eliminação de oficiais por quadros da reserva, fazendo-os rastejar atrás do conselho e dos soldados, ocasionando uma falta de disciplina vergonhosa, saques, a incapacidade de manter a ordem e até mesmo a impossibilidade de opor-se aos poloneses dentro do próprio território nacional alemão, 4. porque, ao contrário de sua própria convicção, ele é covarde para entrar em uma coalizão aberta com políticos burgueses, embora tenha tolerado em seu meio, e por muito tempo, péssimos elementos (Haase, Barth), 5. porque ele, o que inclui Wilhelm II, também não aprecia pessoas de caráter (Solf), 6. porque ele permitiu e ainda continua a permitir a dissolução de nossa economia e, seguindo sua própria convicção, promete uma “socialização”, embora se saiba que, pelo menos agora, ou seja, no momento em que mais do que nunca necessitamos de crédito estrangeiro, isso é completamente impossível, 7. porque ele não possui e não tem condições de implementar uma política externa, 8. porque, ao tolerar tontos como Adolf Hoffman e naturezas patológicas como Liebknecht, ele não apenas promove as forças reacionárias, mas também desacredita por longo tempo, e sem qualquer esperança, não apenas o socialismo, mas a própria democracia, 9. porque, acima de tudo, ele não enxerga ou não quer enxergar, a não ser na forma de reivindicações, a inevitável e atual necessidade do auxílio da burguesia, tornando impossível para qualquer pessoa justa colocar-se a seu serviço.
O governo dos Conselhos não será capaz de evitar a guerra civil, mas, como já aconteceu com Kerensky, compreenderá isso tarde demais, entregando-nos para a dominação econômica e política estrangeira, o que, pelo menos em tal proporção, não teria sido necessário. Na questão constitucional, ele até vê, pelo menos teoricamente, a necessidade de uma administração forte, isto é, de uma liderança plebiscitária unificada que possa implantar qualquer tipo de socialização, mas não tem a coragem de extrair disso todas as conclusões necessárias, pois cai no velho erro da antiga e alta burguesia democrata com seu ressentimento contra o “monarca eleito”. Esta questão, por razões doutrinárias, está completamente deteriorada e com ela o futuro do império e da socialização da economia.
Não obstante, como já afirmamos acima, o propósito deste artigo é ir além da dimensão meramente conjuntural. Intenta-se mais do que resgatar o posicionamento político de Weber naquele contexto específico, pois o que se busca é verificar como, a partir dessa análise político-conjuntural, sua reflexão atinge o nível teórico-sociológico propriamente dito. Embora não se trate de uma proposta que rompe com as interpretações dominantes, a novidade de meu argumento consiste em articular estas duas dimensões. Daí que seja necessário partir de base conceitual de Weber: o conceito da racionalização (Schluchter, 2014SCHLUCHTER, Wolfgang. (2014) O desencantamento do mundo: seis estudos sobre Max Weber. Rio de Janeiro: UFRJ. ). Este conceito não só perpassa a percepção que Weber tem do socialismo em seus diferentes aspectos, como também ancora sua reflexão no corpo de sua tese sociológica por excelência: a teoria do racionalismo ocidental (Schluchter, 1981SCHLUCHTER, Wolfgang. (1981) The rise of Western rationalism: Max Weber’s developmental history. Berkley: Univ. of California Press. ). Partindo dessa categoria central procuro caracterizar a visão weberiana do socialismo no campo de sua sociologia econômica e de sua sociologia política. Argumento, assim, que a chave analítica da racionalização é mobilizada por Weber de modo contextualizado, tendo em vista que o conflito entre a racionalidade formal do capitalismo com a planificação material do socialismo tem conotações diferentes do conflito entre a lógica formal-burocrática do Estado e a lógica carismática (com sua particular ética da convicção) dos movimentos socialistas.
Essas duas escolhas metodológicas nos levarão ao encontro de personagens chaves da revolução bávara. O primeiro deles é o economista Otto Neurath, autor imprescindível para entender a análise weberiana da planificação estatal. Já no âmbito político, Weber estava intimamente ligado com algumas figuras chaves do processo revolucionário de Munique, em especial com o poeta anarquista Ernst Toller, Erich Mühsam e Gustav Landauer (Dahlmann, 1988DAHLMANN, Dittmar. (1988) “Max Weber Verhältnis zu Anarchismus und den Anarchisten am Bespiel Ernst Tollers”. In: MOMMSEN, Wolfgang e SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs.). Max Weber und seine Zeitgenossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p.490-505., p.506-524). Mas também outras lideranças proeminentes daquele momento estão explicitamente presentes em seus escritos, como Kurt Eisner, Roxa Luxemburgo e Karl Liebnechkt (Schluchter, 2014SCHLUCHTER, Wolfgang. (2014) O desencantamento do mundo: seis estudos sobre Max Weber. Rio de Janeiro: UFRJ. ). Que rastros os contatos com estas personagens chaves deixaram na obra de Weber e como elas impactam o modo como ele definiu sociologicamente a experiência revolucionária socialista? Estas serão algumas das perguntas que tomaremos como guia desta investigação.
1. O socialismo no contexto global do pensamento de Max Weber
Antes de adentrar, de modo específico e particularizado, no modo como Weber incorporou suas experiências políticas em sua reflexão sociológica, é preciso inserir a discussão no quadro mais amplo de seu pensamento. Mais especificamente, é preciso investigar sistematicamente a relação entre socialismo, sociologia da dominação e sociologia econômica em Max Weber. Isso porque, a bem da verdade, o interesse de Weber pelo socialismo já pode ser localizado desde os seus primeiros trabalhos, ainda na década de 1890, refletindo o quanto a chamada questão social e operária, os movimentos sindicais, a formação do partido social-democrata e a difusão do marxismo no campo intelectual, eram realidades que impactavam decididamente o mundo político e cultural do segundo Império alemão (1870-1919). Suas posições sobre as questões sociais estão coletadas nos seus discursos sobre a política social (MWG I/8WEBER, Max (MWG I/8). (1998) Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik. Schriften und Reden (1900-1912). Wolfgang Schluchter, Peter Kurth e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck. )3 3 Interessantes análises da relação entre Max Weber a social-democracia alemã podem ser encontradas em Breully (1998) e Geary (1998). . Além disso, em 1920, quando já lecionava em Munique, estava previsto um curso sobre o socialismo [Socialismo: lições introdutórias] que, infelizmente, não se realizou. Não obstante, não será possível, em tão curto espaço, analisar cronologicamente como Weber vai acompanhando os movimentos da esquerda alemã ao longo de três décadas de escritos, nem como sua perspectiva a esse respeito vai se modificando e se enriquecendo ao longo do tempo.
Da mesma forma, cabe lembrar que, ao nos confrontarmos com esse tema, não podemos confundi-lo com uma questão que lhe é correlata, mas não idêntica, a saber, a relação entre o pensamento de Max Weber e o marxismo. A confrontação entre “Max(imilian) e Marx” é um dos tópicos mais polêmicos e também mais fascinantes das discussões acadêmicas, ocupando vasta bibliografia (Roth, 1971ROTH, Guenther. (1971) “The historical relationship to marxism”. In: BENDIX, Reinhard e ROTH, Guenther. Scholarship and Partisanship. Essays on Max Weber. Berkeley: California Press, p.227-252. , ; Antonio e Glassmann, 1985ANTONIO, R. Antonio e GLASSMAN, Ronald M. (Org.). (1985) A Weber-Marx Dialogue. Lawrence. ; Mommsen, 1982MOMMSEN, Wolfgang. (1982) Kapitalismus und Sozialismus. Die Auseinandersetzung mit Karl Marx. Max Weber: Gesellschaft, Politik und Geschichte. Frankfurt a.M: Suhrkamp, p.144-181.), mas não raro está permeado por inclinações ideológicas que dificultam um debate sereno sobre o tema. Nesta discussão, as posições variam desde aqueles que consideram Weber um adversário radical dessa concepção intelectual (o “Marx da burguesia”), até aqueles que enxergam na suposta afinidade entre ambos (Löwith, 1997LÖWITH, Karl. (1997) “Max Weber e Karl Marx”. GERTZ, René (org.). Marx Weber e Karl Marx. 2.ed. São Paulo: Hucitec, p.17-31.) a possibilidade de fundamentar um “marxismo weberiano” (Merleau-Ponty, 2006MERLEAU-PONTY, Maurice. (2006). As aventuras da dialética. Trad. de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes. ), talvez melhor fosse dizer, um “marxismo existencialista” (como propõem Thonhauser e Schmid, 2016THONHAUSER, Gerhard e SCHMID, Hans Bernhard. (2016) Existenzialistischer Marxismus. In: QUANTE, Michael e SCHWEIKARD, David (Org.). Marx Handbuch. Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, p.313-319.). Um estudo realmente abrangente e sistemático da recepção de Weber no pensamento marxista ainda é uma tarefa que está por ser feita, mas há pelo menos um trabalho digno de nota. Johannes Weiss (1981)WEISS, Johannes. (1981) Das Werk Max Webers in der marxistischen Rezeption und Kritik. Opladen: Westdeutscher Verlag ., em belo estudo (A obra de Max Weber na recepção e na crítica marxista), demonstra como no campo do socialismo real Weber era apresentado, no dizer de uma Enciclopédia soviética, “como um economista, historiador e representante da sociologia reacionária alemã, neokantiano e inimigo mortal do marxismo” além de ‘apologeta’ do capitalismo” (Weiss, 1981WEISS, Johannes. (1981) Das Werk Max Webers in der marxistischen Rezeption und Kritik. Opladen: Westdeutscher Verlag ., p.28).
Isso não significa que o marxismo não tenha se confrontando positivamente com Weber, em especial naquela corrente que, inspirada em Georg Lukács (1923)LUKÁCS, Georg. (1923) Geschichte und Klassenbewußtsein: Studien über marxistische Dialektik. Berlin: Malik-Verlag., ficou conhecida como teoria crítica da Escola de Frankfurt (Wiegershaus, 1998WIGGERSHAUS, Rolf. (1988) Die Frankfurter Schule. Geschichte, Theoretische Entwicklung, Politische Bedeutung. München: DTV. ). Porém, essa vertente sempre teve consciência de que essa recepção seletiva não desemboca em nenhuma síntese, razão pela qual seus membros jamais empregariam um oxímoro como “marxismo weberiano” (Löwy, 2013LÖWY, Michael. (2013) A jaula de aço: Max Weber e o marxismo weberiano. São Paulo: Boitempo. ). Os representantes desse “marxismo ocidental” (Habermas, 1981HABERMAS, Jürgen. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. ) - termo muito mais adequado para descrever essa linha de pensamento - sabiam que tal fusão é impossível, não apenas porque os pressupostos epistemológicos são absolutamente distintos, mas principalmente porque seus horizontes normativos são completamente opostos, pois enquanto Marx, na tradição de Hegel, é um teórico da reconciliação [Versöhnung], Weber, na tradição kantiano-liberal, é um teórico do politeísmo de valores. O mundo de Weber é o da guerra dos deuses, não o da síntese entre os pólos da totalidade (da pólis grega) e da individualidade (da sociedade civil moderna) procurada por Hegel, cujos reflexos chegam até Marx e a humanidade reconciliada com sua natureza essencial. Portanto, é apenas no nível da diagnose do moderno que alguma aproximação entre estes dois universos intelectuais é possível, o que, diga-se de passagem, não é pouco (vide-se Domingues, 2000DOMINGUES, José Maurício. (2000) A cidade: racionalização e liberdade em Max Weber. In: Jessé Souza. (Org.). A atualidade de Max Weber. 1ed. Brasília: Editora da UnB, v. 1, p. 209-234. ).
Resta-nos, é claro, perguntar também pela direção contrária e investigar de que modo Max Weber confrontou-se com Karl Marx (e com o marxismo de seu tempo), tarefa que nem de longe pretendo arranhar. Neste ponto prefiro seguir novamente as ponderadas considerações de Johannes Weiss que estabelece algumas das plataformas que uma análise consistente sobre esse tema deve considerar. A primeira diz respeito ao método e aos pressupostos gnosiológicos que separam a tese do hiato entre conceito e realidade (da tradição kantiana) da tese da identidade entre conceito e realidade (do emanatismo hegeliano). Seguem-se, então, os temas substantivos, em particular suas distintas análises sobre o capitalismo e sobre o Estado.
Feito este excurso introdutório já podemos estabelecer os marcos e os limites do problema tratado neste artigo, qual seja, a relação entre Max Weber e o socialismo. Também esta não é uma questão simples e Ettrich (2014ETTRICH, Frank. (2014) “Sozialismus und soziale Frage”. In: MÜLLER, Hans-Peter e IGMUNG, Steffen. Max Weber Handbuch: Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, p.127-133., p.112-132), corretamente, aponta para o fato de que a reflexão weberiana sobre o socialismo contém uma dimensão sociológico-analítica e uma dimensão político-normativa (Heins, 1992HEINS, Volker. (1992) “Max Weber Sozialismuskritik”. Zeitschrift für Politik, 39-4, p.377-393. ). Mesmo na dimensão analítica temos que desdobrar suas reflexões em várias frentes temáticas, pois Weber considera o socialismo como grupo de interesse, visão de mundo e organização político-partidária. Para Werner Gephart (1998)GEPHART, Werner. (1988) Handeln und Kultur: Vielfalt und Einheit der Kulturwissenschaften im Werk Max Webers. Suhrkamp: Frankfurt a.M. essa lista é ainda mais vasta e inclui a análise do socialismo enquanto 1) ideia de valor, 2) teoria científica, 3) sistema econômico, 4) sistema político, 5) sistema comunitário (classes sociais) e até mesmo como 6) cultura (ou como teoria estética).
Porém, não creio que seja necessário percorrer cada uma dessas linhas de investigação uma a uma. Para viabilizar a tarefa de uma contextualização inicial usarei como plataforma as teses centrais contidas na conferência O socialismo (pronunciada em 13 de Junho de 1918), na qual Weber expressa frente ao alto comando do exército austro-húngaro, e apesar de “seus diversos significados” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p. 609), sua visão do “socialismo moderno”. Tal documento tem a vantagem de situar o socialismo tanto no plano político quanto econômico, oferecendo importantes parâmetros para o enquadramento geral aqui pretendido.
Na esfera econômica, Weber define o socialismo (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.610) a partir da oposição entre satisfação das necessidades pela “ordem econômica privada” [Privatwirtschaftsordnung] ou através do “planejamento organizado” [plannvoll organisiert]. O ideal socialista representa o desejo de instauração de uma “economia coletiva” ou “economia do bem comum” [Gemeinwirtschaft] (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.613), forma social que possui duas características básicas: a supressão do lucro como móvel da economia e o fim da competição entre os empresários. Concretamente, uma ordem econômica coletiva poderia assumir dois formatos. O primeiro seria a “estatização”, que se baseia na “cooperação de empresários de um setor, coligados entre si, com funcionários estatais, tanto militares como civis” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.613). Nessa acepção “entende-se que o empresário age sob controle dos funcionários e que o Estado dirige a produção. Com isso se teria, pois, o “verdadeiro” ou “socialismo autêntico”, ou pelo menos estar-se-ia no caminho de alcançá-lo” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.613). Na verdade, o movimento socialista rejeita essa forma de “socialismo estatal” [Staatssozialismus], pois esse caminho mantém intacto a lógica do lucro. Contra esse “socialismo de empresários” [Unternehmer-Sozialismus] surge a proposta do “socialismo de consumidores” [Konsumentensozialismus] que se baseia na ideia de que seriam os indivíduos associados que devem definir quais necessidades devem ser satisfeitas pela economia estatal.
Como podemos situar, do ponto de vista sistemático, esta interpretação econômica do socialismo frente a visão que Max Weber tinha da teoria econômica? Embora esta seja uma tarefa que demande ampla investigação, uma resposta para esta candente questão encontra-se facilitada pelo fato de que o projeto Max Weber Gesamtausgabe resgatou um impressionante volume de material que contém as notas e planos de de aula do jovem professor de economia política das Universidades de Freiburg e Heidelberg. Uma análise completa deste material, tendo em vista tratar-se até agora de 04 volumes4 4 Os 4 volumes publicados são: 1) MWG III/I - Economia política geral (teorética), 2) MWG III/3 - Finanças, 3) III/4 - Questão agrária e movimento operário e 4) MWG III/5 - Direito agrário, história agrária e política agrária]. Resta publicar apenas o volume II que inclui as preleções sobre Economia política prática (1895-1897). , ainda está para ser feita, mas ela lança novas luzes sobre o modo como Weber situava-se no debate econômico do seu tempo. Os materiais de aula de Weber indicam que ele rejeitava a premissa da teoria de valor trabalho compartilhada pelos clássicos e pelo marxismo em nome da teoria da utilidade marginal, já bastante consolidada na sua época. Por essa razão, retomarei a relação de Weber com a escola neo-clássica mais à frente. Em relação à escola clássica já são visíveis suas críticas à ficção do homo eoconomicus (MWG III/1WEBER, Max (MWG III/1). (2009) Allgemeine (“theoretische”) Nationalökonomie. Vorlesungen 1894-1898. Wolfgang J. Mommsen, Cristof Judenau, Heino H. Nau, Klaus Scharfen u. Marcus Tiefel (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.693) e a demanda por uma explicação histórico-sociológica para o nascimento do moderno ethos econômico, projeto que vai tomar forma nos artigos de A ética protestante e o “espírito” do capitalismo. Quanto ao marxismo, resta claro que em função da superação da teoria do valor trabalho ele também considerava inócua a tese do mais/valor [Mehrwert]. É o que vemos claramente em uma passagem de seus manuscritos intitulada Qual é a essência do marxismo na qual se afirma que “o valor repousa sobre uma base subjetiva. Por isso é equivocado partir de uma equação como a de Marx, pois ela não corresponde aos fatos que estão envolvidos na troca” (MWG III/4WEBER, Max (MWG III/4). (2009) Arbeiterfrage und Arbeiterbewegung. Vorlesungen 1895-1898. Rita Aldenhoff-Hübinger e Silke Fehlemann (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.305).
Do ponto de vista político, Weber pretende “analisar a forma de socialismo a que, tal como se apresentam, estão ligados hoje em dia os partidos socialistas de massa, ou seja, os partidos social-democratas” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.616). A síntese dessa cosmovisão da política pode ser encontrada no Manifesto do Partido Comunista que, por um lado, seria um “trabalho científico de primeira grandeza” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.616), mas que, de uma ótica política, não passa de um documento profético que sustenta “o ocaso da economia privada, ou seja, aquela que se costuma chamar de organização capitalista da sociedade, e profetiza a substituição dessa sociedade por outra, tendo como fase de transição a ditadura do proletariado” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.616). Essa “patética profecia” estaria assentada em três premissas: 1) a conjugação entre a ampliação de uma grande massa de operários e a redução do número de capitalistas e 2) simplificação do conflito social. Esse processo revolucionário seria impulsionado, em terceiro lugar, pela 3) ocorrência de depressões que conduzem ao colapso econômico do sistema. Essa postura revolucionário-catastrofista foi sendo paulatinamente substituída por uma visão revisionista ou evolucionista, quer dizer, “pela ideia de uma mudança progressiva da economia tradicional de competição passiva entre os empresários por uma economia regulada gerida pelos funcionários do Estado ou por trusts em que também participam estes funcionários estatais” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.624). Esse processo gerou uma disputa no interior do movimento socialista entre aqueles que defendem o partido como o portador das transformações (ala revolucionária ou social-democrata) ou aqueles que depositam estas esperanças no sindicalismo.
Situar a concepção weberiana do socialismo no conjunto da sua sociologia da dominação - na qual está consolidada sua teoria política - não é tarefa das mais simples, pois assim como o tema do Estado e da democracia, não sabemos exatamente como Weber pretendia que a questão do socialismo fosse integrada no esquema dominação legal/tradicional/carismática. No plano de 1910 [Stoffverteilungsplann] ainda não havia referência a uma sociologia da dominação, embora Weber tivesse previsto um tópico chamado “Economia e cultura” com o seguinte sub-título: “crítica do materialismo histórico”. No entanto, marxismo e socialismo não são sinônimos e não há rastros nem de um e nem de outro na Disposição [Einteilung des Gesamtwerkes] de 1914 ou mesmo nas versões escritas elaboradas para a sociologia da dominação de Economia e sociedade5 5 Podemos documentar pelo menos oito momentos diferentes em que Weber se reporta a sua tipologia da dominação. No primeiro plano de redação de Economia e sociedade, concebido em 1910 [Stoffverteilungsplann], ainda não temos notícia de uma sociologia da dominação (MWG I/24, p.75). A primeira pista de que ele desejava aprofundar o assunto é um novo plano de trabalho elaborado em 1914 (MWG I/24, p.169). No seu tópico 8, intitulado A dominação, estão previstos os seguintes temas: a) os três tipos de dominação legítima, b) dominação política e hierocrática, c) a dominação não legítima. Tipologia das cidades, d) o desenvolvimento do Estado moderno,e) os modernos partidos políticos. Também podemos encontrar o assunto nas anotações de aula (MWG III/7) preparadas por Weber para seus alunos, em Munique, em 1920. Mas essas são menções muito breves e a primeira exposição sistemática só aparece em um escrito de 1915 dedicado à religião e que recebe o título de Introdução (1915). Nessa versão Weber nos apresenta, em primeiro lugar, o “carisma”, seguido do “tradicionalismo”ou da“autoridade tradicionalista”, chegando até ao “tipo legal” (MWG I/19, p.119-125), uma ordenação que, para evitar qualquer conotação histórico-evolucionista, ele não repetirá mais. Existe também um manuscrito póstumo, publicado em 1922, e cuja data de redação é incerta (Os tipos de dominação). Não podemos esquecer, por fim, as descrições que Weber faz em Política como profissão (MWG I/17), além de uma conferência datada de 1918 (Problemas de sociologia do Estado). (MWG I/24WEBER, Max (MWG I/24). (2009) Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente. Wolfgang Schluchter (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck . ). Na falta de amparo exegético, resta-nos então procurar auxílio na bibliografia especializada. Interessantes pistas a este respeito nos são oferecidas por Wolfgang Schluchter (1988)SCHLUCHTER, Wolfgang. (1988) Max Webers Forschungsprogramm. Religion und Lebensführung: Studien zu Max Webers Kultur-und Webtheorie. Frankfurt: Suhrkamp, p. 64-72. que resgata a crítica weberiana ao marxismo enquanto teoria sociológica, seja do ponto de vista metodológico, seja do ponto de vista teórico6 6 À dicotomia infra-estrutura/superestrutura (questão metodológica) Weber contrapõe a diferenciação entre forma/espírito, mas sem conferir a nenhuma delas qualquer prioridade explicativa, ou seja, rejeitando tanto o materialismo vulgar quanto o espiritualismo idealista. Do ponto de vista teórico, ele procura distanciar-se do objetivismo estruturalista de Marx, mas sem recair no subjetivismo da teoria econômica clássica e neo-clássica. Por essa razão, Schluchter (2016) é da opinião de que, mais do que um individualista metodológico, Weber deve ser considerado um teórico da síntese entre macro e microssociologia. . Em termos sistemáticos, Schlucher (1985)SCHLUCHTER, Wolfgang. (1985) Aspekte bürokratischer Herrschaft. Frankfurt: Suhrkamp, 1985. situa a reflexão weberiana sobre o socialismo nos marcos globais da dominação burocrática. Para ele, Marx e Weber compartilham do diagnóstico do progressivo papel do Estado na ordem econômica capitalista, mas enquanto Marx apostava na possibilidade de supressão da ordem estatal-burocrática via revolução, Weber não alimentava a mesma visão. Seu prognóstico é que o socialismo, ao contrário, acentuaria ainda mais o processo de burocratização: a tentativa de, pela via da ditadura do proletariado, nos conduzir do “domínio dos homens sobre os homens” para “a administração das coisas” [Verwaltung der Sachen], resultaria, afinal, somente no domínio dos burocratas [Herrschaft der Beamten].
Na Conferência de 1918, em grande síntese, Weber definiu o socialismo pela ideia da “economia planificada” e no âmbito político como um “movimento profético-escatológico”. Nos escritos seguintes, ainda que não complementarmente distante destas premissas, veremos que sua reflexão assume feições mais detalhadas, específicas e concretas. Ocorre que o que antes ainda era observado à distância, agora estava sendo implementado bem diante de seus olhos. Tais detalhamentos podem ser claramente observados em sua sociologia econômica e em sua sociologia política, como passo a demonstrar textualmente.
2. Otto Neurath e o socialismo racionalmente planejado
Comecemos nossa análise, pois, pela sua sociologia econômica, em particular nas reflexões que a esse respeito ele realiza no segundo capítulo de Economia e sociedade - Categorias sociológicas fundamentais do agir econômico. Dessa feita, em vez do socialismo “moderno” entra em cena a “forma de socialismo racionalmente planejado” [MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, p.293), ou como ele dirá na sua sociologia da dominação, o “socialismo racional” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, p.465).
Para entender a reflexão de Weber sobre os projetos de implantação de uma economia planificada, voltemos alguns momentos no tempo e foquemos nossa atenção primeiramente em suas atividades na Universidade de Viena, morada de Weber no semestre de inverno de 1918. Nessa ocasião, além da oferta um curso denominado Economia e Sociedade, com o subtítulo crítica positiva da concepção materialista da história (MWG III/7WEBER, Max (MWG III/7). (2009) Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie) - unvollendet. Mit- und Nachschriften 1920. Gangolf Hübinger e Andreas Terwey (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , 2009, p.41), ele também reforçou seus laços com os colegas da chamada Escola austríaca de economia (Morlok, 2013MORLOK, Christoph. (2013) Rentabilität und Versorgung. Wirtschaftstheorie und Wirtschaftssozioloige bei Max Weber und Friedrich von Wieser. VS Springer: Wiesbaden. ), grupo no qual emergiu um importante debate sobre a viabilidade da socialização dos meios de produção, envolvendo, entre outros, nomes como Friedrich Hayek, Friedrich von Wieser, Eugen Böm-Bawerk e os marxistas Oskar Lange e Otto Neurath. Enquanto esse último apregoava a possibilidade de uma economia natural, os primeiros eram veementes críticos dessa possibilidade. Neurath, que estudou em Heidelberg, onde obteve a habilitação (1917), foi também secretário para assuntos econômicos em Munique durante o inverno revolucionário de 1919 (de 31 de março até 14 de maio) e lá tentou colocar suas ideias em prática (Nemeth, 1981NEMETH, Elisabeth. (1981) Otto Neurath und der Wiener Kreis. Revolutionäre Wissenschaftlichkeit als Anspruch. Frankfurt: Campus Verlag.). Max Weber foi muito claro a respeito do que achava da iniciativa de Neurath. Em carta de 04 de Outubro de 1919 ele não se furtou a dizer que considerava “os planos de socialização da economia como uma imprudência inigualável, eles são diletantes, bem como absoluta e objetivamente desprovidos de responsabilidade, o que poderá levar o “socialismo“ a um descrédito que pode durar 100 anos, jogando tudo que ele agora até poderia realizar no abismo de uma reação estúpida” (MWG I/18, p.800). Mas tais discordâncias não levaram Weber a se recusar a defendê-lo diante das autoridades, quando após a queda da República dos Conselhos, Neurath foi preso. Segundo os registros disponíveis, eis o que teria dito, em juízo Max Weber:
A testemunha, professor universitário dr. Max Weber, descreve o acusado como um homem extraordinariamente eficiente, cujo trabalho, especialmente no campo da história econômica antiga, sempre foi muito bem avaliado. Ele sempre teve muitas idéias inteligentes e perspicazes, especialmente no que tange a economia de guerra, e tende a tomar decisões de forma rápida e acertada. Nos seus últimos trabalhos, no entanto, faltou-lhe uma melhor percepção da realidade: ele não levou em conta a influência das paixões humanas na realização das idéias que privilegia. Que Neurath sempre tenha examinado seus planos com a maior consciência possível, não resta dúvida. Mas o que surpreendeu a testemunha foi o fato de que o dr. Neurath não tenha se colocado à frente das massas na realização de seus planos, preferindo correr atrás da multidão. No campo político, e em parte também no campo econômico, faltou-lhe uma visão mais generosa, pois ele se deixou levar muito facilmente pela utopia. Subjetivamente, no entanto, e levando em consideração o teor de seus estudos, não há nada a reprovar no Dr. Neurath (MWG I/16WEBER, Max (MWG I/16). (1988) Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden 1918-1920. Wolfgang J. Mommsen e Wolfgang Schwentker (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.492-495).
O pensamento de Otto Neurath foi a principal interlocução de Weber para debater a fundo as implicações da socialização dos meios de produção. Esse diálogo é particularmente explícito nos parágrafos 12, 13 e 14 do segundo capítulo de Economia e sociedade, nos quais ele discute criticamente a hipótese de uma economia natural com base nos cálculos em espécie efetuados através do uso de dinheiro (fórmula defendida por Otto Neurath). No parágrafo 14, Weber diferencia entre dois mecanismos de satisfação das necessidades econômicas: a “economia de troca” [Verkehrwirtschaft] e a “economia planificada” [Planwirtschaft]. A primeira é aquela que “se realiza através de uma pura situação de interesses e que se orienta pelas oportunidades existentes em organizações econômico-sociais de troca” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, p.288). A segunda é definida “como todas as ordens materiais que, de forma estatuída, pactuada ou imposta, estão orientadas para a satisfação sistemática das necessidades no interior de uma organização” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, p.288). Economia de troca não deve ser confundida com capitalismo, pois “para o conceito de ‘economia de troca’ é indiferente se nela existem ou não e em que extensão economias ‘capitalistas’ (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, nota 03, p.295), isto é, orientadas pelo ‘cálculo de capital’”.
Qual era, nesse contexto, a proposta de Otto Neurath que, por sinal, Weber afirmava terem sido “tratadas com singular penetração em seus numerosos escritos” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , §12, p.280)? Para explicar este ponto, Weber nos remete ao tema da formação de preços, pois “para uma ‘socialização total’, isto é, para aquela que conta com o desaparecimento de preços efetivos, esse problema é de fato fundamental” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §12, p.280). Em outros termos, o desaparecimento dos preços (mas não do dinheiro) só pode ser elucidado no contexto do conflito entre o cálculo de capital e o cálculo em espécie, como Neurath tinha percebido. Para entender como Weber discute esse assunto, temos que analisar com cuidado o parágrafo 12 que disserta exatamente sobre o problema do “cálculo em espécie”. Nesse parágrafo Weber vai nos propor a diferenciação entre economia monetária e economia natural. A economia natural [Naturalwirtschaft] pode existir em duas modalidades (sem troca ou com troca) e, nesta última, as trocas podem ser puramente em espécie ou pode existir uma “economia natural de troca em espécie com cálculo (ocasional ou típico) em dinheiro” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §12, p.274). Era exatamente esse ponto que Neurath defendia, pois mesmo no caso de uma socialização total, a preservação do dinheiro “é inevitável devido a técnica moderna” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , §12, p.274). Teria, então, o socialismo finalmente descoberto a fórmula para sua concretização na área econômica?
As discordâncias de Weber quanto a isso já começam no plano terminológico (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, nota 01, p.290), pois Neurath utilizava - de forma inadequada, diz Weber - a expressão “economia administrativa” [Verwaltungswirtschaft], em vez de “economia planificada”. Em princípio, toda “economia planificada exclui a possibilidade de aquisição” e “orienta-se pela satisfação de necessidades” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, nota 01, p.290). Ela pode assumir duas formas diferentes. A primeira é a “socialização plena” entendida como uma economia planificada em termos de pura gestão doméstica (como sinônimo de estatal). Mas pode ocorrer também uma “socialização parcial”, caso em que o cálculo de capital é conservado. Temos ainda os modelos mistos, nos quais as soluções técnicas podem ser muito diversas. Weber fala aqui em “socialismo de racionamento” ou ainda do “socialismo dos conselhos de fábrica”, ambos voltados para a regulação do consumo. A oposição entre a regulação do consumo e a regulação da produção, tema que já conhecemos da conferência O socialismo, volta a aparecer na nota 03 do parágrafo 14, na qual Weber traça as diferenças entre “as duas formas do socialismo - a evolucionista e orientada pelo problema da produção - geralmente denominada marxista - e a outra que, partindo do problema da distribuição, defende uma economia planificada racional e que hoje em dia voltou a ser chamada de ‘comunista’” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, nota 03, p.292-293).
Por que Weber considerou a tentativa de implantação de uma economia natural (que preserva o cálculo em espécie mediante o uso de dinheiro) como algo tecnicamente inviável? É exatamente neste ponto que sua sociologia econômica do capitalismo e sua teoria da racionalização se tocam. No parágrafo 13 deste mesmo capítulo de Economia e Sociedade, Weber chama a atenção para a antinomia fundamental existente entre racionalidade formal e racionalidade material na esfera da economia. Segundo ele, elas nem são coincidentes e ainda podem entrar em conflito. Ele afirma também que o dinheiro é o meio de cálculo “mais perfeito”, ou seja, “o meio formalmente mais racional de orientação econômica da ação” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §10, p.252). Ademais, o cálculo em dinheiro pode ter sua racionalidade ainda mais elevada, pois ele “alcança o ponto máximo de racionalidade (…) na forma do cálculo de capital” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §13, p.286).
A racionalidade formal do dinheiro, que tem seu grau máximo alcançado no cálculo de capital, encontra seu limite racional diante de qualquer imperativo material. A racionalidade formal do capitalismo e a racionalidade material dos imperativos éticos podem até coincidir, mas, quanto a seu fundamento, obedecem a lógicas diferentes, “pois a racionalidade formal do cálculo em dinheiro, por si mesmo, nada nos diz sobre a forma da distribuição material dos bens em espécie” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §13, p.287). Em contrapartida, ainda que no plano da distribuição ambas discrepem, do ponto de vista da produção, ou seja, quando se trata de abastecer um número máximo de pessoas com um número mínimo de bens (considerando-se este o critério da racionalidade), a variante formal e a variante material podem confluir. Nesse ponto Weber parece atribuir ao capitalismo uma eficiência inigualável, observando apenas que não se trata da distribuição de “bens”, mas da distribuição de “rendimentos”.
A antinomia entre racionalidade formal e material, própria do capitalismo, também é o ponto de partida para a compreensão do socialismo ou, nas palavras de Weber: “essa irracionalidade fundamental e, em última instância, insolúvel da economia é uma das origens de toda problemática ‘social’ e, sobretudo, da problemática de todo socialismo” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, p.290). A racionalidade formal, explica Weber, representa “o grau de cálculo tecnicamente possível e realmente aplicado à ação econômica” e a racionalidade material existe “quando o abastecimento de bens de determinados grupos de pessoas (…) se realiza conforme determinados postulados de valor” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §09, p.251). Enquanto a primeira é inequívoca, a segunda “é completamente equívoca”, pois “estabelece exigências políticas, utilitaristas, hedonistas, estamentais, igualitaristas ou outras quaisquer” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §09, p.251).
Diante da antinomia entre racionalidade formal e racionalidade material, a escolha do socialismo é muito clara: “em caso de realização radical, ele tem de aceitar a diminuição da racionalidade formal do cálculo de capital” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, p.290). Teria Weber aceito a crítica socialista e assumido a tese do irracionalismo do capitalismo? Segundo seu raciocínio, o problema é que “a questão de se deve ou não criar uma ‘economia planificada’ (qualquer que seja seu sentido ou extensão) não é, naturalmente, nesta forma, um problema científico”. Cientificamente só cabe perguntar: “quais as consequências que ela provavelmente teria?” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §14, nota 03, p.293).
Ao se propor esta pergunta, Weber toma o cuidado de não deslocar o problema da avaliação dos sistemas econômicos para o campo ético-normativo e o mantém estritamente no plano da discussão econômica. É por isso que se trata, para ele, de uma questão técnica, e não ética. Em função desse critério, o julgamento de Weber é inequívoco. No caso da proposta da economia natural de Otto Neurath (que combina cálculo em espécie com o uso do dinheiro, mas rejeita o cálculo de capital), ela “encontra seus limites de racionalidade no problema da imputação [dos preços]” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §12, p.280). Nesse caso, ela só seria possível com uma contabilidade pública que Weber enxerga como inviável:
para o cálculo em espécie este problema só pode ser resolvido, em princípio, com o auxílio da tradição ou de um poder ditatorial que regule o consumo de modo preciso e, além disso, encontre a necessária obediência. Porém, mesmo neste caso, persistiria o problema da imputação do rendimento total de uma empresa a seus “fatores” e disposições particulares, tal como consegue o cálculo de rentabilidade em dinheiro (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §12, p.280).
Nesse ponto Weber parece estar muito próximo dos posicionamentos da escola austríaca, que apontam para os desarranjos decorrentes da eliminação do cálculo de capital na esfera econômica (Clark, 1982CLARK, Simon. (1982) Marx, Marginalism and Modern Sociology: From Adam Smith to Max Weber. London: Macmillan. ). De todo modo, ele também é da opinião de que esses argumentos técnicos dificilmente convencem seus adversários, pois a análise técnica só pode indicar os problemas decorrentes da tentativa da sua implantação racional, “sem poder ‘refutar’, portanto, a ‘justificação dessa tendência’, uma vez que ela não se apoia em postulados técnicos, mas como todo socialismo de convicção [Gesinungssozialismus], em postulados éticos” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §12, p.280). Segue, então, sua conclusão: “de uma perspectiva puramente técnica cabe, porém, levar em consideração a possibilidade de que em regiões com densa população que só podem ser abastecidas na base de um cálculo exato, os limites de uma socialização estariam dados, em sua forma e extensão, pela existência de preços efetivos” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , II, §12, p.280). A relação entre Weber e a escola austríaca mereceria, é claro, um tratamento teórico mais amplo que, dadas as restrições deste artigo, não poderão ser aqui desenvolvidas (vide-se Norkus, 2001NORKUS, Zenonas. (2001) Max Weber und Rational Choice. Marburg: Metropolis-Verlag. ). No entanto, da análise aqui realizada resulta claro que Weber acolheu as principais críticas desta escola econômica à coletivização dos meios de produção. Embora sua teoria econômica não me pareça inteiramente compatível com esta visão, neste ponto (entre outros), pelo menos, ele permaneceu um claro partidário da corrente econômica austríaca.
3. Kurt Eisner entre diletantes, literatos e profetas: o socialismo, burocracia e carisma
Passemos agora a análise dos impactos da Revolução de Novembro sobre a sociologia política de Max Weber. Comparada com sua análise econômica, a sua reflexão política segue uma direção ligeiramente diferente. Ao invés de aprofundar, pela via do detalhamento, princípios gerais já estabelecidos, em se tratando da dimensão política, Weber passa a incorporar e desenvolver novos elementos teóricos. Inicialmente sua reflexão sobre o socialismo orientava-se quase exclusivamente pela tese da burocratização; mas, paulatinamente, ainda que esta última questão continue a ser uma chave determinante, ela passa a guiar-se adicionalmente pelo tipo ideal da dominação carismática e pela seu vínculo com a ética da convicção.
3.1. O socialismo racional
No escrito Parlamento e Governo na Alemanha reordenada (conjunto de escritos publicados antes do movimento revolucionário de 1918-1919) são visíveis as profundas reservas de Weber diante da burocracia, pois ela “distingue-se das outras influências históricas do moderno sistema racional de vida por ser muito mais persistente e porque dela não se pode escapar” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.462). Feita esta constatação, ele nos lança diante de uma pergunta desafiadora: “suponhamos que, no futuro, o capitalismo privado seja eliminado. Qual seria o resultado prático? A destruição da estrutura de aço do trabalho industrial moderno?” A resposta de Weber a essa questão é direta e simples: “Não!” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.464). Eliminar a propriedade privada imaginando com isso que “a dominação do homem sobre o homem” se transformasse apenas na “dominação dos homens sobre as coisas” revela-se, na verdade, ilusório, pois:
A burocracia estatal reinaria absolutamente sozinha se o capitalismo privado fosse eliminado. As burocracias privada e pública, que agora funcionam lado a lado, e potencialmente uma contra a outra, restringindo-se assim mutuamente até certo ponto, fundir-se-iam numa única hierarquia. Esse Estado seria então semelhante à situação observada no Egito Antigo, mas ocorreria de uma forma muito mais racional e por isso indestrutível (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.464).
A tese de Weber é que na ordem social moderna tanto o Estado legal-burocrático quanto a economia empresarial-capitalista são, cada um a seu modo, ordens burocráticas. No entanto, caso o Estado restasse como o gestor único tanto do âmbito político quanto do âmbito econômico esse sistema de pesos e contrapesos seria dissolvido. Ao postular essa tese, podemos inserir o autor na tradição liberal dos checks and balances, pois ele insiste no fato de que a manutenção da diferenciação entre a ordem econômica e a ordem política é uma pré-condição da liberdade. A separação e limitação de poderes entre a burocracia econômico-empresarial e a burocracia político-governamental é a combinação institucional necessária e possível para uma modernidade imersa nas trilhas da racionalização.
Para Weber, a burocracia é uma máquina animada que “ocupa-se em construir a morada da servidão do futuro [Gehäuse jenes Hörigkeit der Zukunft] que os homens serão talvez forçados a habitar algum dia, tão impotentes quanto os felás do Egito Antigo” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.464). Ele prossegue dizendo que “essa morada da servidão, que nossos incautos críticos tanto louvam, poderia talvez ser reforçada prendendo-se cada indivíduo a seu trabalho” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.464-465). Nos artigos de A ética protestante e o espírito do capitalismo Weber afirma que “ninguém sabe o que o futuro nos reserva” (MWG I/9WEBER, Max (MWG I/9). (2014) Asketischer Protestantismus und Kapitalismus. Schriften und Reden (1904-1911). Wolfgang Schluchter e Ursula Bube (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . ). O capitalismo moderno, diante do qual Weber não deixou de ser crítico, possui um destino incerto e pode nos reservar tanto a petrificação chinesa quanto o despertar de velhas profecias. O mesmo juízo vale para o socialismo: “quem iria querer negar que tal potencialidade está nas entranhas do futuro?” (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.465).
Essa análise do socialismo sob a chave da burocratização será claramente retomada por Weber em Economia e sociedade, em particular na segunda versão do seu capítulo sobre a sociologia da dominação (Capítulo III)7 7 Economia e sociedade, como mostram os estudos mais recentes, não é um livro dividido em duas partes, conforme a organização que lhe foi dada por Marianne Weber. Trata-se de um projeto dividido em dois grandes momentos (antes e depois da primeira guerra mundial). Isso explica porque podemos encontrar dois capítulos em que Weber trata da dominação. O capítulo III (conforme Marianne Weber) é mais recente e foi escrito em 1920. O capítulo IX (posto por Marianne Weber na segunda parte do livro) é uma versão anterior. Neste artigo nos servimos apenas da versão final. Para uma discussão apurada deste ponto deve-se consultar a excelente introdução que Edith Hanke (MWG I/22-4) escreve aos escritos de Weber que tratam da dominação. . A dominação legal com quadro administrativo burocrático-monocrático é considerada por Weber, do ponto de vista técnico formal, o tipo mais racional da dominação. Ela comporta dois aspectos interligados, remetendo-nos o primeiro ao princípio de legitimidade (legalidade) e o segundo e seu formato organizacional (burocracia) ou, em fórmula ampliada: “administração burocrático-monocrática mediante documentação” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §5, p.463). Do ponto de vista da sua dinâmica sociológica, tanto o aparato jurídico quanto o quadro administrativo burocrático orientam-se pelo princípio da racionalidade formal que se desdobra em seis características: 1) precisão, 2) continuidade, 3) disciplina, 4) rigor, 5) confiabilidade, 6) calculabilidade, 7) intensidade e extensividade dos serviços e 8) aplicabilidade forma universal a todas as espécies de serviços.
O espírito normal da burocracia racional é sempre o “formalismo”, o que não quer dizer que a racionalidade material esteja completamente ausente, já que “a tendência dos funcionários é uma execução material-utilitarista de suas tarefas administrativas a serviço dos dominados a serem satisfeitos” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §5, p.467). Essa tendência à racionalidade material decorre das pressões a que a burocracia está submetida, em particular daqueles “interessados em “proteção”. Portanto, a tensão entre racionalidade formal e material, que já observamos na esfera econômica, também é constitutiva da esfera político-estatal, embora sua dinâmica seja ligeiramente diferente. Não se trata, como no caso da esfera econômica, de uma incongruência entre cálculo de capital e distribuição de bens, mas da tensão entre o formalismo da camada social dos burocratas (“tendência que exige menor esforço”) com as pressões políticas que surgem daqueles “dominados que não pertencem a essa camada” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,III, §5, p.47).
As reflexões de Weber sobre a relação entre burocracia e socialismo, em particular, são particularmente visíveis no §5 do capítulo sobre a sociologia da dominação de Economia e sociedade. Esse tópico está diretamente ligado ao que Weber já havia dito sobre a planificação econômica, tanto é assim que o próprio autor pede que nos remetamos ao §12 do capítulo dois (que trata da planificação econômica). Não devemos, portanto, perder a conexão essencial entre estes dois capítulos ou, mais importante ainda, entre política e economia.
Do ponto de vista histórico, enquanto capitalismo e burocracia surgem de forma concomitante, reforçando-se mutuamente, o movimento socialista depara-se com uma realidade que já está historicamente dada: “para a revolução que chegou ao poder ou para o inimigo que a ocupa, esse aparelho continua funcionando da mesma forma que para o governo legal então existente” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §5, p.464). Essa é uma realidade que “todo socialismo racional é obrigado a adotar e até intensificar” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,III, §5, p.463). Ele também deixa claro que as razões desse fato estão ligadas a “determinadas condições técnicas de comunicação e transporte” (ferrovia, telégrafo, telefone) e “isto em nada seria alterado por uma ordem socialista”. Feita esta constatação, surge uma pergunta fundamental: “o problema consiste em saber se o socialismo seria capaz de criar condições semelhantes às da ordem capitalista para uma administração racional”.
Contra essa esperança, Max Weber enxerga, mais uma vez, dificuldades de ordem técnica que decorrem da própria natureza do Estado Moderno e do socialismo como movimento político, cada um deles obedecendo a lógicas diferentes. Ele critica claramente a “ditadura dos comissários” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,III, §5, p.463), referência explícita à República dos Conselhos de Operários e Soldados proclamada em Munique em 1919. Na sua visão, os promotores desse movimento não tinham a competência técnica necessária para gerir a administração estatal: “só podemos escolher entre a ‘burocratização’ e o ‘diletantismo’ da administração” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §5, p.464). Esse aspecto está diretamente ligado ao papel do conhecimento técnico-profissional, “cuja indispensabilidade absoluta está condicionada pelo caráter da técnica moderna e da economia de produção de bens, quer elas estejam organizadas de forma capitalista ou socialista”. Weber tinha a convicção de que “administração burocrática significa: dominação através do conhecimento” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,IIII, §5, p.463).
A oposição entre o caráter “burocrático” do Estado e o “diletantismo” do movimento revolucionário é um elemento fundamental da avaliação de Weber sobre o socialismo e ainda vamos voltar a este segundo ponto no próximo tópico. Ele estava convencido, a partir do que também já tinha observado na revolução russa (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck.), que o socialismo se encaminhava rumo a planificação. No entanto, a pergunta com a qual já nos deparamos acima ainda está apenas parcialmente respondida, a saber: “o problema consiste em saber se o socialismo seria capaz de criar condições semelhantes às da ordem capitalista para uma administração racional”, ou seja, se ele é capaz de engendrar “uma administração burocrática rígida submetida a regras formais ainda mais fixas” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,III, §5, p.463).
A resposta de Weber a essa indagação não consiste apenas em uma negativa. De fato, não devemos entender o socialismo nem apenas como negação da racionalidade formal (tendo em vista suas dificuldades técnicas) e nem simplesmente como mero prolongamento da racionalidade formal já existente tanto no capitalismo empresarial com trabalho livre quanto na dominação legal-burocrática. No caso do socialismo “estaríamos de novo frente a uma daquelas grandes irracionalidades: a antinomia entre a racionalidade formal e a material que a sociologia frequentemente constata” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,III, §5, p.465). Dito de outro modo, enquanto a ordem estatal-burocrática e a economia capitalista regem-se pela racionalidade formal, a ordem estatal-burocrática socialista segue os ditames da racionalidade material. Resta claro que o socialismo não é apenas uma extensão da lógica racional da qual o capitalismo também é expressão e a diferença entre eles não é somente de “grau”, mas de “natureza”: a racionalidade do socialismo planejado altera qualitativamente a lógica racional da economia de mercado e do Estado burocrático, impondo a ambos sua racionalidade materialmente orientada. Para Weber, frente a esta realidade, a empresa capitalista “constitui a única instancia realmente imune (pelo menos, relativamente) à dominação inevitável pelo conhecimento burocrático racional” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . ,III, §5, p.466).
3.2. O carisma revolucionário
Muito antes de Walter Benjamin e do seu resgate da estética marxista da redenção (Wolin, 1982WOLIN, Richard. (1982) Walter Benjamin: an aesthetic of Redemption. New York: University Press. ), Max Weber já tinha denominado essa “mística do ainda não” (Brüseke, 2004BRÜSEKE, Franz Josef. (2004) “Romantismo, mística e escatologia política”. Lua Nova, n.62, pp.21-44.) como profética: seus representantes seriam os “românticos da esperança revolucionária”, como diz ele em O socialismo (MWG I/15WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918. Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck., p.628). Em Política como profissão8 8 Seguindo a tradução italiana (Weber, 1997), traduzo “Beruf” como “profissão” e não como “vocação” que, em alemão se diz “Berufung”. essa análise recebe novos desdobramentos, tendo em vista que neste escrito Weber analisa o socialismo sob a chave do carisma. Para ele, o movimento socialista é, em última instância, reflexo do “racionalismo cosmo-ético”, dado que todo “partidário da ética da convicção não pode suportar a irracionalidade do mundo” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.240).
a) O papel dos intelectuais
Essa linha de raciocínio pode ser encontrada embrionariamente em escritos anteriores ao processo revolucionário de Novembro, pois a tese do racionalismo cosmo-ético nos remete a dois temas vitais de sua sociologia da religião: a questão da teodiceia e a questão dos intelectuais. O problema da teodiceia foi desenvolvido detalhadamente por Weber na Introdução [Einleitung - MWG I/19WEBER, Max (MWG I/19). (1989) Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus. Schriften 1915-1920. Helwig Schmidt-Glintzer e Petra Kolonko (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.93-97) escrita para a Ética Econômica das religiões mundiais. Toda teodiceia nasce motivada pelo desejo de explicar a “incongruência entre o destino e o merecimento” (MWG I/19WEBER, Max (MWG I/19). (1989) Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus. Schriften 1915-1920. Helwig Schmidt-Glintzer e Petra Kolonko (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.95). É por isso que ela é tão suscetível aos interesses dos grupos negativamente privilegiados e é, ao mesmo tempo, a grande promotora da racionalização do mundo, tendo vem vista que sua tarefa principal é devolver sentido a uma realidade que parece intrinsecamente injusta.
A elaboração dessas teodiceias racionais não seria possível sem o papel mediador dos intelectuais (Kippengerg, 1988KIPPENGERG, Hans. (1988) Die vorderasiatischen Erlösungsreligionen. Frankfurt a.M: Suhrkamp. , p.61-84), como reconheceu Weber na sua Sistemática da religião (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . ). Na esfera religiosa, as teodiceias mais elaboradas e sofisticadas podem ser encontradas naquelas civilizações nas quais os estratos dominantes são as camadas cultas, fazendo progredir ao máximo a busca por um sentido inerente ao mundo, como ilustra, em especial, o caso das religiões místicas orientais. Mas, ao lado do espiritualismo místico podemos encontrar também formas seculares de intelectualismo que Weber classificou em duas correntes. Existe um intelectualismo de caráter filosófico-romântico (a celebração da natureza de Rousseau, o círculo de Stefan George, etc.) que é essencialmente apolítico. Segundo ele “esse tipo filosófico de intelectualismo (…) não é o único” e “ao lado dele existe o intelectualismo proletaróide” (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.274). Na esfera política, por sua vez, temos uma nova divisão entre o intelectualismo “representado na Europa moderna, de forma mais clássica, pela inteligência camponesa proletaróide da Rússia, no Leste; e no Oeste, pela inteligência proletaróide socialista e anarquista” (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.274).
Na Alemanha esse intelectualismo plebeu “tomou cada vez mais um rumo radicalmente anti-religioso, em definitivo desde o nascimento da crença socialista, economicamente escatológica” (MWG I/22, p.287). Essa evolução se explica pelo fato de que os movimentos políticos de esquerda “dispõem de uma camada de intelectuais desclassificada capaz (…) de ser portadora de uma crença pseudo-religiosa na escatologia socialista” (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.287). Weber reconheceu duas formas dessa crença escatológica. A primeira é a “glorificação quase supersticiosa da ‘ciência’ como possível produtora, ou pelos menos, profetisa da revolução social, violenta ou pacífica, no sentido da redenção da dominação de classe” (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.287). Mas ele reconheceu que essa crença estava em declínio “e a única variante do socialismo, na Europa Ocidental, que pode ser considerada realmente equivalente a uma crença religiosa - é o sindicalismo”. Essa é uma divisão que já conhecemos da Conferência O socialismo e que reflete as disputas estratégicas no campo da social-democracia alemã.
Ao lado do movimento sindicalista, Weber identificou ainda um “último grande movimento pseudo-religioso de intelectuais” (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.287). É a chamada inteligência revolucionária russa, que orientada pelo direito natural e sobretudo pelo comunismo agrário (o populismo dos Narodnikies), “em parte entrou numa controvérsia aguda com a dogmática marxista, em parte mesclou-se a ela em diversas formas” (MWG I/22-2WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften. Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.288). Dentre os principais representantes dessa “religiosidade eslavófico-romântica” de intelectuais que buscam recompor o cosmos ordenado de sentido, perdido na modernidade desencantada, Weber mencionou as figuras de Dostoivesky e Tolstoi. Em função desses autores, vale a pena nos determos por um momento no papel que a literatura russa ocupa em seu pensamento (Hanke, 1993HANKE, Edith. (1993). Prophet des Unmodernen: Studien Und Texte Zur Sozialgeschichte der Literatur. Tübingen: Niemeyer. ). Essa vertente literária foi interpretada por Weber9 9 Segundo Hanke (1993, p.169), as primeiras anotações de Weber sobre Tolstói podem ser localizadas no escrito de 1905, dedicado a análise da A situação da democracia burguesa na Rússia. No escrito intitulado “As duas leis” (1915) a oposição entre as duas éticas aparece claramente. como modelo de uma forma específica de ética da convicção: a ética do amor e da fraternidade universal [Brüderlichkeits-und Liebesethik]. Sabe-se, inclusive, que ele planejava escrever um estudo sobre Tolstói e que ele acompanhava os esforços de Georg Lukács na sua pesquisa sobre Dostoiévsky, filósofo que buscava no escritor russo uma alternativa ética para o racionalismo ocidental (Beiersdörfer, 1986BEIERSDÖRFER, Kurt. (1986) Max Weber und Georg Lukács. Über die Beziehung von Verstehender Soziologie und Westlichem Marxismus. Frankufrt: Campus Verlag.)10 10 Segundo Hanke (1993, p.169), as primeiras anotações de Weber sobre Tolstói podem ser localizadas no escrito de 1905, dedicado a análise da A situação da democracia burguesa na Rússia. No escrito intitulado “As duas leis” (1915) a oposição entre as duas éticas aparece claramente. .
b) Paradoxos da ética da convicção
Weber jamais assumiu essa posição e opôs-se a ela com seu famoso princípio da ética da responsabilidade, tese que vamos encontrar plenamente desenvolvida no escrito Política como profissão, fruto da Conferência proferida por ele em 28 de Janeiro de 1919, em pleno processo revolucionário. Poucos documentos de Weber refletem tão claramente os impactos da revolução socialista em terras alemãs sobre sua teoria como esta conferência, sobre a qual me deterei agora. Para ele, o dilema insolúvel da ética da convicção é sua incapacidade de reconhecer que a política tem de recorrer a violência para a consecução de seus fins, o que torna a sua lógica insustentável. Os representantes desse acosmismo universal “não trabalham como o meio essencial da política, com a violência, pois eles não são desse mundo e, mesmo assim, atuavam e continuam atuando neste mundo, e as figuras de Platão Karatahew e os santos de Dostoiévski são ainda suas representações mais adequadas” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.247). Como Weber entendeu o socialismo a partir desta chave analítica?
Todo partidário da ética da convicção está colocado diante do paradoxo da possível contradição entre os fins desejados e os meios empregados, além da necessidade de pesar as consequências não desejadas que tanto a escolha dos fins quanto dos meios trazem consigo. É justamente por levar em consideração essa complexidade de fatores que a ética da responsabilidade se distingue da ética absoluta perseguida por todo “combatente da fé” [em linguagem atual também podemos dizer, todo “militante”]. Weber não é um adversário incondicional de convicções no agir político (devoção a uma causa é sempre necessária), mas ele adverte que sem o sentido de responsabilidade (senso de proporção e objetividade) elas tornam-se dogmáticas ou inócuas, quando não contraditórias.
São dois os principais dilemas da ética da convicção, a depender da correlação entre fins, meios e consequências. De um lado estão aqueles que absolutizam os fins, mas recusam-se a aceitar os meios necessários e os efeitos contraditórios dos seus objetivos. De outro estão aqueles que, em nome dos seus fins absolutos, não consideram os danos dos meios empregados. Na perspectiva política, o primeiro grupo é representado pelos sindicalistas, pelos pacifistas e pelos anarquistas. Para Weber, não adianta explicar a um sindicalista “que as consequências de seu modo de proceder podem aumentar as possibilidades da reação e acrescentar ainda mais tirania sobre a sua própria classe”, pois mantendo-se nos parâmetros da ética da convicção, ele “responsabilizará o mundo, a necessidade dos homens ou a vontade de Deus” pelo seu revés (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.237). Uma lógica parecida segue “o pacifista que se sentirá na obrigação moral de negar-se a pegar em armas ou, pelo menos, de abandoná-las” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.235).
Ao fazer referência aos movimentos políticos sindicalistas e pacifistas, Weber não estava falando apenas em abstrato. Quando se trata do sindicalismo revolucionário da ação direta, a figura que serve de referência a Max Weber é Robert Michels, pensador cuja aposta na ação direta como corretivo da oligarquização dos partidos é bem conhecida (Mommsen, 1988MOMMSEN, Wolfgang. (1988) “Robert Michels und Max Weber. Gesinnungsethischer Fundamentalismus versus verantwortungsethischen Pragmatismus”. In: MOMMSEIN Wolfgang J.; SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs). Max Weber und seine Zeitgenossen. Göttingen, p. 196-215.). Em relação aos pacifistas, a fala de Weber tinha diferentes alvos. O primeiro é o ministro Kurt Eisner (Hopkins, 2008HOPKINS, Nicholas. (2008) “Charisma and responsibility: Max Weber, Kurt Eisner, and the Bavarian Revolution of 1918”. Max Weber Studies, v. 2, n. 7, p.185-211.), político que havia concluído “que era necessário publicar todos os documentos, sobretudo aqueles que culpam seu próprio país e, com base nesta publicação unilateral, fazer uma confissão da própria culpa, também unilateral e incondicional, sem pensar nas consequências” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.236). Tratava-se de um erro imperdoável, pois “o político se dará conta de que esta forma de atuar não ajudará na verdade e, muito ao contrário, a obscurece, estimulando o abuso e o desencadeamento de paixões” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.236). O segundo alvo são anarquistas como Gustav Landauer, Ernst Toller e Erich Mühsam. De fato, Weber conhecia muito bem o anarquismo, tanto em sua variante política (Dahlmann, 1988DAHLMANN, Dittmar. (1988) “Max Weber Verhältnis zu Anarchismus und den Anarchisten am Bespiel Ernst Tollers”. In: MOMMSEN, Wolfgang e SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs.). Max Weber und seine Zeitgenossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p.490-505.) quanto cultural, (Whimster, 1999WHIMSTER, Sam. (1999) Max Weber and the Culture of Anarchy. New York: Palgrave Macmillan) e chegou a observar pessoalmente a comunidade de vida alternativa de Ascona, que ele visitou em 1912 (Schwenkter, 1988SCHWENKTER, Wolfgang. (1988) “Leidenschaft als Lebensform. Erotik und Moral bei Max Weber und im Kreis um Otto Gross”. In: MOMMSEN, Wolfgang e SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs.). Max Weber und seine Zeitgenossen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p.661-681. ).
Tendências anarquistas, pacificistas e sindicalistas radicalizam os fins sem considerar adequadamente os meios ou consequências, mas não menos problemática é a via insurrecional defendida por bolcheviques e espartaquistas. Em oposição ao grupo anterior, estes não hesitam em fazer uso da violência para atingir os seus fins: “não estamos vendo que os ideólogos bolcheviques e espartaquistas produzem resultados iguais aos de qualquer ditador militar exatamente porque se servem do mesmo instrumento da política?” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.233). Tal opção acredita poder justificar-se por causa da sua “nobre intenção”, porém Weber adverte que “aqui estamos falando dos meios” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.234), e não dos fins. Na sua visão, “nenhuma ética mundana é capaz de apontar e muito menos de resolver em que momento e até que ponto os meios e as consequências laterais moralmente arraigadas ficam santificados por um fim moralmente bom” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.238). Esse não era nenhum problema para determinados grupos socialistas que chegaram a defender a continuidade da guerra, pois ela seria muito mais vantajosa para a emergência do socialismo: “esta é a postura do bolchevismo, do espartaquismo e, em geral, de todo socialismo revolucionário” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.239). Diante dessa contradição, Weber se surpreende e constata “que os adeptos da ética da convicção se convertem rapidamente em profetas quiliásticos” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.240). No caso da guerra, por exemplo, “aqueles que pregavam repetidamente o amor frente a força logo a seguir chamam para a luta, a última, aquela que deveria eliminar totalmente a violência” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.240)
Também aqui a fala de Weber não é apenas hipotética e é fácil identificar que ele tem em vista não só as ideias de Lênin e Tróstky, mas também as figuras de Rosa Luxemburgo e Karl Liebnecht, os principais representantes da esquerda revolucionária alemã, como mostra esta passagem: “observando a cena contemporânea encontramos aqueles que desejam instaurar a justiça absoluta” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.225). Seu juízo sobre os líderes socialistas é que “esses heróis da crença e suas doutrinas esmorecem e, o que é ainda mais eficaz, tornam-se parte da fraseologia convencional dos demagogos e técnicos da política”. Essa é uma mudança “que se produz com celeridade no curso das lutas ideológicas, pois elas são conduzidas e estão inspiradas por líderes autênticos: profetas da revolução” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.246).
Essa última observação já nos conduz a outro ponto. De fato, a certa altura da conferência ele já tinha se perguntado “em que se distingue o domínio dos Conselhos de Soldados e Trabalhadores (…) senão pelo fato de que os atuais manipuladores do poder são apenas diletantes?” (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.233-234). Esse pequeno trecho é mais um testemunho do tremendo impacto que foi para Weber acompanhar os tensos eventos da República dos Conselhos instalada em Munique no início de 1919. “Dilentantismo”: o que ele quer dizer com isso?
Para entender essa ideia temos que voltar novamente para a segunda versão de sua sociologia da dominação (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III), mas não ao tópico dedicado à burocracia, e sim ao carisma. Mesmo neste escrito, em que está posta a exigência da “distância frente a seus próprios valores” [Wertfreiheit Urteil], as experiências pessoais de Weber com a revolução deixaram profundas marcas. Não por acaso, ele também trata da revolução no contexto de sua teoria da dominação carismática, o que reforça uma tese que já conhecemos: movido pela ética da convicção, o socialismo, pelo menos enquanto movimento político, pertence ao campo do carisma. Na sua sociologia do fenômeno carismático, Weber explicou que todo grupo reunido em torno de um líder forma uma “comunidade emocional”. Seguindo essa pista, uma geração inteira de sociólogos de inspiração weberiana foi buscar nesta tese os fundamentos de uma teoria dos movimentos políticos, com destaque para Rainer Lepsius (1993)LEPSIUS, M. Rainer. (1993) Demokratie in Deutschland. Tübingen: Vandenhoeck & Ruprecht. , até hoje a referência fundamental quando se trata de entender a dinâmica política do carisma. De fato, isso corresponde inteiramente ao que Weber pensava, com o acréscimo de que ele via nesse aspecto um problema central para a experiência dos conselhos: em “todas as formas de dominação é vital para a manutenção da obediência a existência do quadro administrativo e de sua ação dirigida continuamente à realização e imposição de ordens”. Dessa necessidade nenhum movimento político escapa, inclusive o socialismo, pois “a paralisação da administração significa a ruína do abastecimento da população inteira” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §13, nota 02, p.531).
Não é que os revolucionários de Munique não estivessem preparados para isso, como reconhece, com sua costumeira honestidade intelectual, o próprio Weber. É dele a constatação de que “o processo daquela subversão criou um novo quadro administrativo nos conselhos de trabalhadores e soldados” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §13, nota 02, p.531). E esse processo não foi fácil, pois “a técnica da formação desses novos quadros teve de ser inicialmente ‘inventada’ e estava vinculada às condições da guerra, sem as quais teria sido impossível qualquer subversão” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §13, nota 02, p.531). Nesse ponto a experiência de Munique foi bem sucedida, pois “antes, toda revolução, particularmente em condições modernas, fracassara pela imprescindibilidade de funcionários qualificados e pela falta de quadros administrativos próprios” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §13, nota 02, p.532).
Mas Weber não mantinha ilusões. No “apogeu da ditadura revolucionária”, a administração segue o princípio “do mandato puramente revogável e ocasional” e ignora tanto “a legitimidade tradicional quanto a formal”. Além do mais, à medida em que também as exigências da justiça material são buscadas, acaba impondo-se a “rotinização do carisma revolucionário” (MWG I/23WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . , III, §14, nota 02, p.537). A passagem do movimento carismático socialista para o âmbito do aparelho do Estado traz como consequência paralela sua rotinização burocrática. A esfera da burocracia é sempre a morte do diletante, pois nela quem rege é o especialista. Para Weber, ao final, a lógica das ruas e a lógica dos escritórios são antagônicas.
Conclusão
Os episódios revolucionários de 1918-1919 na Alemanha foram fundamentais no amadurecimento da compreensão sociológica de Max Weber sobre o socialismo. As marcas daquele evento são especialmente marcantes em sua sociologia econômica [em particular no segundo capítulo de Economia e sociedade] e em sua sociologia política [tanto no capítulo de Economia e sociedade sobre os tipos de dominação quanto em Política como profissão]. A confrontação com as ideias do economista Otto Neurath e com o papel das lideranças políticas e intelectuais do processo revolucionário de Munique (especialmente Kurt Eisner e os chamados literatos) permitiram a Weber discutir criticamente e detalhadamente a possibilidade de implantação de uma economia natural com base nos cálculos em espécie. Ao mesmo tempo levaram-no a perceber também a dimensão carismática da revolução socialista e as consequências da ética da convicção que a fundamenta.
Quando alicerçamos a reflexão econômico-política de Weber sobre socialismo na categoria da racionalização atingimos o núcleo de sua compreensão sociológica desse fenômeno. O socialismo está entrelaçado com as tendências mais íntimas da modernidade e expressa algumas das suas contradições e dilemas mais profundos. Diante deles, o socialismo representa, tanto no âmbito econômico quanto político, a prevalência da racionalidade material sobre a racionalidade formal. Na ordem social moderna, fundada sobre a duplicidade da ordem jurídico-burocrática estatal e da organização empresarial-capitalista com base no trabalho formalmente livre, a racionalidade formal e material permanecem em uma tensão permanente, mas construtiva. Em função dessa realidade, o socialismo não exacerba a mesma forma de racionalidade já desde sempre presente na modernidade (a racionalidade instrumental, conforme Habermas (1981)HABERMAS, Jürgen. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. ) e que simplesmente se expande quantitativamente, mas representa a hybris de um tipo qualitativamente distinto de racionalismo (a racionalidade material) que, uma vez tornado absoluto, torna-se não só inviável tecnicamente, mas também patológica. De acordo com as premissas sociológicas de Weber, fundadas na tese do processo de racionalização, elevam-se, assim, exponencialmente, os riscos de uma modernidade já sobrecarregada com o fardo da condução racional da existência e que vê crescer dentro dela uma tendência que pode levar à supressão da liberdade.
Bibliografia
- ANTONIO, R. Antonio e GLASSMAN, Ronald M. (Org.). (1985) A Weber-Marx Dialogue Lawrence.
- BEIERSDÖRFER, Kurt. (1986) Max Weber und Georg Lukács. Über die Beziehung von Verstehender Soziologie und Westlichem Marxismus Frankufrt: Campus Verlag.
- BRÜSEKE, Franz Josef. (2004) “Romantismo, mística e escatologia política”. Lua Nova, n.62, pp.21-44.
- CLARK, Simon. (1982) Marx, Marginalism and Modern Sociology: From Adam Smith to Max Weber. London: Macmillan.
- DAHLMANN, Dittmar. (1988) “Max Weber Verhältnis zu Anarchismus und den Anarchisten am Bespiel Ernst Tollers”. In: MOMMSEN, Wolfgang e SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs.). Max Weber und seine Zeitgenossen Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p.490-505.
- DOMINGUES, José Maurício. (2000) A cidade: racionalização e liberdade em Max Weber. In: Jessé Souza. (Org.). A atualidade de Max Weber 1ed. Brasília: Editora da UnB, v. 1, p. 209-234.
- ETTRICH, Frank. (2014) “Sozialismus und soziale Frage”. In: MÜLLER, Hans-Peter e IGMUNG, Steffen. Max Weber Handbuch: Leben, Werk, Wirkung Stuttgart: Verlag J.B. Metzler, p.127-133.
- HANKE, Edith. (1993). Prophet des Unmodernen: Studien Und Texte Zur Sozialgeschichte der Literatur. Tübingen: Niemeyer.
- GEPHART, Werner. (1988) Handeln und Kultur: Vielfalt und Einheit der Kulturwissenschaften im Werk Max Webers. Suhrkamp: Frankfurt a.M.
- HEINS, Volker. (1992) “Max Weber Sozialismuskritik”. Zeitschrift für Politik, 39-4, p.377-393.
- HABERMAS, Jürgen. (1981) Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
- HÖLLER, Ralf. (2017) Das Wintermärchen: Schriftsteller erzählen die bayerische Revolution und die Münchner Räterepublik 1918/1919 Berlin: Edition TIAMAT.
- HOPKINS, Nicholas. (2008) “Charisma and responsibility: Max Weber, Kurt Eisner, and the Bavarian Revolution of 1918”. Max Weber Studies, v. 2, n. 7, p.185-211.
- KIPPENGERG, Hans. (1988) Die vorderasiatischen Erlösungsreligionen Frankfurt a.M: Suhrkamp.
- LEPSIUS, M. Rainer. (1993) Demokratie in Deutschland Tübingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- LÖWITH, Karl. (1997) “Max Weber e Karl Marx”. GERTZ, René (org.). Marx Weber e Karl Marx 2.ed. São Paulo: Hucitec, p.17-31.
- LÖWY, Michael. (2013) A jaula de aço: Max Weber e o marxismo weberiano. São Paulo: Boitempo.
- LUKÁCS, Georg. (1923) Geschichte und Klassenbewußtsein: Studien über marxistische Dialektik Berlin: Malik-Verlag.
- MATA, Sérgio da. (2006). “Max Weber e o destino do “despotismo oriental””. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 21, 61, p. 203-207.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. (2006). As aventuras da dialética Trad. de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes.
- MOMMSEN, Wolfgang. (1974) Max Weber und die deutsche Politik 1890 - 1920. 2a. ed. Tübingen: Mohr, Siebeck.
- MOMMSEN, Wolfgang. (1982) Kapitalismus und Sozialismus. Die Auseinandersetzung mit Karl Marx. Max Weber: Gesellschaft, Politik und Geschichte Frankfurt a.M: Suhrkamp, p.144-181.
- MOMMSEN, Wolfgang. (1988) “Robert Michels und Max Weber. Gesinnungsethischer Fundamentalismus versus verantwortungsethischen Pragmatismus”. In: MOMMSEIN Wolfgang J.; SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs). Max Weber und seine Zeitgenossen Göttingen, p. 196-215.
- MOMMSEN, Wolfgang J. (1994) Max Weber und die deutsche Revolution 1918/19. Heidelberg: Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte.
- MORLOK, Christoph. (2013) Rentabilität und Versorgung Wirtschaftstheorie und Wirtschaftssozioloige bei Max Weber und Friedrich von Wieser. VS Springer: Wiesbaden.
- NEMETH, Elisabeth. (1981) Otto Neurath und der Wiener Kreis Revolutionäre Wissenschaftlichkeit als Anspruch. Frankfurt: Campus Verlag.
- NIESS, Wolfgang. (2017) Die Revolution von 1918/19: Der wahre Beginn unserer Demokratie München: Europa-Verlag.
- NORKUS, Zenonas. (2001) Max Weber und Rational Choice Marburg: Metropolis-Verlag.
- ROTH, Guenther. (1971) “The historical relationship to marxism”. In: BENDIX, Reinhard e ROTH, Guenther. Scholarship and Partisanship. Essays on Max Weber Berkeley: California Press, p.227-252.
- SCHWENKTER, Wolfgang. (1988) “Leidenschaft als Lebensform. Erotik und Moral bei Max Weber und im Kreis um Otto Gross”. In: MOMMSEN, Wolfgang e SCHWENKTER, Wolfgang (Orgs.). Max Weber und seine Zeitgenossen Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, p.661-681.
- SCHLUCHTER, Wolfgang. (2016) A dualidade entre ação e estrutura: esboços de um programa de pesquisa weberiano. Política & sociedade, 15.
- SCHLUCHTER, Wolfgang. (2014) O desencantamento do mundo: seis estudos sobre Max Weber Rio de Janeiro: UFRJ.
- SCHLUCHTER, Wolfgang. (1988) Max Webers Forschungsprogramm. Religion und Lebensführung: Studien zu Max Webers Kultur-und Webtheorie. Frankfurt: Suhrkamp, p. 64-72.
- SCHLUCHTER, Wolfgang. (1985) Aspekte bürokratischer Herrschaft Frankfurt: Suhrkamp, 1985.
- SCHLUCHTER, Wolfgang. (1981) The rise of Western rationalism: Max Weber’s developmental history Berkley: Univ. of California Press.
- THONHAUSER, Gerhard e SCHMID, Hans Bernhard. (2016) Existenzialistischer Marxismus. In: QUANTE, Michael e SCHWEIKARD, David (Org.). Marx Handbuch Stuttgart: J.B. Metzler Verlag, p.313-319.
- TRAGTEMBERG, Maurício. (1992) Burocracia e ideologia 2ª ed. São Paulo: Ática, 1992.
- WEBER, Max (MWG I/8). (1998) Wirtschaft, Staat und Sozialpolitik. Schriften und Reden (1900-1912) Wolfgang Schluchter, Peter Kurth e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck.
- WEBER, Max (MWG I/9). (2014) Asketischer Protestantismus und Kapitalismus. Schriften und Reden (1904-1911) Wolfgang Schluchter e Ursula Bube (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/15). (1984) Zur Politik im Weltkrieg. Schriften und Reden 1914-1918 Wolfgang J. Mommsen e Gangolf Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck.
- WEBER, Max (MWG I/16). (1988) Zur Neuordnung Deutschlands. Schriften und Reden 1918-1920 Wolfgang J. Mommsen e Wolfgang Schwentker (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919 Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/19). (1989) Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus. Schriften 1915-1920 Helwig Schmidt-Glintzer e Petra Kolonko (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/22-2). (2001) Wirtschaft und Gesellschaft. Religiöse Gemeinschaften Hans G. Kippenberg e Petra Schilm e Jutta Niemeier (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/22-4). (2005) Wirtschaft und Gesellschaft. Herrschaft Edith Hanke e Thomas Kroll (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/23). (2014) Wirtschaft und Gesellschaft: Soziologie ; unvollendet 1919-1920 . Knut Borchardt ; Wolfgang Schluchter ; Edith Hanke (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG I/24). (2009) Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente. Wolfgang Schluchter (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG II/10). (2012) Cartas de 1918-1919 Gerd Krumeich (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG III/1). (2009) Allgemeine (“theoretische”) Nationalökonomie Vorlesungen 1894-1898. Wolfgang J. Mommsen, Cristof Judenau, Heino H. Nau, Klaus Scharfen u. Marcus Tiefel (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG III/3). (2017) Finanzwissenschaft. Vorlesungen 1894-1897 Martin Heilmann, Cornelia Meyer-Stoll (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG III/4). (2009) Arbeiterfrage und Arbeiterbewegung. Vorlesungen 1895-1898 Rita Aldenhoff-Hübinger e Silke Fehlemann (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max (MWG III/5). (2008) Agrarrecht, Agrargeschichte, Agrarpolitik Vorlesungen 1894-1899. Rita Aldenhoff-Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck , 2008.
- WEBER, Max (MWG III/7). (2009) Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie) - unvollendet. Mit- und Nachschriften 1920 Gangolf Hübinger e Andreas Terwey (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck .
- WEBER, Max. (1997) La política como professione Roma: Armando Editore.
- WEIDERMANN Volker. (2017) Träumer: Als die Dichter die Macht übernahmen Köln: Kiepenheuer & Witsch.
- WEHLER, Hans-Ulrich. (2003) Deutsche Gesellschaftsgeschicht. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914 - 1949. München: Beck.
- WEISS, Johannes. (1981) Das Werk Max Webers in der marxistischen Rezeption und Kritik Opladen: Westdeutscher Verlag .
- WIGGERSHAUS, Rolf. (1988) Die Frankfurter Schule. Geschichte, Theoretische Entwicklung, Politische Bedeutung. München: DTV.
- WHIMSTER, Sam. (1999) Max Weber and the Culture of Anarchy New York: Palgrave Macmillan
- WOLIN, Richard. (1982) Walter Benjamin: an aesthetic of Redemption New York: University Press.
-
2
Expressão que ele também emprega frequentemente em sua correspondência (disponível em MWG II/10-2WEBER, Max (MWG II/10). (2012) Cartas de 1918-1919. Gerd Krumeich (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck . ), como em 13 de Dezembro de 1918 (p.356), 15 de janeiro de 1919 (p.394) e 10 de Abril de 1919 ( p.570).
-
3
Interessantes análises da relação entre Max Weber a social-democracia alemã podem ser encontradas em Breully (1998) e Geary (1998).
-
4
Os 4 volumes publicados são: 1) MWG III/I - Economia política geral (teorética), 2) MWG III/3WEBER, Max (MWG III/3). (2017) Finanzwissenschaft. Vorlesungen 1894-1897. Martin Heilmann, Cornelia Meyer-Stoll (Orgs). Tübingen: Mohr Siebeck . - Finanças, 3) III/4 - Questão agrária e movimento operário e 4) MWG III/5WEBER, Max (MWG III/5). (2008) Agrarrecht, Agrargeschichte, Agrarpolitik. Vorlesungen 1894-1899. Rita Aldenhoff-Hübinger (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck , 2008. - Direito agrário, história agrária e política agrária]. Resta publicar apenas o volume II que inclui as preleções sobre Economia política prática (1895-1897).
-
5
Podemos documentar pelo menos oito momentos diferentes em que Weber se reporta a sua tipologia da dominação. No primeiro plano de redação de Economia e sociedade, concebido em 1910 [Stoffverteilungsplann], ainda não temos notícia de uma sociologia da dominação (MWG I/24WEBER, Max (MWG I/24). (2009) Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente. Wolfgang Schluchter (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.75). A primeira pista de que ele desejava aprofundar o assunto é um novo plano de trabalho elaborado em 1914 (MWG I/24WEBER, Max (MWG I/24). (2009) Wirtschaft und Gesellschaft. Entstehungsgeschichte und Dokumente. Wolfgang Schluchter (Org.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.169). No seu tópico 8, intitulado A dominação, estão previstos os seguintes temas: a) os três tipos de dominação legítima, b) dominação política e hierocrática, c) a dominação não legítima. Tipologia das cidades, d) o desenvolvimento do Estado moderno,e) os modernos partidos políticos. Também podemos encontrar o assunto nas anotações de aula (MWG III/7WEBER, Max (MWG III/7). (2009) Allgemeine Staatslehre und Politik (Staatssoziologie) - unvollendet. Mit- und Nachschriften 1920. Gangolf Hübinger e Andreas Terwey (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . ) preparadas por Weber para seus alunos, em Munique, em 1920. Mas essas são menções muito breves e a primeira exposição sistemática só aparece em um escrito de 1915 dedicado à religião e que recebe o título de Introdução (1915). Nessa versão Weber nos apresenta, em primeiro lugar, o “carisma”, seguido do “tradicionalismo”ou da“autoridade tradicionalista”, chegando até ao “tipo legal” (MWG I/19WEBER, Max (MWG I/19). (1989) Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Konfuzianismus und Taoismus. Schriften 1915-1920. Helwig Schmidt-Glintzer e Petra Kolonko (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . , p.119-125), uma ordenação que, para evitar qualquer conotação histórico-evolucionista, ele não repetirá mais. Existe também um manuscrito póstumo, publicado em 1922, e cuja data de redação é incerta (Os tipos de dominação). Não podemos esquecer, por fim, as descrições que Weber faz em Política como profissão (MWG I/17WEBER, Max (MWG I/17). (1992) Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919. Wolfgang J. Mommsen, Wolfgang Schluchter e Birgitt Morgenbrod (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . ), além de uma conferência datada de 1918 (Problemas de sociologia do Estado).
-
6
À dicotomia infra-estrutura/superestrutura (questão metodológica) Weber contrapõe a diferenciação entre forma/espírito, mas sem conferir a nenhuma delas qualquer prioridade explicativa, ou seja, rejeitando tanto o materialismo vulgar quanto o espiritualismo idealista. Do ponto de vista teórico, ele procura distanciar-se do objetivismo estruturalista de Marx, mas sem recair no subjetivismo da teoria econômica clássica e neo-clássica. Por essa razão, Schluchter (2016)SCHLUCHTER, Wolfgang. (2016) A dualidade entre ação e estrutura: esboços de um programa de pesquisa weberiano. Política & sociedade, 15. é da opinião de que, mais do que um individualista metodológico, Weber deve ser considerado um teórico da síntese entre macro e microssociologia.
-
7
Economia e sociedade, como mostram os estudos mais recentes, não é um livro dividido em duas partes, conforme a organização que lhe foi dada por Marianne Weber. Trata-se de um projeto dividido em dois grandes momentos (antes e depois da primeira guerra mundial). Isso explica porque podemos encontrar dois capítulos em que Weber trata da dominação. O capítulo III (conforme Marianne Weber) é mais recente e foi escrito em 1920. O capítulo IX (posto por Marianne Weber na segunda parte do livro) é uma versão anterior. Neste artigo nos servimos apenas da versão final. Para uma discussão apurada deste ponto deve-se consultar a excelente introdução que Edith Hanke (MWG I/22-4WEBER, Max (MWG I/22-4). (2005) Wirtschaft und Gesellschaft. Herrschaft. Edith Hanke e Thomas Kroll (Orgs.). Tübingen: Mohr Siebeck . ) escreve aos escritos de Weber que tratam da dominação.
-
8
Seguindo a tradução italiana (Weber, 1997WEBER, Max. (1997) La política como professione. Roma: Armando Editore. ), traduzo “Beruf” como “profissão” e não como “vocação” que, em alemão se diz “Berufung”.
-
9
Segundo Hanke (1993HANKE, Edith. (1993). Prophet des Unmodernen: Studien Und Texte Zur Sozialgeschichte der Literatur. Tübingen: Niemeyer. , p.169), as primeiras anotações de Weber sobre Tolstói podem ser localizadas no escrito de 1905, dedicado a análise da A situação da democracia burguesa na Rússia. No escrito intitulado “As duas leis” (1915) a oposição entre as duas éticas aparece claramente.
-
10
Segundo Hanke (1993HANKE, Edith. (1993). Prophet des Unmodernen: Studien Und Texte Zur Sozialgeschichte der Literatur. Tübingen: Niemeyer. , p.169), as primeiras anotações de Weber sobre Tolstói podem ser localizadas no escrito de 1905, dedicado a análise da A situação da democracia burguesa na Rússia. No escrito intitulado “As duas leis” (1915) a oposição entre as duas éticas aparece claramente.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Fev 2020 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2019
Histórico
-
Recebido
05 Fev 2018 -
Aceito
04 Abr 2019