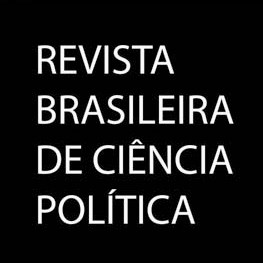Resumo:
Este artigo analisa os posicionamentos políticos e econômicos de deputados evangélicos no contexto da Assembleia Constituinte (1987-1988). Especialmente a partir das manifestações dos deputados Daso Coimbra e Fausto Rocha, evidenciamos a presença de uma retórica de matriz economicamente liberal, voltada à defesa da livre iniciativa e do empreendedorismo, em reação a um polo opositor, identificado com grupos associados ao progressismo e aos partidos mais localizados à esquerda do espectro político - polo este visto como defensor de perspectivas “estatizantes” para a vida econômica e social do país. Seus discursos se notabilizam por uma contundente crítica anticomunista, antiestatal, e pela associação entre liberdade de empreendimento e livre expressão e iniciativa religiosa. Por fim, o artigo mostra como esses parlamentares somaram esforços à atuação do Centrão e à defesa da alteração do Regimento Interno da Assembleia Constituinte.
Palavras-chave:
Brasil; Assembleia Constituinte (1987-1988); Religião e Política; Protestantismo - Aspectos Políticos - Brasil; Liberalismo
Abstract:
This article analyzes the political and economic positions of evangelical deputies in the Constituent Assembly (1987-1988). Based especially on speeches by the deputies Daso Coimbra and Fausto Rocha, we demonstrate the presence of a liberal-economic rhetoric in the defense of free initiative and entrepreneurship, that grew out of the reaction to an opposing pole, identified with progressive groups and parties more explicitly located on the left of the political spectrum - seen as a defender of “statist” perspectives for economic and social life of country. The speeches are notable for their strong anticommunist, anti-state perspective, and for the association between free enterprise and free religious expression and initiative. Finally, the article shows how these parliamentarians worked together to support the Centrão, defending the amendment of the bylaws of the Constituent Assembly.
Keywords:
Brazil; Constituent Assembly (1987-1988); Religion and Politics; Protestantism - Political Aspects - Brazil; Liberalism
Introdução
Em julho de 1987, a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) encaminhava-se para uma etapa importante de seus trabalhos. Após cinco meses de intensos debates nas comissões e subcomissões temáticas - e com as primeiras emendas oferecidas pelos membros da Comissão de Sistematização ao Anteprojeto resultante destes debates - o relator-geral, deputado Bernardo Cabral (PMDB-AM), se preparava-se para enviar ao Plenário da ANC a primeira versão do projeto da futura Constituição. Preliminarmente aprovado pelos membros da Comissão de Sistematização em 11 de julho, o texto seria encaminhado aos demais parlamentares no dia seguinte. Iniciar-se-ia uma nova etapa de discussões, com a apresentação de emendas, tanto do Plenário quanto de autoria popular, àquele projeto.4 4 Para uma compreensão cronológica da ANC, ver Oliveira (1993, p. 14-23).
Em 7 de julho de 1987, o deputado Daso Coimbra (PMDB-RJ) decide subir à tribuna para um pronunciamento bastante crítico. O parlamentar integrava a “bancada evangélica”, rótulo pelo qual veio a ser conhecido o grupo de 33 parlamentares filiados a igrejas protestantes e pentecostais5 5 Este número é registrado no estudo de Antonio Flávio Pierucci (1996) e refere-se aos deputados titulares. Tal quantidade representava praticamente o dobro do número de deputados evangélicos - considerando protestantes históricos e pentecostais - até então eleitos para o parlamento nacional (FRESTON, 1993, p. 167, 171, 192). tido como a “grande novidade”6 6 A declaração é de José Sarney, então Presidente da República: “toda Assembleia Constituinte tem uma grande novidade e a novidade dessa Constituinte é a presença maciça de uma representação evangélica” (apudFRESTON, 1993, p. 226). da ANC. Dizia entender que, desde o princípio, o processo de elaboração da Constituição estava destinado a não dar certo. Teria faltado, desde o começo dos trabalhos, o estabelecimento de princípios básicos que deveriam nortear a redação do texto preparado pela ANC: o regime de governo, a ideologia de Estado, a filosofia e política econômica, os princípios normativos e os parâmetros que delimitariam a ação do Estado em diferentes esferas da vida social - segurança, previdência, crédito, direitos e garantias individuais e coletivas, entre outras. “Começar do nada, somente para Deus”, afirmava o deputado.
Essa Constituição estaria sendo produzida como uma “colcha de retalhos”, uma junção de contribuições das comissões e subcomissões temáticas que estaria empobrecendo a futura Carta Magna. O novo texto que surgia trazia um antagonismo entre o social e o econômico; garantias e direitos individuais e sociais eram promovidas para além da capacidade do Estado de oferecê-las; desencontros e desacertos sobre a competência da União, dos estados e dos municípios se faziam presentes; “avanços demasiados” levavam à permissividade e “recuos inconsequentes” sacrificavam a moral, os bons costumes, a fé e a família. Havia, portanto, o que se podia compatibilizar; e havia também o incompatível: “do nada”, declarava Coimbra, “se quis iniciar um projeto, reunindo disparidades e separando convergências”. Tão repleto de incoerências, o texto do anteprojeto que estava em discussão seria incapaz de atender às demandas de setores tão díspares e em conflito. Era um texto desarmônico.
No entanto, para além da ausência de princípios fundamentais que norteassem o texto constitucional, sua desarmonia tinha raiz em um segundo problema: a submissão da “maioria” a uma vontade minoritária no interior da ANC. Diz o deputado: “adotamos o procedimento das minorias como parâmetros comportamentais. Aceitamos o discurso incomum à maioria e a forma de ver e de sentir, que é da maioria, foi relegada ao silêncio e à omissão”.
Mas que maioria é esta? O deputado explica:
Quando falo em maioria, não cuido em particular de meu partido, pois nele maioria e minoria se misturam e se desentendem sistematicamente. Falo nas vozes que se harmonizam em favor da organização do Estado, da melhor distribuição de rendas, dos melhores salários e da solidificação do empresariado nacional. Falo daqueles que querem o fortalecimento das instituições nacionais, dos que querem a democracia sem os embaraços de ideologias espúrias e opressoras. Falo dos que sentem conforme os sentimentos do cristianismo, dos que tem e professam a Deus, dos que encaram a família com seriedade, dos que criticam a imoralidade e a permissividade, dos que defendem a sociedade livre do caos, dos que esperam desta Assembleia um comportamento elevado, sério, respeitável e respeitoso (COIMBRA, 1987aCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 96ª Sessão, em 7 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 90, p. 3.120, 8 jul. 1987a., p. 3.120).
Trata-se de uma definição de “maioria” para a qual Daso Coimbra não atribui exatamente um rótulo, mas um conjunto de demandas - e talvez por isso o constituinte não se diga propriamente um conservador, tampouco defina assim a orientação política dessa maioria do parlamento. Para o deputado, seriam na verdade aqueles que se dizem progressistas os responsáveis por designar seus adversários, os componentes dessa maioria, como conservadores. Resulta disto uma conclusão: se a maioria é conservadora, então a Constituição tende a ser conservadora; “se a minoria é progressista, deve esta ater-se a tal, defendendo as suas teses sem tumultuar o processo e sem querer modificar o status quo do Plenário, que decide soberanamente pelo voto da maioria” (COIMBRA, 1987aCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 96ª Sessão, em 7 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 90, p. 3.120, 8 jul. 1987a., p. 3.120).
O incômodo de Daso Coimbra refletia um descontentamento mais amplo entre setores políticos interessados nos trabalhos constituintes. Vivia-se a fase da “Constituinte popular”, em que o Regimento Interno da ANC consagrava um funcionamento bastante descentralizado, com comissões e subcomissões temáticas permitindo a participação de um amplo conjunto de atores extraparlamentares - como movimentos sociais, lobbies e outros interesses organizados - no interior de suas atividades (ROCHA, 2013ROCHA, Antônio Sérgio. Genealogia da Constituinte: do autoritarismo à democratização. Lua Nova, São Paulo, n. 88, p. 29-87, 2013., p. 79). O PMDB, sob a liderança do senador Mário Covas (PMDB-SP), havia assegurado a maioria das relatorias das Comissões Temáticas;7 7 Por meio de acordo com o líder do PFL, José Lourenço, Covas garantiu o controle peemedebista de 7 das 8 relatorias em jogo (ROCHA, 2013, p. 80). mas o senador paulista agira no sentido de garantir que estas relatorias fossem ocupadas por parlamentares mais progressistas de seu partido, tornando-os também membros natos da Comissão de Sistematização. Por sua vez, um bloco que reunia majoritariamente peemedebistas progressistas e uma parcela de parlamentares ligados a partidos de esquerda conseguira ocupar, no caso das subcomissões, 12 das 24 presidências, bem como 12 das 24 relatorias destes foros (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 75; 121). Do recolhimento das propostas aprovadas nas comissões e subcomissões à elaboração do anteprojeto, o círculo se fechava8 8 A expressão faz referência a discurso de Covas na reunião de instalação da Comissão de Sistematização, em 9 de abril de 1987: “creio que, para mim, como decerto para cada um dos Constituintes que aqui estão, este é um momento de significativa relevância. Fecha-se um círculo por meio do qual conseguimos, no exercício de um mandato, haurido da fonte legítima de poder, que é o povo, ultrapassar a fase inicial, em que fixamos as balizas para trabalhar na votação do Regimento Interno. Já agora constituímos as comissões temáticas, as subcomissões e, a esta altura, ultimamos o trabalho com a constituição da Comissão de Sistematização” (COVAS, 1987, p. 173). com papel proeminente da linha política de Covas e seus aliados.
É verdade que o predomínio progressista na composição dos principais cargos das comissões e subcomissões não livrou esses espaços de disputas importantes. Os constituintes, por exemplo, conviviam com pressões da parte do Poder Executivo. José Sarney, em diferentes ocasiões e por meio de diferentes atores políticos e institucionais, tomou iniciativas com vistas a preservar seus poderes e limitar o campo de ação dos constituintes. Especialmente em 18 de maio de 1987, viria a manifestar em rede nacional sua decisão pessoal de exercer seu mandato em cinco anos - o período vigente era de seis - e sua posição para que esse tempo de mandato fosse determinado para os próximos presidentes (SARNEY, 1987SARNEY, José. Pelo presidencialismo com Congresso Forte. O Globo, Rio de Janeiro, 19 maio 1987.) - um gesto de aparente desambição que desafiava o poder decisório dos constituintes, que dividiam-se entre a determinação do mandato presidencial entre quatro e cinco anos - o que afetaria inclusive o mandato do então presidente da República. Por sua vez, parlamentares conservadores - também aqueles ligados ao PMDB - lançavam mão de recursos para tentar neutralizar o poder de agenda dos relatores progressistas e alterar a composição da Comissão de Sistematização.9 9 Por meio de questões de ordem e recursos, parlamentares tentaram aprovar a possibilidade de apresentação de substitutivos integrais aos anteprojetos dos relatores das subcomissões e, consequentemente, a permissão para substituição dos relatores cujos textos fossem derrotados. Esta estratégia foi parcialmente alcançada: seria possível a apresentação dos substitutivos, mas o presidente Ulysses Guimarães vetou a possibilidade de troca dos relatores - mantendo, assim, suas prerrogativas de elaboração da redação final da matéria, bem como suas vagas na Comissão de Sistematização (PILATTI, 2008, p. 78-81) Com o andamento dos debates e deliberações nas reuniões das subcomissões e comissões temáticas, enquanto as forças progressistas apresentavam sinais de agregação, os conservadores - integrados tanto a partidos de direita quanto ao PMDB - intensificavam suas articulações, reunindo-se em um bloco de autodenominados “moderados”; no caso dos conservadores do PMDB, estes passavam a se organizar em torno do líder governista Carlos Sant’Anna (PMDB-BA), formando um grupo que viria a se nomear como “Centro Democrático”.
Se era conservadora a posição majoritária entre os parlamentares constituintes e se sua maior presença nas comissões e subcomissões permitiu, com o auxílio ou a conivência dos presidentes desses foros, o exercício de pressões sobre os relatores com vistas à redução de seu poder de agenda, por sua vez, as preocupações desse grupo se intensificavam à medida que se aproximava o início das atividades da Comissão de Sistematização - que apresentaria uma disposição de forças peculiar, com muito mais equilíbrio entre progressistas e conservadores do que se podia ver nos outros foros da ANC.10 10 Os titulares conservadores, no interior da Comissão de Sistematização, contavam com 46 votos - eram necessários 47 para obtenção de maioria absoluta. 36 titulares seriam considerados progressistas, e 11, moderados (PILATTI, 2008, p. 168). O anteprojeto, o projeto e, especialmente, os substitutivos - foram dois - apresentados pelo relator-geral trariam uma série de propostas que despertariam grande irritação entre conservadores e o próprio governo: maior extensão dos direitos trabalhistas; restrição do poder das forças armadas e ampliação de anistia aos punidos pelo regime militar; forma de governo parlamentarista; possibilidade de desapropriação de propriedade rural para fins de reforma agrária em caso de descumprimento de sua função social; entre outras. Somando-se a isto as revisões procedimentais levadas a cabo tanto pela Mesa da ANC quanto pela Comissão de Sistematização - que não apenas obstaculizaram a reação conservadora às propostas em discussão, como também adiaram, e muito, os prazos previstos regimentalmente para a conclusão dos trabalhos da Comissão - as irritações conservadoras passariam a assumir a forma de mobilizações pela alteração do Regimento Interno da ANC como um meio de neutralizar os resultados até então alcançados e que os desagradavam (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 147-166, 192-194).
Em sua fala, Daso Coimbra (1987a, p. 3.120)COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 96ª Sessão, em 7 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 90, p. 3.120, 8 jul. 1987a. expressa esse descontentamento e apresenta também o que entenderia serem as bandeiras que verdadeiramente representariam os interesses do povo brasileiro - de forma alguma, a seu ver, expressadas no texto do anteprojeto de Bernardo Cabral: o presidencialismo, a democracia capitalista, o respeito à moralidade e aos costumes, a redução dos tributos, um Estado menos intervencionista, a garantia de liberdades responsáveis - sem discriminações, mas também sem permissividades. As minorias “dominadoras e opressoras”, contrárias a tudo isto, estariam a gerar e institucionalizar o caos. Contra elas, exigia-se um basta e uma resposta a ser oferecida pela maioria. Que esta fizesse isto antes que as minorias instalassem a desesperança de vez.
Seu pronunciamento, como vemos, sustenta um posicionamento político que evidencia um conjunto de medidas e diretrizes a respeito do papel das instituições públicas, do modelo econômico que considera adequado e do conjunto de valores que entende ser necessário ao regular funcionamento da sociedade brasileira. Com este artigo, procura-se entender a manifestação dessas posições, especialmente entre os atores evangélicos presentes na ANC. As anotações aqui registradas são parte de um esforço mais amplo de pesquisa que se dedica à investigação de um pensamento político11 11 Os resultados aqui apresentados baseiam-se em uma indagação: existe um pensamento político da “bancada evangélica”? A questão implica uma discussão sobre o que constitui o objeto dos estudos sobre o pensamento político e, especialmente, o pensamento político brasileiro. Não se pretende neste trabalho um extenso debate teórico-metodológico, mas podemos registrar algumas notas para reflexão. A primeira é considerar que o estudo do pensamento político deve ir além das “grandes obras”, legitimando outras fontes de expressão de um pensamento. A segunda é tratar com seriedade as manifestações destes parlamentares enquanto posições que disputam uma interpretação acerca do fazer político e seus objetivos, bem como uma narrativa sobre o que consideram relevante à compreensão do Brasil e das razões dos problemas enfrentados pelo país. Consideramos, portanto, ser possível entender os discursos desses parlamentares como expressões de um pensamento político, que tem sua importância revelada no conflito que estabelecem com outras ideias - quer dizer, enquanto concebidas como um “movimento na luta política dos partidos” (BIANCHI, 2014, p. 10-12). dos parlamentares evangélicos, tomando por matéria-prima uma numerosa documentação12 12 Para esta investigação foi montado um “banco de discursos” com todos os exemplares, em PDF, do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, em que há registros de falas de parlamentares evangélicos no Plenário da Assembleia Constituinte, num total de 270 edições. Também foram reunidas as 612 atas de todas as reuniões das comissões e subcomissões temáticas que ocorreram no interior da Constituinte, em 1987. A partir da organização desse “banco”, passamos a “varrê-los”, com o auxílio de um software de análise qualitativa de documentos - identificando, primeiramente, os pronunciamentos dos 33 parlamentares evangélicos e, em seguida, rastreando nos documentos palavras-chaves relacionadas a temas que constituíram debates políticos ocorridos na ANC. A partir da identificação dos discursos e das palavras-chaves, passamos a cruzar esses dados de modo a identificar, entre outras coisas, os debates mais frequentemente protagonizados por estes parlamentares, os diferentes níveis de engajamento destes constituintes nos enfrentamentos políticos da época e, especialmente, a caracterização das ideias, do pensamento político desses parlamentares. A contextualização política e histórica desses debates tem se realizado por meio de consulta à literatura acadêmica sobre o tema, bem como ao noticiário da época - em grande parte, recortes de jornal do período que se encontram disponíveis para acesso público no site do Senado Federal. referente aos discursos e debates protagonizados por esses atores na Câmara dos Deputados. Considerando serem as votações, os impactos eleitorais e a cultura política as preocupações mais frequentes registradas nos estudos sobre a relação entre os evangélicos e a política brasileira desenvolvidos nos últimos vinte anos,13 13 Por exemplo, Fernandes et al. (1998), Freston (2001), Fonseca (2002), Machado (2014), Burity e Machado (2006), Baptista (2009), Maia (2012), Vital e Lopes (2013), Lacerda (2017), entre outros. a investigação da qual faz parte o presente trabalho preocupa-se em identificar e reconstruir as bases ideológicas em que se apoiam os deputados federais ligados a esse segmento religioso e compreender, por meio da análise de seus pronunciamentos, as ideias e programas políticos que os incentivam, bem como os enfrentamentos políticos que promovem por meio da defesa de suas ideias.
Direita “envergonhada”
O que significa falar de conservadorismo e de direitas no contexto constituinte? Em princípio, pode-se afirmar que a autoidentificação conservadora ou de direita está longe de ser clara. Observando posições de lideranças religiosas fora do parlamento, podemos notar como estas reivindicam o conservadorismo como expressão de sua afirmação política (COWAN, 2014COWAN, Benjamin Arthur. “Nosso Terreno”: crise moral, política evangélica e a formação da ‘Nova Direita’ brasileira. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 30, n. 52, p. 101-125, jan./abr. 2014.; FONSECA, 2014FONSECA, André Dioney. Informação, política e fé: o jornal Mensageiro da Paz no contexto de redemocratização do Brasil (1980-1990). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 34, n. 68, p. 279-302, jul./dez. 2014.); de forma mais ampla, no entanto, registros e dados sobre identidades e discursos políticos no período que analisamos apontam a dificuldade de se identificar explicitamente os atores políticos que se afirmam como representantes do campo político conservador ou de direita.
O estudo de Leôncio Martins Rodrigues, por exemplo, ao abordar o tema das tendências políticas e ideológicas entre os constituintes, aponta um quadro de autodefinição em que apenas 6% dos deputados entrevistados identificam-se como de “direita moderada ou centro-direita”, e nenhum como “direita radical”. A maioria dos respondentes à pesquisa em questão teriam se classificado como de “centro” (37%) ou de “esquerda moderada ou centro-esquerda” (52%), ainda havendo uma pequena porcentagem de políticos autodefinidos como de “esquerda radical” (5%). Dados de outras pesquisas desenvolvidas à época, e citadas por Rodrigues a título de comparação, apontavam uma predominância de posicionamentos ideológicos ao centro e maior frequência de classificações à direita entre os parlamentares - mas com a diferença de que as definições políticas apresentadas por estas pesquisas eram realizadas pelos pesquisadores, e não pelos próprios deputados. Levada em consideração a opinião dos parlamentares, a inclinação política destes se deslocaria para a centro-esquerda, com as posições à direita quase desaparecidas. “A julgar pela autodefinição política dos deputados”, explica Rodrigues, “o Brasil seria um país sem direita” (RODRIGUES, 1987RODRIGUES, Leôncio Martins. Quem é quem na Constituinte: uma análise sócio-política dos partidos e deputados. São Paulo: Oesp-Maltese, 1987., p. 99).
Se há alguma conveniência político-eleitoral na recusa em classificar-se à direita no espectro político, é importante explicá-la no interior de uma conjuntura histórica. No caso brasileiro, o contexto constituinte sucede um período autoritário que encontrou, entre suas principais bases discursivas, a retórica anticomunista.14 14 Seja no episódio do golpe de 1964, ou naquele ocorrido em 1937 (que daria origem ao “Estado Novo”), o anticomunismo desempenharia papel decisivo como preparador e sustentador ideológico dessas intervenções autoritárias (MOTTA, 2000). A realização de fortes greves desde o final da década de 1970, a massividade dos comícios da campanha pelas eleições presidenciais diretas e o crescimento dos partidos de oposição nas eleições legislativas e para governadores de 1982 colocavam a Ditadura Militar sob pressão, apontando para seu declínio e a abertura do país para um novo período democrático (LINHA..., 2014LINHA DO TEMPO da resistência à ditadura militar no Brasil (1960-1985). Estudos Avançados, São Paulo, v. 28, n. 80, p. 153-184, 2014., p. 177-184). Em tal cenário, a constatação que se identificou na literatura a respeito do período é a de que a autoidentificação dos atores políticos a partir de rótulos conservadores e posicionados à direita do espectro político e ideológico era diminuta - tanto entre ocupantes de cargos representativos15 15 É ilustrativo que, apesar dos apontamentos de Leôncio Rodrigues sobre a baixa autoidentificação política à direita entre os parlamentares constituintes, parte expressiva destes tinha um histórico de atuação por legendas ligadas ao regime militar: 217 dos 559 constituintes da época passaram pela Aliança Renovadora Nacional (Arena). Especificamente no caso do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), dos 298 constituintes que integravam o partido em 1987, 40 pertenciam ao Partido Democrático Social (PDS) em 1983, e outros 42, à Arena, em 1979. O “velho regime” seguia presente na Nova República (SOUZA, 1988, p. 569-570). quanto entre cidadãos e eleitores comuns: uma “herança envenenada” deixada pelo regime militar às direitas brasileiras teria nos levado a testemunhar o surgimento de uma “direita envergonhada” em nosso país (PIERUCCI, 1987PIERUCCI, Antônio Flávio. As bases da nova direita. Novos Estudos, São Paulo, n. 19, p. 26-45, dez. 1987., p. 36-38).
Não se declarar de “direita” ou “conservador” não significa, de todo modo, que eleitores, militantes ou políticos de carreira deixassem de manifestar posições poliíticas afinadas com o que seria esperado a la destra do espectro político. Seus representantes estavam no jogo, mas encampando diferentes estratégias para seguirem próximos do poder. No contexto da ANC, o caso dos conservadores permite registrar esta percepção: os partidos políticos conservadores que elegeram deputados constituintes não apresentavam facções internas mais alinhadas ao “centro” ou à “centro-esquerda”; o PMDB, por outro lado, passara a incorporar, a partir de 1985, uma ala bastante expressiva de políticos conservadores, vários deles de origem arenista. Os resultados eleitorais dos partidos conservadores tendiam, assim, a subestimar o desempenho dos políticos conservadores: o Congresso Nacional passaria a contar mais com a presença de políticos conservadores do que de membros de partidos conservadores; com o passar do tempo, isto teria contribuído para que estes atores permanecessem integrados ao exercício do poder, não sendo desalojados de suas posições governamentais (MAINWARING; MENEGUELLO; POWER, 2000MAINWARING, Scott; MENEGUELLO, Rachel; POWER, Timothy Joseph. Partidos conservadores no Brasil contemporâneo: quais são, o que defendem, quais são suas bases. São Paulo: Paz e Terra, 2000. , p. 53).
O reconhecimento de que o conservadorismo seguia tendo papel relevante na conjuntura política nacional - e na ANC em particular - despertaria reações parlamentares voltadas a um combate aberto com seus representantes. Especialmente entre partidos como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), e também entre parlamentares do PMDB, o início das atividades constituintes trazia a necessidade de uma demarcação clara das fronteiras entre progressistas e conservadores - estes últimos não apenas identificados como um conjunto de representantes reunidos no Parlamento, mas também como um grupo com articulações junto ao Poder Executivo que buscava influenciar as atividades constituintes. O debate em torno da soberania da ANC, por exemplo, levou parlamentares de esquerda a uma disputa franca. As menções ao conservadorismo são recorrentemente críticas nas primeiras reuniões da Assembleia.16 16 Poderíamos citar, a título de exemplo, as intervenções dos constituintes Haroldo Lima (1987, p. 184), José Genoíno (1987, p. 223), Lídice da Mata (1987, p. 245), entre outros. Mas destacamos a fala de José Paulo Bisol (PMDB-RS), que situa o conservadorismo em termos de sua estratégia: “a tática dos conservadores é evitar a clareza, jamais pontuar as contradições. A sabedoria deles consiste em impedir o amadurecimento das oposições de princípios e posturas, porque é a contradição não amadurecida que gera a ambiguidade e é por detrás da ambiguidade que eles se tornam invisíveis no esforço que fazem para manter o status quo” (1987, p. 265). Reagindo a elas, os supostos representantes do conservadorismo dificilmente se identificam como tais: o baiano Jutahy Júnior (PMDB-BA) se esforçaria para demonstrar que os ditos conservadores não poderiam assim ser chamados, uma vez que estavam defendendo uma “nova Constituição”, com avanços nos campos social, econômico, fundiário etc. Não se trataria de conservadorismo, portanto, mas da manutenção de “um mínimo de coerência e lógica” diante da questão da soberania da ANC à luz do direito constitucional (JUTAHY JúNIOR, 1987JUTAHY JÚNIOR. Ata da 23ª Sessão, em 24 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 20, p. 544, 25 fev. 1987., p. 544); outro constituinte baiano, José Lourenço (PFL-BA), reforçaria a posição de equilíbrio e bom senso em torno do qual seu grupo político procurava se apresentar: a de uma defesa do centrismo, que seria expresso pela maioria da Nação, sem radicalismos à direita ou à esquerda (LOURENÇO, 1987LOURENÇO. José. Pronunciamento. Ata da 30ª Sessão, em 10 de março de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 25, p. 684, 11 mar. 1987., p. 684). Poucos parecem explicitamente rotular-se no campo da direita - como ocorre com o constituinte Amaral Netto (PDS-RJ), ainda que simplesmente para contrapor-se ao campo político que desprezava: “sou um homem que tem a coragem de dizer: sou de direita, porque sou contra a esquerda e não por ser de direita” (1987, p. 283)AMARAL NETTO. Pronunciamento. Ata da 12ª Sessão, em 13 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 11, p. 283, 14. fev. 1987..
Esse tipo de manifestação também é comum entre parlamentares evangélicos. A recusa do “rótulo” ideológico busca seu fundamento em uma pretensa defesa de interesses superiores a essas disputas de posições políticas. Demonstra-se uma preocupação com a democracia e a cidadania em sentido amplo, e com o indicativo de que estes conceitos poderiam padecer em caso de serem defendidos em conexão com um dos lados do espectro político. Assim o faz, por exemplo, Manoel Moreira (PMDB-SP):
Estou pouco preocupado se me rotulam, porque neste País as pessoas marcam os outros como se ferra gado: este é de esquerda, este é de direita, este é de centro, este é disso e daquilo. Isto é uma irresponsabilidade que não tem tamanho e só acontece porque não construímos de fato a cidadania neste País. Não estou, portanto, preocupado se sou de direita ou de esquerda. Sou um democrata e aqui vim para lutar realmente pelas causas que julgo que interessam à maioria do povo brasileiro (MOREIRA, 1987MOREIRA, Manoel. Pronunciamento. Ata da 46ª Sessão, em 7 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 41, p. 1.160-1.161, 8 abr. 1987., p. 1.161).
Antônio de Jesus (PMDB-GO), oportunamente, baseou-se em um registro bíblico - Isaías, 30:2117 17 Citação textual constante no discurso de Antônio de Jesus (1987a, p. 2.922 : “quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele”. - para defender uma postura cristã distante dos “extremismos”:
É evidente que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. E na retidão não há atalhos. Os desvios à esquerda ou à direita conduzem perigosamente ao retrocesso. Creio que a melhor alternativa para o Brasil é avançar com firmeza, segurança e equilíbrio, a fim de que o povo não seja lançado no precipício do radicalismo alienante (JESUS, 1987aJESUS, Antônio de. Pronunciamento. Ata da 90ª Sessão, em 25 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 84, p. 2.921-2.922, 26 jun. 1987a., p. 2.922).
Fausto Rocha (PFL-SP) também fazia questão de associar suas posições a uma orientação de centro: “centro quer dizer equilíbrio, centro quer dizer bom senso. A posição de centro foge dos extremos. Tanto foge do extremo de direita quanto foge do extremo de esquerda” (1987h, p. 5.898).
Apresentar-se como defensores de um centro político, de uma posição de “bom senso” e marcada pela negociação civilizada dos dilemas enfrentados na Constituinte é algo comum entre os parlamentares evangélicos eleitos para aquela legislatura - e esses registros corroboram, de certo modo, os resultados da pesquisa de autoidentificação ideológica realizada por Leôncio Martins Rodrigues. No caso dos evangélicos, 16 dos 33 deputados autodefiniram-se como de “centro” - além de outros 10 definirem-se de “centro-esquerda” e mais dois como de “esquerda moderada”.18 18 Vale observar que, com exceção do deputado Mário de Oliveira, autodefinido como de “centro-direita”, não há nenhum outro parlamentar evangélico que se classifique como tal ou com posições mais ainda à direita. Três não se autodefiniram - um deles, Matheus Iensen, afirmou que se definiria politicamente “apenas durante a Constituinte” (RODRIGUES, 1987, p. 338) - e o deputado Fausto Rocha definiu-se para a pesquisa de Rodrigues como um “liberal de centro” (PIERUCCI, 1996, p. 171; RODRIGUES, 1987, p. 296). Parafraseando Rodrigues, a julgar pela autodefinição política desses deputados, o Brasil seria um país sem evangélicos de direita.
Quando há uma autoidentificação conservadora, esta se dá fundamentalmente no campo da moral familiar. Ainda assim, entre os parlamentares evangélicos, os registros no Diário da Assembleia Nacional Constituinte são poucos. Em pronunciamento de novembro de 1987, Antônio de Jesus é sugestivo a respeito da diferenciação das esferas de mobilização da identidade conservadora. Ao defender a importância de que os constituintes atuem no sentido de proteger o núcleo familiar, o parlamentar reconhece:
quero ser conservador, para que a família possa prosperar; quero ser conservador de princípios que fundamentam o lar, onde existe o respeito, a harmonia e a proteção de Deus; quero ser conservador de princípios éticos e morais. Porém, quero ser promissor naquilo que for social, naquilo que for para o desenvolvimento de um povo; nisso, quero ser promissor (JESUS, 1987bJESUS, Antônio de. Pronunciamento. Comissão da Família, da Educação, Cultura, e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 7ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl. p. 253-254, 9 jul. 1987b., p. 5.722, grifo nosso).
“Promissor” não parece ser uma palavra usual em um debate sobre políticas econômicas e sociais. Contudo, considerando-se um parlamentar de “centro”, Antônio de Jesus se vale de uma retórica conveniente e que parece dispensá-lo de justificativas mais complexas sobre suas posições em temas relacionados à ordem econômica e às políticas sociais - sobre os quais, de fato, apresenta pouquíssimo engajamento -, delimitando o campo da disputa política em que pretende enveredar.19 19 Sobre a atuação parlamentar de Antônio de Jesus na ANC, ver Melo (2018).
Antiesquerdismo desavergonhado
Classificar a si mesmo como conservador ou de direita não é uma atitude das mais comuns entre os constituintes evangélicos, mas definir-se a partir de uma posição reativa às políticas que seriam consideradas de esquerda é algo certamente mais frequente. O posicionamento pessoal ao centro traz uma aparente conveniência: a alimentação de uma retórica “antiextremista” que permite escolher o lado da disputa para o qual se pretende dirigir as armas.
Daso Coimbra, por exemplo, é um forte crítico das alas progressistas e de suas ideias na ANC. Em seus discursos, especialmente aqueles que problematizam questões de fundo econômico, a crítica do protagonismo estatal é bastante marcante; e esta critica alinha-se com uma defesa da livre iniciativa que, a seu ver, contribuiria também para um maior espaço para o exercício da liberdade religiosa junto a diferentes esferas da vida social.
O parlamentar carioca graduou-se em geografia e história no Instituto Rio Branco e na Universidade do Brasil (atualmente Universidade Federal do Rio de Janeiro), e também formou-se em medicina pela Faculdade Fluminense de Medicina. Atuou como jornalista e professor antes de iniciar sua vida política em 1954, quando se candidatou a deputado da Assembleia Legislativa fluminense. Obtendo a suplência, foi convocado a assumir o mandato em 1955, mesmo momento em que iniciou um programa na Rádio Copacabana, no qual passou a divulgar seus feitos como parlamentar. Reelegeu-se em 1958 e, em 1962, obteve seu primeiro mandato como deputado federal; daí em diante, exerceria mandatos seguidos na Câmara dos Deputados, a maior parte deles filiado à Arena. Dizendo-se “um democrata de centro, contra os extremismos de direita e de esquerda”, Coimbra foi um dos fundadores do Grupo Parlamentar Cristão - bloco de parlamentares que reuniu, durante os anos da Ditadura Militar, deputados tanto evangélicos quanto católicos, apresentando algumas convergências políticas. Apesar de não atuarem de forma organizada no Congresso Nacional, o grupo não dispensou proximidade junto aos presidentes do período, oferecendo almoços e convites para encontros de oração por eles organizados.20 20 Arthur da Costa e Silva, por exemplo, foi recebido com um almoço pelo grupo, no Brasília Palace Hotel. O registro consta no artigo “O sermão do presidente”, publicado em fevereiro de 1968 em Ultimato (CRONOLOGIA..., 2008); Emílio Garrastazu Médici participou de um Encontro Nacional de Oração, organizado pelo mesmo grupo, em maio de 1972, conforme nota publicada na página 3 do Correio da Manhã, em 19 de maio de 1972; uma foto de uma reunião do Grupo Parlamentar Cristão com o presidente Ernesto Geisel, datada de setembro de 1975, consta no acervo digital do CPDOC; e, finalmente, João Figueiredo participou de um almoço com parlamentares do grupo, no clube do Congresso, cujo registro consta na página 3 do Jornal da República de 6 de dezembro de 1979. Ver também: Almeida (2016, p. 82); FGV (2009).
Ligado à Igreja Congregacional, Coimbra representava um tipo de político protestante que ainda baseava seu apoio em igrejas históricas e que dependia de um eleitorado interdenominacional. Sua base eleitoral foi formada fundamentalmente por meio de sua atividade radiofônica, penetrando especialmente entre presbiterianos e batistas e alcançando também eleitores entre fiéis congregacionais e ligados à Casa de Oração. O parlamentar sustentou, ainda, vínculos com grupos militares - sendo inclusive responsável por intermediar, com um irmão almirante, a indicação de evangélicos para a Escola Superior de Guerra - e o setor privado de saúde - seu pai fora diretor de um hospital evangélico (FRESTON, 1993FRESTON, Paul. Protestantismo e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993., p. 206).
Apesar de ter sido arenista durante a maior parte de sua trajetória parlamentar, Daso Coimbra passou por outras siglas: sua vida como deputado se iniciou no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), passando em seguida para o Partido Social Democrático (PSD) e, logo, à Arena. Com o fim do bipartidarismo, optou por filiar-se ao Partido Popular (PP); e, em 1982, com esta sigla sendo incorporada ao PMDB, passou a exercer sua atividade política vinculado a este partido, por meio do qual se candidatou e elegeu-se para a ANC. Era, portanto, um deputado peemedebista de histórico arenista; não menos engajado, contudo, na disputa dos sentidos políticos de sua legenda, uma vez que a ala progressista da Constituinte não se encontrava somente nos partidos explicitamente de esquerda, mas especialmente dentro do próprio PMDB. Aos progressistas de seu partido, por exemplo, referia-se como uma “pequena minoria” que estaria a frequentar mais o rádio e a televisão do que a própria Casa Legislativa, recusando-se a trabalhar em suas funções representativas: “a verdade é que alguns membros do PMDB querem fazer crer que a posição do partido é notadamente esquerdista, quando não é” defendia Coimbra (1987b, p. 3.372)COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 103ª Sessão, em 17 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 97, p. 3.372, 18 jul. 1987b..
Especialmente nos discursos que profere durante os meses em que a Comissão de Sistematização desenvolve seus trabalhos, Coimbra demonstra com frequência uma grande insatisfação com os rumos dados ao texto constitucional, preocupando-se com a presença na nova Carta de direitos e reconhecimentos a seu ver desnecessários e de preceitos que considerava incongruentes e díspares.21 21 Daso Coimbra pronuncia em 15 de julho de 1987: “Os sistemas se baseiam em situações e em princípios convergentes. Não se sistematiza aquilo que se opõe entre si mesmo. É possível sistematizar o socialismo, o comunismo, o capitalismo. É possível sistematizar a doutrina cristã. Mas sistematizar cristianismo com ateísmo é algo incompatível, como incompatível é sistematizar presidencialismo com parlamentarismo, capitalismo com comunismo, esquerda com direita, etc. No arremedo de Constituição que recebemos para emendar, tudo o que é dispare está presente. E como não se pode sistematizar disparidades, igualmente torna-se quase impossível emendar disparidades. [...] No modo como está, o projeto de Constituição é um monstro que a todos há de devorar, estabelecendo o caos, para depois desaparecer sozinho. E se alguém conseguir sobreviver, verá” (1987d, p. 3.308). Todas estas coisas, defende o parlamentar, trariam riscos de instabilidade ao Estado brasileiro, que se tornaria incapaz de cumprir as diversas promessas a serem relacionadas na futura Constituição. Era nessa reflexão sobre o que considerava serem os limites e contradições dos projetos apresentados pela Comissão de Sistematização que suas críticas à esquerda, no campo econômico e político, despontavam com mais força.
Esses elementos programáticos são esclarecidos especialmente em um pronunciamento feito em 28 de julho de 1987, no plenário da Câmara, em que diz querer identificar a linha e a diretriz de seu pensamento como constituinte. Criticando a ala dos progressistas, que estaria mais alinhada à defesa do parlamentarismo, defende a instituição do sistema de governo presidencialista, considerando haver aspectos relacionados às dimensões sociais e políticas de nosso país - a seu ver, gigantescas - que desaconselhariam a adoção do parlamentarismo; também dizia identificar uma preferência popular pelo presidencialismo: “desde há muito, [o povo] é em favor de eleição direta para o Presidente da República. É da índole do povo eleger os seus governantes”, afirmava o ex-arenista (COIMBRA, 1987cCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c., p. 3.683).
Da defesa do presidencialismo, Coimbra caminha para a crítica dos papéis sociais atribuídos ao Estado no anteprojeto de Bernardo Cabral - referindo-se especialmente às áreas de saúde e educação. Coimbra considera que, erroneamente, o projeto de Constituição que examinam proíbe tudo à iniciativa privada e tudo transfere à tutela do Estado, “como se este fosse suficientemente capaz para resolver todos os problemas do povo sem a ajuda da sociedade”. No caso da saúde, suas posições o orientam a uma crítica do estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na nova Carta. Essa crítica se baseia em dois problemas: a criação de uma hierarquia que centraliza o comando dos serviços de saúde sob o Estado brasileiro, submetendo permanentemente os estados e municípios a seu controle; e a exclusão da atividade médica particular paralela à do Estado, o que impediria que cada cidadão, individualmente, pudesse optar pelo serviço de sua preferência. A oferta de serviços de saúde por parte do poder público seria vergonhosa, o anedotário a esse respeito seria farto, a ineficiência da saúde prestada pela União seria uma clara constatação, e a própria noção de saúde como “direito de todos” seria questionável - “porventura a doença é uma ofensa ao direito? Quem responde por esta ofensa?”, questiona o deputado. Sua opinião é de que a proposta do SUS, nos termos em que se colocava, estatizaria a miséria, a doença, a morte prematura: “a enfermidade passa a ser um ‘bem estatizado’ e a ninguém mais será dado o direito de curar aos enfermos” (COIMBRA, 1987cCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c., p. 3.683).
Preocupação semelhante atravessa o tema da educação: “ao particular será impossível ministrar o ensino, pois tudo se direciona à ação do Estado, como se somente o Estado soubesse administrar e ministrar o ensino” (COIMBRA, 1987cCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c., p. 3.683). No conjunto desses argumentos, a preocupação mais expressa de Daso Coimbra é questionar o papel do Estado na regulação de aspectos da vida econômica e social, a partir do temor de que esta intervenção contínua limite a liberdade ao empreendimento privado. O alinhamento de sua visão é com uma suposta diretriz democrática. O medo da iniciativa privada é o prenúncio de uma política autoritária:
ora, Sr. Presidente, penso que, no tocante à educação e à saúde, o Projeto de Constituição não se direciona para um país democrata. O espírito ali contido, bem ao sabor de alguns que se intitulam progressistas, mais se adapta aos países dominados pela esquerda totalitária e ditatorial. Somente os países comunistas têm receio da ação da iniciativa privada (COIMBRA, 1987cCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c., p. 3.683).
O horror ao comunismo é um elemento em destaque no pensamento de Coimbra e que se relaciona diretamente com seu temor pela ampliação da atuação estatal no conjunto da vida política e social. Para ele, seu ideal é a adoção da democracia como um “sistema de vivência do povo e da nação” e a integração entre Estado e iniciativa privada no âmbito da economia, sem sobreposição do Estado sobre o empresariado. “Sou a favor da privatização das atividades nitidamente empresariais”, defende o parlamentar, “restando ao estado as atividades essenciais não possíveis à iniciativa privada, em razão dos interesses de Estado” (COIMBRA, 1987cCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c., p. 3.684).
A livre empresa e o direito de propriedade são valores inquestionáveis em seu pensamento. E estas reivindicações também são alinhadas com a defesa de liberdades civis e, mais especificamente, com a defesa da liberdade religiosa - neste caso, relacionada não apenas ao direito de expressão de uma crença, mas também, e especialmente, ao direito de atuação das entidades religiosas na oferta de serviços como saúde e educação. Não é à toa que Coimbra enfatiza seu receio sobre os limites que a nova Constituição poderia impor aos estabelecimentos de saúde e educação mantidos e dirigidos por entidades religiosas, à medida que se vissem obrigadas, como entidades privadas que seriam, às “diretrizes estatizantes” presentes no Projeto. A Carta em discussão, comportando estes e outros problemas relatados ao longo de seu discurso, precisava ser revista para não se desviar das “mais caras tradições” do país, nem anular seu passado “cristão e democrata” de modo a conduzir os brasileiros “aos extremos de um ateísmo que se sustenta em ideologias estratificadas”. Era necessário enfrentar as contradições e antagonismos que se escondiam nela, “sobretudo aquelas que conduzem o Estado a ser um semideus e faz de todos nós meros instrumentos da dominação estatizadora” (COIMBRA, 1987cCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c., p. 3.685).
Marca, portanto, no pensamento de Daso Coimbra, o forte apego ao valor e à eficiência do setor privado. No âmbito educacional, esse valor é tão importante que lhe permite, mesmo criticando ferrenhamente a presença do Estado na oferta de serviços educacionais, propor o envio de recursos públicos às próprias instituições privadas de ensino - por exemplo, por meio da oferta de bolsas de estudos para alunos interessados em estudar na rede particular. A defesa do ensino privatizado representa não apenas uma garantia de melhoria da educação no país, mas também uma defesa para o desenvolvimento livre da formação política, moral e religiosa dos estudantes:
A consciência cristã repele o ensino estatizado, pois este significa a cassação das liberdades e a opressão à consciência livre e libertadora. O ensino há de ser livre, se possível gratuito, pois o Estado pode gastar em suas escolas e pode direcionar os recursos para outros estabelecimentos, mediante o controle e a fiscalização de suas aplicações, mas sem controlar a formação política, moral e religiosa das gerações atuais e futuras. Só a concorrência entre a escola pública e a particular poderá melhorar a qualidade de ensino em nosso país (COIMBRA, 1987, p. 5.541).
Cumprindo papel semelhante em defesa de visões econômicas liberais, Fausto Rocha apresenta-se como um aguerrido defensor do livre mercado e um crítico feroz da esquerda e do comunismo. Os progressistas da Constituinte são alvos diretos de sua fala e vistos, tal qual se observa nas falas de Daso Coimbra, como agentes arbitrários e autoritários. É curioso que, na única fala em plenário que pronuncia ao longo do primeiro semestre de 1987, o deputado batista e eleito por São Paulo pela legenda do Partido da Frente Liberal (PFL) venha a apontar no PMDB uma história de posições aguerridas em defesa do Estado de Direito que estaria a se desvanecer em razão da atuação dos progressistas do partido - uma parcela da cúpula da legenda que estaria a “engodar a maioria do PMDB, consciente e consistentemente de centro” (ROCHA, 1987aROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 25ª Sessão Extraordinária em 25 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 21, p. 584-585, 26 fev. 1987a., p. 584-585, grifo nosso).
Rocha, que exercia seu primeiro mandato como deputado federal (FGV, 2009bFGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Fausto Auromir Lopes Rocha. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2009b. Disponível em: Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/fausto-auromir-lopes-rocha . Acesso em: 19 out. 2018.
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionari...
), filiara-se à Arena em 1977 e elegera-se pela primeira vez para um cargo representativo - de deputado estadual em São Paulo - em novembro de 1978. O fim do bipartidarismo levou-o ao PDS e, antes de se reeleger em 1982 à Assembleia Legislativa paulista, assumiu em 1981 o cargo de secretário estadual extraordinário da Desburocratização no governo de Paulo Maluf (1979-1982). Ainda antes de se dedicar à vida parlamentar, Fausto Rocha graduara-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (em 1965) e trabalhara como locutor oficial do Palácio dos Bandeirantes no governo de Paulo Egídio (1975-1979). Profissionalmente, apresentava-se como jornalista e proprietário de uma empresa de publicidade. Politicamente, afirmou-se à pesquisa de Leôncio Rodrigues como um “liberal de centro”; nos debates das comissões temáticas, disse ser um neoliberal (ROCHA, 1987gROCHA, Fausto. Pronunciamento. 7ª Reunião Ordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl., p. 272, 9 jul. 1987g., p. 272). Em certa ocasião, chegou a comentar sobre sua filiação ao pensamento de Hélio Beltrão (1916-1997), que fora Ministro de Estado do Planejamento, da Previdência Social e da Desburocratização, em diferentes governos do regime militar:
Como pupilo de Hélio Beltrão, liberal maravilhoso que foi o nosso Ministro da Desburocratização, e o pessoal lá em São Paulo, me chamava de Beltrãozinho numa missão tão grande, muito maior do que minha possibilidade, mas eu continuo realmente empolgado por aqueles princípios que Hélio Beltrão sempre defendeu (ROCHA, 1987eROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 14ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação realizada em 14 de maio de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 78, supl., p. 175, 17 jun. 1987e., p. 175).
No período dedicado às atividades das comissões e subcomissões temáticas, Rocha sempre ressaltou seu apego ao livre mercado, denunciando com frequência um suposto caráter estatizado da economia brasileira - o que lhe permitia, inclusive, considerações críticas sobre ações do próprio regime militar que teriam contrariado garantias à livre concorrência22 22 Em reunião da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, de 14 de maio de 1987, Rocha referiu-se criticamente a ações que teriam sido adotadas por governos militares que contrariavam seus princípios econômicos. Geisel, por exemplo, teria promovido uma “estatização forçada para pedir dinheiro lá fora [no exterior] sem bem saber para quem e para quê. Isto nos levou a dever muito dinheiro”. Chegara a falar, inclusive, em desvios de dinheiro, sumidos nos “desvãos da administração pública”. Também referiu-se a uma “atitude demagógica” de João Figueiredo, que teria estabelecido limites ao aumento de aluguéis de imóveis “para fazer média com a população” (ROCHA, 1987c, p. 175-176). e contribuído para esta condição que enxergava na economia nacional. Em termos de liberdades individuais, defendeu a liberdade de imprensa como “um dos postulados da liberdade e da democracia” (ROCHA, 1987cROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 3ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação realizada em 21 de abril de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 59, supl., p. 121, 14 maio 1987c., p. 121) e pregou contrariamente à aplicação de censuras a espetáculos teatrais e cinematográficos, postulando que os estabelecimentos informassem previamente os tipos de espetáculo e de conteúdo que exibiriam;23 23 Apesar dessa posição, Rocha alegou por vezes a existência de uma opinião, supostamente difundida na sociedade, destinada a legitimar mecanismos de censura a espetáculos artísticos. O parlamentar falava na existência de uma “maioria silenciosa ou conservadora” que ainda buscava resguardar seus filhos de influências consideradas nefastas (ROCHA, 1987d, p. 200, 1987e, p. 263). mas, apesar de se afirmar como defensor da autorregulação dos veículos de comunicação, a exemplo do rádio e televisão, defendeu a aplicação de mecanismos de censura pelo poder público de forma a evitar que programações com conteúdos que considerava atentatórios aos princípios da moral e da convivência social chegassem livremente às casas das famílias brasileiras. Mesmo reconhecendo que “o problema da censura é o problema do censor”, defendia que “algum controle, por mais falho que seja, deva haver para que no recesso dos nossos lares não sejamos agredidos por cenas que afrontam à ética, à moral e os bons costumes” (ROCHA, 1987fROCHA, Fausto. Pronunciamento. 5ª Reunião Ordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, realizada em 28 de maio de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 90, supl., p. 200, 8 jul. 1987f., p. 200).
Em relação à separação das responsabilidades entre os setores público e privado, o pensamento de Fausto Rocha reflete uma preocupação um pouco diferente daquela sustentada por Daso Coimbra e outros parlamentares evangélicos que, ao defenderem o direito ao ensino privado (inclusive religioso) e a permissão para sua existência no país, abriam a possibilidade para que as instituições particulares fossem financiadas com dinheiro público.24 24 Defenderam posições nesse sentido os deputados Antônio de Jesus (PMDB-GO) e Nelson Aguiar (PMDB-ES) (JESUS, 1987b, p. 253; AGUIAR, 1987, p. 254). Reivindicando a separação entre Igreja e Estado como um valor caro aos cristãos evangélicos, Rocha afirmava que tal dissociação deveria ser aplicada também à destinação dos recursos públicos. Especialmente no caso das entidades religiosas de ensino, alegava o deputado, a evidência de que muitas delas se sustentavam quase totalmente com verba governamental depunha “contra a isonomia, contra um conceito de separação entre Igreja e Estado, que os evangélicos como um todo, têm defendido e, creio eu, a maioria dos cristãos, incluindo os católicos” (ROCHA, 1987gROCHA, Fausto. Pronunciamento. 7ª Reunião Ordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl., p. 272, 9 jul. 1987g., p. 253). A dissociação entre Estado e religião também é reforçada em momentos como o da discussão sobre os conceitos de casamento e de família a serem aplicados à Constituição, como se pode ler na passagem a seguir:
Como evangélico, eu defendo a separação entre Igreja e Estado, e entendo que, por mais lógicas, compreensíveis e dignas de serem seguidas as ponderações e as colocações da Bíblia, elas servirão sempre para aqueles que as acatam, aqueles que acreditam em Deus, e, como nós estamos aqui preparando uma legislação para um País como um todo, que contém, embora uma maioria cristã, mas como outros segmentos devem naturalmente se submeter à Constituição, ela deve então ter uma outra abrangência superior até àquela dos fundamentos bíblicos que nos animam, mais do que a outras, no nosso entendimento, na busca do bem comum (ROCHA, 1987dROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 8ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, realizada em 28 de abril de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 63, supl., p. 199, 21 maio 1987d., p. 199, grifo nosso).
Esse último comentário merece atenção. Especialmente nos debates das comissões e subcomissões temáticas, o parlamentar paulista sugere a ocorrência de preocupações morais importantes a serem consideradas pelos legisladores - preocupações estas diagnosticadas a partir da ótica religiosa que professa -, mas que não o inclinam, contudo, a uma defesa da relação entre o Estado e a religião, reivindicando os argumentos de uma tradição protestante que, historicamente, argumentara pela separação dessas instituições, em conexão com a defesa da liberdade de crença como um direito fundamental.25 25 Segundo Robinson Cavalcanti (2009, p. 193), com os sinais de uma aproximação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, nos anos da República Velha, a maior preocupação política dos protestantes brasileiros à época seria o cumprimento da lei que assegurava a liberdade de culto. Sobre os posicionamentos editorais de jornais protestantes no período acerca do tema, ver Souza (2005, p. 63-65). No comentário citado logo acima, essa separação reflete uma interpretação sobre os fundamentos da nova legislação que, sob seu olhar, poderiam ser definidas como necessariamente mais abrangentes do que aquelas circunscritas aos fundamentos bíblicos. Todavia, um pronunciamento futuro do parlamentar colocará essa tese sob suspeição.
Seguimos para o dia 27 de janeiro de 1988, quando Fausto Rocha sobe à tribuna do Plenário da ANC. Sua fala é uma reação ao pronunciamento do deputado comunista Haroldo Lima (PCdoB-BA), que havia criticado, minutos antes, uma proposta de inserção da invocação a Deus no preâmbulo da Constituição. Se, nos debates das comissões e subcomissões, o deputado de origem batista manifesta-se em defesa de princípios mais amplos e que tornem clara a independência da Igreja em relação ao Estado, inclusive em termos financeiros; meses depois o veremos defender energicamente que a invocação a Deus estivesse registrada na nova Carta Magna, respaldando seu argumento na necessidade de uma renovação moral e comportamental possível fundamentalmente a partir do reconhecimento da presença de Deus antes e acima de qualquer lei. Em maio de 1987, Rocha afirmava que, embora o Brasil tivesse uma população majoritariamente cristã, a lei deveria ter maior abrangência em relação a seus fundamentos - indo além dos fundamentos bíblicos, inclusive - de modo a permitir a “busca do bem comum”; em janeiro de 1988, o parlamentar parece adotar posição mais impositiva ao alegar que, se outros países colocavam em suas constituições - e até em suas moedas - o respeito, a admiração e a aceitação do senhorio de um Deus cristão, ao Brasil se atribuía o direito de, “como a maior Nação cristã do mundo - evangélicos, católicos, diversas denominações - ter a honra, o orgulho e o privilégio, como maioria, de ver cumprida essa nossa aspiração”. Aos não cristãos caberia respeitar o fato de a maioria desejar consignar a expressão “sob a proteção de Deus” no Preâmbulo da Constituição (ROCHA, 1988ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 188ª Sessão, em 27 de janeiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 172, p. 6.634, 28 jan. 1988., p. 6.634).
Mas essa fala nos interessa por razões não apenas relacionadas à relação entre o terreno e o espiritual, entre o político e o religioso. Ela também é relevante para compreendermos o sentido das ideias de um parlamentar que, habitualmente, insistia na classificação de suas posições ao centro do espectro político. Mais do que uma fala sobre os fundamentos religiosos de sua atuação política, o pronunciamento de Fausto Rocha é um registro de posições incisivamente anticomunistas.
Afirmando ter sido escolhido tanto pela bancada do PFL - que dizia ser “um partido do centro, equilibrado” - quanto em nome do Bloco Parlamentar Evangélico, Rocha iniciou sua resposta a Haroldo Lima imputando-lhe um “tom de guerra” e argumentando que as declarações do parlamentar comunista evidenciavam como a palavra de Deus era considerada uma afronta pelo Partido Comunista do Brasil e pelos “partidos totalitários de esquerda”. Estes, que defendiam o “regime totalitário”, a “estatização total”, que desejavam “transformar o País numa repartição pública do tamanho do Brasil”, eram também os que não aceitavam a ideia de que Deus pudesse existir e ser respeitado. “Parece que a palavra de Deus provoca uma ojeriza incontrolável aos radicais do socialismo e do comunismo”, afirmava o deputado batista (ROCHA, 1988ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 188ª Sessão, em 27 de janeiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 172, p. 6.634, 28 jan. 1988., p. 6.634).
Além do asco à imagem de Deus, Rocha acusava os comunistas de serem contrários a quatro tipos de liberdades que definia como fundamentais: a liberdade de culto, de expressão e imprensa, a liberdade sindical, e a partidária. Segundo o parlamentar, os comunistas eram contrários a estas liberdades, mas se valiam delas para depois desvirtuá-las e reforçarem seu poder autoritário - usando instituições como a Igreja, a imprensa, os sindicatos e os partidos políticos para, oportunamente, as fechar e as extinguir (ROCHA, 1988ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 188ª Sessão, em 27 de janeiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 172, p. 6.634, 28 jan. 1988., p. 6.634). Havia, no entanto, a possibilidade de reformulação desse pensamento - pois Cristo, afinal, havia dado sua vida por isto: para que também “comunistas, ateus, agnósticos”, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente salvador, tivessem suas vidas regeneradas, alimentando o amor ao próximo e defendendo “todas as liberdades”, inclusive as que citara em seu pronunciamento.
A noção de liberdade presente no discurso de Fausto Rocha traz um conteúdo relacionado ao campo dos direitos civis e individuais, especialmente vinculados ao direito de expressão de ideias e crenças; e ao direito de organização e participação política. Mas há também outro sentido atribuído ao conceito de liberdade que é caro ao pensamento formulado por Rocha: o de viés econômico e empreendedor, direcionado à diminuição do papel do Estado na economia. Nesse pronunciamento, Rocha o expressa ao relacioná-lo como par ao conceito de justiça social. Os cristãos, afirma, desejam “justiça social com liberdade, e isso é possível”.
Exemplo? A Inglaterra governada por Margareth Thatcher:
Na Inglaterra, de Margareth Thatcher, a presença do Estado na economia foi diminuída e assim diminuíram os impostos, a economia se expandiu, a inflação diminuiu, os trabalhadores cresceram em seus direitos e seus ganhos reais. E tudo isso em liberdade. Esse é o verdadeiro modelo progressista (ROCHA, 1988ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 188ª Sessão, em 27 de janeiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 172, p. 6.634, 28 jan. 1988., p. 6.634).
Para Fausto Rocha, sendo o modelo econômico reproduzido na Inglaterra o exemplo mais visível da articulação entre justiça social e liberdade, as ideias dos socialistas e comunistas brasileiros estariam, por outro lado, a reproduzir uma mentalidade atrasada e já superada pelos países que haviam atravessado a experiência socialista. Em sua fala, há uma menção singela ao “radicalismo de direita”, mas suficiente na construção de seu argumento: se o país estava, naquele momento, vivendo a plenitude do Estado de direito e superando o “radicalismo de direita”, não havia lógica em ver o país caminhar para o “radicalismo de esquerda”, pois todo radicalismo seria igualmente nefasto.
Finalmente, o pronunciamento de Fausto Rocha mobiliza interpretações da Bíblia no sentido de contrariar analogias políticas e possíveis críticas à organização social e econômica capitalista que buscassem seus fundamentos nos escritos bíblicos. O parlamentar parece querer se precaver de possíveis respostas à articulação que constrói entre seus princípios de fé e a defesa de suas visões políticas e economicamente liberais. Aos que procurassem semelhanças entre cristianismo e comunismo, afirmava que ninguém poderia usar o nome de Cristo em vão para tentar estabelecer um regime político - especialmente um regime que suprimisse liberdades, inclusive as de culto, como era de se esperar de um governo comunista. Se os cristãos primitivos vendiam suas propriedades para ajudar os irmãos de sua comunidade, “faziam-no voluntariamente e não por imposição governamental, o que retiraria todo o mérito da decisão pessoal”; Deus condenara a riqueza? Nunca!, mas, sim, “o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males”. Leis justas eram tão importantes como o desejo de cumpri-las; mas o que necessitávamos verdadeiramente, mais do que um questionamento sobre o tipo de sociedade e de regime político vigente, era de uma renovação moral e comportamental que nos levasse à extinção da corrupção - esta, sim, a devastadora de todos os regimes, “mormente os estatizados e totalitários, pois, ‘se o poder corrompe, o poder total corrompe totalmente’, ainda mais sem a vigilância de uma imprensa livre”. Para tal renovação moral, conclui Rocha, era preciso embasamento espiritual: “daí a necessidade fundamental de Deus antes e acima de qualquer lei. [...] Meu desejo é que seja feliz esta Nação, tendo a Deus como Senhor” (ROCHA, 1988ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 188ª Sessão, em 27 de janeiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 172, p. 6.634, 28 jan. 1988., p. 6.634).
As ideias e valores defendidos por Daso Coimbra e Fausto Rocha, apesar de pontuais divergências, apresentam um lastro comum: a crítica à tese da intervenção estatal na economia e, de forma mais abrangente, na oferta de direitos sociais como educação e saúde; o incentivo à atividade empresarial e à livre concorrência; e a defesa de direitos individuais, notadamente aqueles relacionados à liberdade de crença e religião, com destaque especial ao reconhecimento das contribuições do cristianismo e de seus valores para a história e a cultura brasileiras - valores estes que não seriam simplesmente reconhecidos como constitutivos da formação de nosso povo, mas também diretamente aliados à defesa dos pressupostos econômicos e políticos de matriz liberal (ou neoliberal, como reivindicado por Fausto Rocha). Para esses constituintes, a atribuição de papéis mais proeminentes ao Estado no campo da política, do direito e da economia traria necessariamente um conjunto de ameaças às diferentes formas de liberdade, especialmente àquelas relacionadas à religião; tal crítica à ampliação da atividade estatal no conjunto da economia e da política também era traduzida frequentemente em crítica das ideias comunistas e de esquerda, tidas como radicais, totalitárias, ameaçadoras à ordem democrática e, especialmente, contrárias ao “bom senso” e ao “equilíbrio” - termos estes sempre representativos de um pensamento liberal e autodenominado de centro que estaria a fundamentar os discursos desses parlamentares.
Para os fins a que este artigo se propõe, a importância em se conhecer as ideias de Daso Coimbra e Fausto Rocha é manifesta em razão de suas posições políticas, mas também pela proeminência que assumem, no conjunto dos parlamentares evangélicos, em episódios relevantes do processo constituinte. Além de se colocarem, desde o início das atividades da ANC, como articuladores de um “Bloco Parlamentar Evangélico”26 26 Segundo Pierucci (1996, p. 182-184), a segunda reunião do bloco, em janeiro de 1987, ocorreu na casa de Daso Coimbra, em Brasília. O próprio deputado conduzira a reunião, na qualidade de “o mais antigo” parlamentar evangélico daquela legislatura. Tanto Coimbra quanto Fausto Rocha defendiam que o bloco deveria agir prioritariamente em torno de questões morais (POSIÇÕES... , 1987, p. 4). e de uma estratégia conjunta de atuação dos constituintes evangélicos perante o Parlamento e a opinião pública, os dois deputados também cumpriram papéis importantes no que se refere à formação do Centrão e à reforma do Regimento Interno da ANC.
Os evangélicos e o Centrão
O Centrão apresentou-se durante a ANC como uma reação organizada de parlamentares ao resultado das discussões e deliberações da Comissão de Sistematização. Em 24 de novembro de 1987, a comissão encaminhou à Mesa da ANC o Projeto de Constituição “A”.27 27 O Projeto “A” foi o primeiro elaborado por Bernardo Cabral com a contribuição dos textos aprovados pelas comissões temáticas. Após emendas apresentadas pelo Plenário da ANC, o relator-geral apresentou o primeiro substitutivo, que ficou conhecido como “Cabral I”; com mais uma rodada de proposição de emendas, negociações e pressões de grupos organizados, um novo substitutivo, o “Cabral II”, não previsto regimentalmente, foi redigido. O “Cabral II” teria sido o substitutivo mais próximo de conciliar as demandas das forças conservadoras e progressistas, bem como as demandas do presidente Sarney. Porém, a Comissão de Sistematização, em votação definitiva ocorrida em novembro, rejeitaria o “Cabral II”, optando pela aprovação do Projeto “A”. Esse resultado já era antecipado pelas alas mais conservadoras, o que os levou a adiantarem-se na articulação política pela mudança do Regimento Interno (FREITAS; MOURA; MEDEIROS, 2009, p. 16). Como comentado anteriormente, uma série de medidas avessas aos interesses dos parlamentares mais conservadores e do próprio governo federal eram contempladas nos documentos produzidos pela Comissão. O projeto apresentado em novembro, para além das medidas que trazia no âmbito dos direitos trabalhistas e outras mais afinadas com o pensamento dos parlamentares progressistas no campo agrário, militar, da ciência, tecnologia e comunicação etc., também apresentava duas decisões importantes: a adoção do parlamentarismo como sistema de governo, e a previsão de quatro anos para o mandato de José Sarney (FREITAS; MOURA; MEDEIROS, 2009FREITAS, Rafael; MOURA, Samuel; MEDEIROS, Danilo. Procurando o Centrão: direita e esquerda na Assembléia Nacional Constituinte 1987-88. In: CARVALHO, Maria Alice Rezende de; ARAÚJO, Cícero; SIMÕES, Júlio Assis (Org.). A Constituição de 1988: passado e futuro. São Paulo: Anpocs; Hucitec, 2009. p. 101-135. , p. 18).
Essas duas decisões, mais especificamente, teriam contribuído para que a insatisfação crescente dos conservadores e do governo com os rumos da ANC assumisse formas mais concretas, que se deram com a proposta de reforma do Regimento Interno apresentada pelo Centrão. Os poderes da Comissão de Sistematização estiveram sob questionamento constante, e o inconformismo dos parlamentares conservadores com a situação regimental que se apresentava - impondo-lhes a impossibilidade de apresentação de novas emendas ao texto aprovado na Comissão de Sistematização, bem como a necessidade de uma maioria qualificada de 280 votos para promover alterações desse mesmo texto -, levou-os a uma disputa pela alteração dessas exigências, de modo a atribuir maior poder ao Plenário sobre o novo texto constitucional. Argumentos contra a suposta “tirania dos líderes” e da Comissão de Sistematização, o caráter presumidamente antidemocrático dos procedimentos previstos na primeira versão do Regimento Interno e a “marginalização” dos constituintes no processo de elaboração da Constituição, fizeram-se presentes junto a outros dois argumentos importantes no âmbito das disputas ideológicas em voga: a do enviesamento de esquerda da composição da Comissão de Sistematização levada a cabo pela liderança do PMDB, e a ilegitimidade das decisões “de esquerda” tomadas no âmbito da comissão e que, em face de uma maioria “moderada” da Constituinte, justificava a necessidade de restabelecimento da soberania do Plenário (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 198-204).
Segundo informações do Jornal do Brasil de 5 de novembro de 1987 (COMO..., 1987COMO o grupo ganhou força. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 4, 5 nov. 1987., p. 4), o Centrão contava com 18 coordenadores, responsáveis por angariar votos para o projeto de reforma do Regimento Interno, entre eles, dois evangélicos: Daso Coimbra e o batista Eraldo Tinoco (PFL-BA). Pela pesquisa em fontes jornalísticas, pode-se dizer que o parlamentar pelo Estado da Bahia teve atuação importante no âmbito dos bastidores, construindo articulações e textos de consenso que viriam a ser apresentados como emendas do Centrão ao texto constitucional em discussão. O Correio Braziliense, por exemplo, registrou que Eraldo Tinoco e os deputados José Lins (PFL-CE) e Bonifácio de Andrada (PDS-MG) estariam, às vésperas da votação pela alteração do Regimento Interno, redigindo emendas que objetivavam, entre outras coisas: acabar com a estabilidade no emprego e com o pagamento dobrado de horas extras, além de outras medidas trabalhistas presentes no texto encaminhado pela Comissão de Sistematização; e também encerrar o “caráter estatizante” do documento, especialmente em relação ao tratamento dado a temas como saúde, educação, o impedimento ao ingresso de capital estrangeiro para programas de desenvolvimento e o monopólio estatal na distribuição de derivados de petróleo (CENTRÃO..., 1987“CENTRÃO” pronto para decolagem. Correio Braziliense, Brasília, p. 5, 23 nov. 1987., p. 5). Não constam, contudo, pronunciamentos de Eraldo Tinoco no Plenário, no período em que se sucedem os debates e votações em torno da alteração do Regimento Interno.
Daso Coimbra, contribuindo com a articulação do Centrão, cumpriu outro papel relevante para o grupo: foi ele, justamente, o responsável por subir à tribuna para apresentar o Projeto de Resolução nº 20/87 (PR-20) que previa a alteração do Regimento Interno. O ato foi acompanhado da leitura de um “Manifesto à Nação”, em sessão extraordinária ocorrida em 10 de novembro de 1987. Sustentado na ideia de um país que almejava desenvolver-se com base na livre iniciativa e na igualdade de oportunidades, o “Manifesto” afirmava a necessidade de uma ação da maioria dos constituintes que representavam, efetivamente, “o espírito e o retrato da sociedade moderada” que a elegera, e de resgatar “compromissos de bom senso e de coerência” assumidos com a sociedade, despreocupando-se de “rótulos”. Disto, segue-se:
É necessário prover o País de um texto constitucional claro e flexível que reduza os tentáculos do Estado, crie abertura para maior participação de todos na gerência dos negócios públicos, enseje meios de ampliação das oportunidades de bem-estar social, através da liberdade de empreender pessoalmente e de investir empresarialmente, gerando frutos para os trabalhadores brasileiros, bem como para toda a nossa população. Assim, visando tranquilizar a Nação, a maioria absoluta dos Constituintes, (palmas) independentemente de siglas partidárias, de afirmações ideológicas, regionais ou pessoais, sem compromisso coletivo com sistema de governo ou vinculação com qualquer grupo ou instituição externa ao Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, e sem pretender a substituição global do projeto, ora em votação na Comissão de Sistematização, propõe, como meio de realizar seus propósitos, a reforma do Regimento Interno, única maneira de fazer respeitar e cumprir o mandato que o povo lhe confiou. Compromete-se, portanto, a maioria, entre si e perante este povo, a envidar seus esforços com diligência incansável, para dotar o País de uma Constituição digna da sua grandeza histórica (COIMBRA, 1987fCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 163ª Sessão, Extraordinária, noturna, em 10 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 148, p. 5697-5698, 11 nov. 1987f., p. 5.697-5.698, grifo nosso).
Em sua justificação, o projeto de resolução apresentado por Coimbra insistia no reconhecimento do interesse da “maioria absoluta dos representantes do povo” para com a escrita do texto constitucional e que as mudanças propostas permitiriam o exame de modificações redacionais que poderiam revigorar “o princípio universal da soberania do Plenário”. Além disso, queria garantir entendimento em torno de emendas acolhidas pela maioria dos Constituintes, retirando a “prevalência descabida oferecida ao Relator e à Comissão de Sistematização” quanto à redação do texto constitucional (COIMBRA, 1987fCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 163ª Sessão, Extraordinária, noturna, em 10 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 148, p. 5697-5698, 11 nov. 1987f., p. 5.698).
O Projeto de Resolução do Centrão recebeu o apoio de 319 constituintes, dos quais 25 eram evangélicos.28 28 Assinaram o documento, conforme registrado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte (1987a, p. 5.698-5.699), os deputados: Antonio de Jesus, Arolde de Oliveira, Costa Ferreira, Daso Coimbra, Eliel Rodrigues, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Eunice Michiles, Fausto Rocha, Gidel Dantas, Jayme Paliarin, João de Deus Antunes, José Fernandes, José Viana, Manoel Moreira, Mário de Oliveira, Matheus Iensen, Milton Barbosa, Naphtali Alves de Sousa, Orlando Pacheco, Roberto Augusto, Roberto Vital, Rubem Branquinho, Salatiel Carvalho e Sotero Cunha. Apenas três deles, porém, engajaram-se nos debates que culminariam na alteração do Regimento Interno: Daso Coimbra, Fausto Rocha e, em menor medida, Arolde de Oliveira (PFL-RJ). Na sessão de 13 de novembro de 1987, após apresentação de parecer e substitutivo ao Projeto de Resolução do Centrão por parte da Mesa,29 29 Entre as alterações propostas pelo substitutivo da Mesa, o texto buscava restabelecer a competência da Comissão de Sistematização para organizar a matéria aprovada na votação de cada turno (DIÁRIO..., 1987b, p. 5.736-5.737; PILATTI, 2008, p. 207). Daso Coimbra busca reiterar a tese de que as mudanças regimentais pleiteadas são um caminho para a efetiva representação proporcional do pensamento dos partidos presentes na ANC. A constituição da Comissão de Sistematização não teria obedecido a essa proporcionalidade, logo, havia uma distorção de representatividade do pensamento médio da Casa, que precisava ser corrigida (COIMBRA, 1987gCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 164ª Sessão Extraordinária, noturna, em 13 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 149, p. 5-747-5.748, 14 nov. 1987g., p. 5.748). Posteriormente, na sessão de 2 de dezembro do mesmo ano, Coimbra defenderia o Centrão como um “movimento participativo”, envolvendo pessoas que teriam sido “marginalizadas”, impedidas de votar “durante meses” e ansiosas de participarem do processo político em questão. A preocupação não era nada mais do que a correção de alguns pontos que teriam sido “deturpados na vontade média do povo brasileiro”; o objetivo era o “bem da Pátria” (COIMBRA, 1987hCOIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 169ª Sessão, em 2 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 154, p. 5.929, 3 dez. 1987h., p. 5.929).
Fausto Rocha, por sua vez, defendeu a pertinência da proposta do Centrão insistindo em sua crítica às posições da esquerda e apresentando o Centrão como sinônimo do equilíbrio, do bom senso e, especialmente, de defesa da liberdade de iniciativa, contra perspectivas estatizantes que estariam a se consolidar com uma posição “extremada de esquerda” no conjunto da Comissão de Sistematização. Também na sessão de 2 de dezembro, o pefelista chegou a argumentar que os parlamentares do Centrão teriam sido “iludidos” em sua boa fé quando da aprovação do Regimento Interno em março daquele ano, e que teriam logo percebido a ação de uma “minoria atuante, ativista”, que “distorcia deliberadamente a vontade da maioria”, bem como que os relatores das comissões e subcomissões, “radicais de esquerda”, teriam “olimpicamente desconhecido” as posições votadas pelos demais parlamentares ao elaborarem seus relatórios, resultando em uma “representatividade novamente distorcida” na composição da Comissão de Sistematização: não seria esta a “vontade majoritária do Plenário que se expressa através do Centrão” (ROCHA, 1987hROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 168ª Sessão Extraordinária, Matutina, em 26 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 153, p. 5.898, 27 nov. 1987h., p. 5.922).30 30 A título de curiosidade, a “denúncia” presente no pronunciamento de Fausto Rocha, especialmente no que tange à distorção inclinada a um pensamento “radical de esquerda”, é problematizada em fala imediatamente anterior, pronunciada pelo constituinte Paulo Ramos (PMDB-RJ). Entre outras coisas, ele afirma: “chegamos, agora, depois de muito sacrifício, à Assembleia Nacional Constituinte, e como num passe de mágica, outro milagre já se delineia. Esse milagre consiste em fazer constar da vida nacional somente algumas correntes políticas: a extrema-esquerda, a esquerda e a centro-esquerda. De repente, não existe mais no País, por força de um milagre, a extrema-direita, não existe a direita e, sequer, a centro-direita. [...] Todas estas correntes de opiniões, como num passe de mágica, se transformaram num Centrão, que já começa a ser identificado pela sociedade brasileira, em função dos esforços que desenvolve, já começa a ser identificado como um milagre contra o povo brasileiro. O povo, hoje, está atento” (RAMOS, 1987, p. 5.922).
O prolongamento dos debates e das votações tornavam os ânimos cada vez mais acirrados, e os parlamentares mais à esquerda, apesar de conseguirem retardar a aprovação do Projeto de Resolução do Centrão, seguiam com dificuldades para enfrentar as articulações do grupo. Mas, em 3 de dezembro, o Centrão consegue uma vitória importante: um novo substitutivo por parte da Mesa, o PR-21, que se aproxima bastante de suas aspirações; o grupo passa, então, a atuar pela aprovação do novo substitutivo. Os partidos de esquerda seguem opondo-se à aprovação do documento, enquanto a ala progressista do PMDB se enfraquece diante da orientação da liderança da legenda pela aprovação do PR-21. Em 9 de dezembro, um substitutivo da esquerda é derrotado em votação acachapante. Outras derrotas se seguem naquela sessão que resultaria, em definitivo, na aprovação do PR-21, que levaria à alteração do Regimento Interno.
Naquele dia, Fausto Rocha também sobe à tribuna. Ressaltando o propósito do Parlamento para, investidos como representantes do povo brasileiro, dialogarem e decidirem as questões relevantes por meio do voto, Rocha enuncia sua preocupação com os “atos de beligerância, de provocação, de desrespeito a esta Casa” supostamente promovidos por “profissionais da baderna” e “da greve” no recinto da Câmara. Mostrava-se indignado com o desrespeito que grupos estariam dirigindo aos constituintes, especialmente contra os parlamentares do Centrão, a “maioria absoluta desta Casa”, em razão das decisões tomadas naqueles dias. A preservação da ordem surgia em seu discurso e também no de outros parlamentares do bloco.31 31 A preocupação com a segurança das atividades legislativas foi apresentada por membros do Centrão em reunião com o deputado Ulysses Guimarães, em 8 de dezembro, ao lhe entregarem uma carta em que revelavam “disposição de não comparecer a votação de hoje [9 de dezembro], caso não haja garantia ao livre funcionamento da Casa, ‘ameaçada por grupos organizados que não desejam permitir a votação livre e soberana da nova Constituição da República’”. Após este encontro, o Centrão soltou nota em que repudiavam “a insólita agressão perpetrada contra a Constituinte e as criminosas ameaças da CUT e Conclat, enquanto aguarda enérgicas providências do presidente Ulysses Guimarães, inclusive promovendo a responsabilidade dos autores das agressões” (SEM… 1987, p. 4). Entre eles já havia quem falasse em uso de violência física, se necessário,32 32 Trata-se do constituinte Amaral Netto, segundo o noticiado na Gazeta Mercantil de 3 de dezembro de 1987, p. 6: “um dos mais exaltados, o líder do PDS, Amaral Neto, convocava o ‘Centrão’ para estar em plenário hoje a partir das 9,30 horas, ‘dispostos até à violência física se for necessário’. Foi aplaudido”. para garantir as votações pleiteadas pelo Centrão. Com os ânimos exaltados, alguns deles chegaram às “vias de fato” no interior do Plenário.33 33 “A sessão [de 3 de dezembro], agitada desde a abertura, às 10h, durava exatamente uma hora quando o deputado Gilson Machado (PFL-PE), do Centrão, acertou com um soco o olho do deputado Juarez Antunes (PDT-RJ). A confusão começara porque o pedetista quis usar o microfone à direita do plenário, onde tradicionalmente ficam os direitistas, e o parlamentar do PFL tentou impedi-lo. Roberto Jefferson (PTB-RJ) empurrou Antunes, que respondeu com um pontapé, mas acabou acertando seu líder Brandão Monteiro (PDT-RJ). Mesmo assim, Machado sentiu-se atingido e desferiu o soco. Muito nervoso, o presidente da sessão, deputado Jorge Arbage (PDS-PA), interrompeu os trabalhos” (DEPUTADO… 1987, p. 2). O batista Arolde de Oliveira chegara a comparar as manifestações de sindicatos e outros movimentos, na ocasião, “às táticas do anarquismo mais puro, até a mescla com a guerrilha” (1987a, p. 6.003OLIVEIRA, Arolde de. Pronunciamento. Ata da 170ª Sessão Extraordinária, matutina, em 3 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 155, p. 6.003, 4 dez. 1987a.).
E, no entanto, com seu oposicionismo antiesquerdista, Fausto Rocha seguia reivindicando para seu grupo e sua legenda a identificação com o equilíbrio e a moderação:
as lideranças de esquerda, mormente a esquerda radical, já se haviam pronunciado por ocasião do término das eleições [de 1986] e da proclamação dos resultados, dizendo que a Constituinte [...] estaria marcada por uma posição conservadora. Na verdade, nós do PFL, consideramos que os progressistas somos nós, os do centro, moderados, equilibrados, que buscam sempre o entendimento, o acordo em alto nível e que desejam o progresso da Nação por meio da produção maior. Produção maior através da eficiência. [...] A esquerda radical quer estatizar os 30% que faltam no Brasil, já que 70% da nossa economia estão estatizados. E aí teríamos a ineficiência elevada à enésima potência, aí teríamos a estatocracia (ROCHA, 1987jROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 173ª Sessão, em 9 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 157, p. 6.082, 10 dez. 1987j., p. 6.082).
O deputado Arolde de Oliveira segue argumento semelhante. Ao reclamar a imediata votação do substitutivo apresentado pela Mesa, o parlamentar carioca dirige-se ao presidente da Casa, responsabilizando a esquerda pela dificuldade de se construir consensos:
Estamos, como grupo majoritário, dando mais uma vez demonstração de que não somos intransigentes, de que estamos abertos ao diálogo. Sabemos que existem muitos destaques apostos no substitutivo. Desejo esclarecer a V. Exª, ao Plenário desta Casa e à Imprensa aqui presente que os destaques não são fruto da intransigência do “Centrão”, do grupo majoritário, mas, sim, do radicalismo das esquerdas minoritárias que não querem o entendimento (OLIVEIRA, 1987bOLIVEIRA, Arolde de. Pronunciamento. Ata da 173ª Sessão, em 9 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 157, p. 6.054, 10 dez. 1987b., p. 6.054).
Nos dias seguintes, pouco se avançou em termos de deliberação. As sessões, que ocorreram até o dia 17 de dezembro, enfrentaram obstruções e baixos quóruns que atrapalharam qualquer decisão definitiva sobre as alterações do Regimento Interno antes das festas de final de ano. Apenas em 5 de janeiro, com um quórum ainda reduzido, o Plenário rejeitou os últimos destaques dos progressistas ao novo Regimento Interno, consolidando a mudança (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 221-225).
Conclusões e observações
Nesse artigo, buscamos compreender os posicionamentos políticos de deputados evangélicos em relação a temas de ordem econômica e social. Analisando especialmente as manifestações dos deputados Daso Coimbra e Fausto Rocha, evidenciamos a presença de uma retórica de matriz economicamente liberal, com forte viés de defesa da livre iniciativa e do empreendedorismo, que era forjada a partir da reação a um polo opositor e identificado com os grupos associados ao progressismo e aos partidos mais explicitamente localizados à esquerda do espectro político, polo esse visto como defensor de perspectivas “estatizantes” para a vida econômica e social do país. Discursos como os analisados neste artigo se notabilizavam por uma contundente crítica anticomunista e pela associação, mais ou menos explícita, entre a liberdade de empreendimento e a livre expressão e iniciativa religiosa: se, por um lado, o comunismo era apresentado como um sistema político e de ideias incompatíveis ou mesmo francamente hostis à liberdade de crença e de religião; por outro lado, a possibilidade de os grupos e instituições religiosas terem espaço para promover ações que contribuíssem para o desenvolvimento e o bem-estar social do país teria de ser sustentada, necessariamente, por um conjunto de relações sociais, políticas e econômicas baseadas na liberdade de atuação da iniciativa privada e na promoção da concorrência.
A importância desses argumentos para o debate político da ANC é perceptível na medida em que identificamos a articulação de tais posições políticas e econômicas com a pretensa representação de uma maioria parlamentar que, no andamento dos trabalhos da ANC, passaria a demonstrar seu desconforto com as decisões levadas a cabo pelos integrantes da Comissão de Sistematização, durante o segundo semestre de 1987, promovendo novas normas e direitos que contrariavam as alas mais conservadoras daquela Casa, sobretudo os atores vinculados ao governo de José Sarney - estes últimos, preocupados especialmente com a opção da Comissão de Sistematização pelo sistema de governo parlamentarista e pela determinação de quatro anos para os mandatos presidenciais, incluindo-se o do titular do Poder Executivo à época. Concretamente, a Comissão de Sistematização apresentava um equilíbrio de forças maior entre as alas progressistas e conservadoras do que o constatado nas subcomissões e comissões temáticas. À medida que os trabalhos da comissão se aproximavam de sua conclusão e os resultados produzidos se tornavam conhecidos, os parlamentares contrariados passavam a atuar no sentido de mudar as regras do jogo, de forma a ampliarem seu controle sobre os rumos do texto constitucional.
É desta iniciativa que surge o Centrão, com o objetivo de promover, inicialmente, a alteração do Regimento Interno da ANC. Para nossa análise, o Centrão é importante em dois aspectos: primeiro, no sentido de compreender como sua consolidação como grupo parlamentar suprapartidário norteia-se pela reivindicação de si mesmo como a representação da “maioria” - não apenas do parlamento, mas também do que supostamente seria o pensamento político dominante no País. A defesa da mudança do Regimento Interno é assumida como uma garantia para o exercício soberano da atividade parlamentar por uma maioria que seria efetivamente representativa da sociedade, em contraposição a uma minoria progressista que estaria distorcendo a vontade majoritária da população.
Em segundo lugar, o Centrão nos importa em razão da agregação de um contingente importante de parlamentares evangélicos em seu entorno. Como já mencionamos, quando da apresentação do Projeto de Resolução que previa a alteração do Regimento Interno da Casa, 75% dos deputados associados à “bancada evangélica” assinaram o texto. Em meio à disputa política pela alteração regimental, destacamos a participação dos constituintes Daso Coimbra e Fausto Rocha em suas tentativas de justificar a iniciativa do Centrão - recorrendo ao argumento das “maiorias” e à crítica das esquerdas ao mesmo tempo que enquadravam suas posições no âmbito de um centro político, em recusa aos “extremos”. A evidência é a alimentação de uma retórica que busca reforçar suas posições políticas, bem como as do grupo que defendem e representam, como as posições equilibradas e de bom senso, que estariam a ser marginalizadas pela atuação supostamente beligerante de uma minoria extremada à esquerda. Sem autoidentificações à direita ou com o campo conservador, a disputa política era descrita nos termos de uma oposição entre radicais de esquerda e “moderados” de centro.
Restam algumas observações. Ao longo do texto, notamos que, além de Daso Coimbra e Fausto Rocha, outros parlamentares assumiram iniciativas tanto na defesa retórica do Projeto de Resolução do Centrão quanto na articulação de proposições que passariam a ser defendidas por lideranças do bloco parlamentar em ocasiões futuras - citamos, no caso, os constituintes Arolde de Oliveira e Eraldo Tinoco. Havia, portanto, figuras evangélicas engajadas não apenas na iniciativa de alteração regimental, mas também na defesa de mudanças constitucionais alinhadas com interesses econômicos e políticos provenientes, especialmente, de grupos empresariais e àqueles ligados ao Poder Executivo (SOUZA, 2001SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo decisório, conflitos e alianças. Dados, Rio de Janeiro, v. 44, n. 3, p. 513-560, 2001. , p. 540). Com as votações das propostas de texto constitucional que se iniciariam em primeiro turno, em janeiro de 1988, e a possibilidade de preferência automática34 34 Na reforma regimental aprovada definitivamente no início de janeiro de 1988, foi decidido que substitutivos e emendas que alcançassem maioria absoluta de assinaturas dos parlamentares teriam preferência automática para votação em Plenário. Na prática, desde que garantidas as assinaturas suficientes, as propostas de interesse do Centrão passariam a ser votadas preferencialmente em relação às medidas do texto oriundo da Comissão de Sistematização - que simplesmente deixara de existir na elaboração constitucional, ampliando o papel de relator exercido por Bernardo Cabral (PILATTI, 2008, p. 224-225). conquistada com a aprovação da reforma regimental, os líderes do Centrão dedicaram-se à busca de assinaturas e formulação de emendas coletivas que, se aprovadas pelo Plenário, permitiriam uma reforma significativa da proposta de Constituição aprovada pela Comissão de Sistematização - reorientando os rumos da nova Carta para uma proposta certamente mais palatável aos grupos política e economicamente mais conservadores (MARTÍNEZ-LARA, 1996MARTINEZ-LARA, Javier. Building democracy in Brazil: the politics of constitutional change, 1985-95. Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1996., p. 115-116).
Contudo, logo nas primeiras votações, percebeu-se que o Centrão teria dificuldades para aprovar suas propostas e se consolidar como um grupo suprapartidário permanente. Em janeiro de 1988, as propostas do grupo para alteração do Preâmbulo e de capítulos do Título I, relativo aos “princípios fundamentais”, não alcançaram o número de votos necessários para aprovação segundo os critérios do novo Regimento Interno que tinham patrocinado, obrigando-os a promover negociações e novas propostas redacionais que angariassem o apoio dos constituintes. Essas dificuldades se seguiram ao longo de todo o primeiro turno, encerrado em 30 de junho de 1988, demonstrando que o Centrão - contabilizando-se, nesse caso, os parlamentares que apoiaram a mudança do Regimento Interno - parecia ser um grupo bem mais heterogêneo no que se referia ao tratamento de temas mais substantivos do Projeto de Constituição. A alteração do Regimento Interno, com o propósito declarado de garantir a soberania do Plenário e a aplicação da vontade da maioria, acabou por reforçar a importância das lideranças partidárias, que passaram a se reunir frequentemente, antes das sessões, para tentar alcançar consensos sobre o conteúdo das propostas de modificações que seriam levadas à votação em plenário (MARTÍNEZ-LARA, 1996MARTINEZ-LARA, Javier. Building democracy in Brazil: the politics of constitutional change, 1985-95. Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1996., p. 117; GOMES, 2006GOMES, Sandra. O impacto das regras de organização do processo legislativo no comportamento dos parlamentares: um estudo de caso da Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Dados, Rio de Janeiro, v. 49, n. 1, p. 193-224, 2006., p. 211-212).
Nos registros de Antônio Flávio Pierucci (1996, p. 170)PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte. In: PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira; PRANDI, Reginaldo (Org.). A realidade social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 163-191., os parlamentares evangélicos que apoiaram a proposta de alteração regimental do Centrão também manifestaram, em geral, apoio a outras pautas alinhadas com as pretensões do grupo: votaram a favor da emenda do Centrão sobre direito de propriedade; contra a desapropriação de propriedades produtivas; a favor dos cinco anos de mandato para Sarney, e também para os futuros presidentes etc. Em outras, porém, não demonstraram a mesma fidelidade. Por exemplo: no dia 25 de fevereiro de 1988, quando foram votados pontos relacionados ao capítulo dos direitos sociais, garantindo a criação de “salário-férias”, 50% de remuneração a mais para horas extras, licença maternidade de 120 dias e licença paternidade de oito dias, os parlamentares evangélicos votaram, em geral, favoravelmente a essas medidas, a despeito da reclamação dos líderes do Centrão.35 35 “Irritados, os líderes do Centrão criticavam os resultados afirmando ‘sabe quanto isto custa para o país’?” (PLENÁRIO..., 1988, p. A-7). Em certo momento, as críticas às orientações do Centrão começam a surgir com mais força - como se percebe no pronunciamento do deputado Salatiel Carvalho (PFL-PE), ligado à Assembleia de Deus. Ao comentar a relevância dos novos direitos trabalhistas aprovados, o parlamentar declara:
é de considerar-se, Sr. Presidente, que o alcance destas importantes e merecidas conquistas deu-se sob intensa pressão dos conservadores, através da mobilização de suas forças, via articulação do grupo “Centrão”, que, inviabilizado em sua consistência, teve de recuar, incapaz de impedir a modernização e o avanço social da nossa futura Constituição (CARVALHO, 1988CARVALHO, Salatiel. Pronunciamento. Ata da 213ª Sessão, em 1º de março de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 194, p. 7.843, 2 mar. 1988., p. 7.843).
No início de fevereiro de 1988, Daso Coimbra já demonstrava abatimento com algumas derrotas do Centrão e decepção com grupos que começavam a “desertar”. Entre eles evangélicos - 18 deputados, liderados por Gidel Dantas, quase todos pentecostais, que passavam a defender uma atuação “independente” e desvinculada do bloco. Em declarações dadas ao Correio Braziliense, , Coimbra denuncia, de forma geral, um jogo de interesses envolvendo o compromisso dos parlamentares com as propostas do Centrão, trocas e exigências escusas (O DESABAFO..., 1988O DESABAFO de Daso: “se falar tudo o que sei, mandam me matar”. Correio Braziliense, Brasília, p. 4, 10 fev. 1988., p. 4). No mesmo dia, outro assembleiano, Sotero Cunha (PDC-RJ), reagiria no Plenário: “O Centrão é Centrão, e evangélicos, evangélicos”.36 36 “A infeliz entrevista do Deputado Daso Coimbra, na qual denuncia que existe jogo de interesses, compromete a moral e a dignidade de todos os Constituintes que fazem parte do Centrão, principalmente da Bancada Evangélica. Justamente, para não sermos acusados de envolvimentos ilícitos, foi que tomamos uma posição independente. Entramos no Centrão com a intenção de aprovarmos uma Constituição que melhor atendesse aos anseios do nosso povo. Não para participar de negociatas ou de jogo escuso. Nunca fizemos exigências ao Deputado Daso Coimbra, nem ao Presidente José Sarney. Falo em meu nome pessoal, mas creio ser este o pensamento de todos os evangélicos” (CUNHA, 1988, p. 7.185).
Na disputa política entre “maiorias” e “minorias”, entre “moderados” e “esquerdistas”, a autoidentificação conservadora é raramente manifesta. Mesmo o mais feroz anticomunista nomeia-se politicamente como alguém de “centro” (como Fausto Rocha), ou até mesmo abre-se à possibilidade de reagir criticamente ao que identifica como representação do conservadorismo (como vimos, com Salatiel Carvalho, no trato das questões trabalhistas). Porém, essas retóricas parecem ter um espaço próprio, situado no campo da política e da economia. Em outros âmbitos, como os da moral e da família, as coisas podem ser diferentes.
Referências
- AGUIAR, Nelson. Pronunciamento. Comissão da Família, da Educação, Cultura, e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 7ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl., p. 253-254, 9 jul. 1987.
- ALMEIDA, Adroaldo José Silva. “Pelo Senhor, marchamos”: os evangélicos e a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.
- AMARAL NETTO. Pronunciamento. Ata da 12ª Sessão, em 13 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 11, p. 283, 14. fev. 1987.
- BAPTISTA, Saulo. Pentecostais e neopentecostais na política brasileira: um estudo sobre cultura política, Estado e atores coletivos religiosos no Brasil. São Paulo: Annablume, 2009.
- BIANCHI, Alvaro. Para uma história política do pensamento político: anotações preliminares. GPMPP Working Papers, n. 1, p. 1-13, 2014.
- BISOL, José Paulo. Pronunciamento. Ata da 12ª Sessão, em 13 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 11, p. 264-267, 14 fev. 1987.
- BRASIL. Senado Federal. Diário da Assembleia Nacional Constituinte. Brasília: Centro Gráfico do Senado Federal, 1987-1988.
- BURITY, Joanildo; MACHADO, Maria das Dores Campos. (Org.). Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Massangana, 2006.
- CARVALHO, Salatiel. Pronunciamento. Ata da 213ª Sessão, em 1º de março de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 194, p. 7.843, 2 mar. 1988.
- CAVALCANTI, Robinson. Cristianismo e política: teoria bíblica e prática histórica. Viçosa: Ultimato, 2009.
- “CENTRÃO” pronto para decolagem. Correio Braziliense, Brasília, p. 5, 23 nov. 1987.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 96ª Sessão, em 7 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 90, p. 3.120, 8 jul. 1987a.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 103ª Sessão, em 17 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 97, p. 3.372, 18 jul. 1987b.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 114ª Sessão, em 28 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 108, p. 3.682-3.685, 29 jul. 1987c.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 101ª Sessão, em 15 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 95, p. 3.308, 16 jul. 1987d.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 161ª Sessão, em 28 de outubro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 146, p. 5.540-5.541, 29 out. 1987e.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 163ª Sessão, Extraordinária, noturna, em 10 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 148, p. 5697-5698, 11 nov. 1987f.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 164ª Sessão Extraordinária, noturna, em 13 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 149, p. 5-747-5.748, 14 nov. 1987g.
- COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 169ª Sessão, em 2 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 154, p. 5.929, 3 dez. 1987h.
- COMO o grupo ganhou força. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 4, 5 nov. 1987.
- COVAS, Mário. Pronunciamento. Ata da 96ª Sessão, em 7 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 56, supl., p. 173, 8 maio 1987.
- COWAN, Benjamin Arthur. “Nosso Terreno”: crise moral, política evangélica e a formação da ‘Nova Direita’ brasileira. Varia Historia, Belo Horizonte, v. 30, n. 52, p. 101-125, jan./abr. 2014.
- CRONOLOGIA de 1968 - o ano da confusão... e do nascimento de Ultimato, Ultimato, Belo Horizonte, n. 313, jul./ago. 2008. Disponível em: Disponível em: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/313/cronologia-de-1968-o-ano-da-confusao-e-do-nascimento-de-ultimato Acesso em: 19 out. 2018.
» https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/313/cronologia-de-1968-o-ano-da-confusao-e-do-nascimento-de-ultimato - CUNHA, Sotero. Pronunciamento. Ata da 198ª Sessão, em 10 de fevereiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 182, p. 7.185, 11 fev. 1988.
- DEPUTADO erra pontapé e leva soco no olho. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, p. 2, 4 de dezembro de 1987.
- DIÁRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Brasília: Senado Federal, ano 1, n. 148, p. 5.698-5.699, 11 nov. 1987a.
- DIÁRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Brasília: Senado Federal, ano 1, n. 148, p. 5.736-5.737, 14 nov. 1987b.
- FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Daso de Oliveira Coimbra. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2009a. Disponível em: Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/daso-de-oliveira-coimbra Acesso em: 19 out. 2018.
» http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/daso-de-oliveira-coimbra - FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Fausto Auromir Lopes Rocha. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2009b. Disponível em: Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/fausto-auromir-lopes-rocha Acesso em: 19 out. 2018.
» http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/fausto-auromir-lopes-rocha - FERNANDES, Rubem C. et al Novo nascimento: os evangélicos em casa, na política e na igreja. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.
- FONSECA, Alexandre Brasil Carvalho da. Secularização, pluralismo religioso e democracia no Brasil: um estudo sobre evangélicos na política nos anos 90. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
- FONSECA, André Dioney. Informação, política e fé: o jornal Mensageiro da Paz no contexto de redemocratização do Brasil (1980-1990). Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 34, n. 68, p. 279-302, jul./dez. 2014.
- FREITAS, Rafael; MOURA, Samuel; MEDEIROS, Danilo. Procurando o Centrão: direita e esquerda na Assembléia Nacional Constituinte 1987-88. In: CARVALHO, Maria Alice Rezende de; ARAÚJO, Cícero; SIMÕES, Júlio Assis (Org.). A Constituição de 1988: passado e futuro. São Paulo: Anpocs; Hucitec, 2009. p. 101-135.
- FRESTON, Paul. Protestantismo e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993.
- FRESTON, Paul. Evangelicals and politics in Asia, Africa and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- GENOÍNO, José. Pronunciamento. Ata da 10ª Sessão, em 11 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 9, p. 223, 12 fev. 1987.
- GOMES, Sandra. O impacto das regras de organização do processo legislativo no comportamento dos parlamentares: um estudo de caso da Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988). Dados, Rio de Janeiro, v. 49, n. 1, p. 193-224, 2006.
- JESUS, Antônio de. Pronunciamento. Ata da 90ª Sessão, em 25 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 84, p. 2.921-2.922, 26 jun. 1987a.
- JESUS, Antônio de. Pronunciamento. Comissão da Família, da Educação, Cultura, e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 7ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl. p. 253-254, 9 jul. 1987b.
- JESUS, Antônio de. Pronunciamento. Ata da 163ª Sessão Extraordinária, noturna, em 10 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 148, p. 5.721-5.722, 11 nov. 1987c.
- JUTAHY JÚNIOR. Ata da 23ª Sessão, em 24 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 20, p. 544, 25 fev. 1987.
- LACERDA, Fábio. Pentecostalismo, eleições e representação política no Brasil contemporâneo. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.
- LIMA, Haroldo. Pronunciamento. Ata da 8ª Sessão, em 9 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 7, p. 184, 10 fev. 1987.
- LINHA DO TEMPO da resistência à ditadura militar no Brasil (1960-1985). Estudos Avançados, São Paulo, v. 28, n. 80, p. 153-184, 2014.
- LOURENÇO. José. Pronunciamento. Ata da 30ª Sessão, em 10 de março de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 25, p. 684, 11 mar. 1987.
- MACHADO, Maria das Dores Campos. Política e religião: a participação dos evangélicos nas eleições. Rio de Janeiro: FGV, 2014.
- MAIA, Eduardo Lopes Cabral. A política evangélica: análise do comportamento da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Federal (2007-2010). Tese (Doutorado em Sociologia Política) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012.
- MAINWARING, Scott; MENEGUELLO, Rachel; POWER, Timothy Joseph. Partidos conservadores no Brasil contemporâneo: quais são, o que defendem, quais são suas bases. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
- MARTINEZ-LARA, Javier. Building democracy in Brazil: the politics of constitutional change, 1985-95. Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1996.
- MATA, Lídice da. Pronunciamento. Ata da 11ª Sessão, em 12 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 10, p. 245, 13 fev. 1987.
- MELO, Sydnei. Deus, a Bíblia e os evangélicos na Constituinte (1987-1988). Caminhando, São Bernardo do Campo, v. 23, n. 2, p. 81-105, jul./dez. 2018.
- MOREIRA, Manoel. Pronunciamento. Ata da 46ª Sessão, em 7 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 41, p. 1.160-1.161, 8 abr. 1987.
- MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). Tese (Doutorado em História Econômica) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
- O DESABAFO de Daso: “se falar tudo o que sei, mandam me matar”. Correio Braziliense, Brasília, p. 4, 10 fev. 1988.
- OLIVEIRA, Arolde de. Pronunciamento. Ata da 170ª Sessão Extraordinária, matutina, em 3 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 155, p. 6.003, 4 dez. 1987a.
- OLIVEIRA, Arolde de. Pronunciamento. Ata da 173ª Sessão, em 9 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 157, p. 6.054, 10 dez. 1987b.
- OLIVEIRA, Mauro Márcio. Fontes de informações sobre a Assembléia Nacional Constituinte de 1987: quais são, onde buscá-las, e como usá-las. Brasília: Senado Federal, 1993.
- PIERUCCI, Antônio Flávio. As bases da nova direita. Novos Estudos, São Paulo, n. 19, p. 26-45, dez. 1987.
- PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte. In: PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira; PRANDI, Reginaldo (Org.). A realidade social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 163-191.
- PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008.
- PINHEIRO. Ernesto Geisel em encontro com o Grupo Parlamentar Cristão. 1 fotografia, p&b, 28 x 28,5 cm. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2 set. 1975. Disponível em: Disponível em: http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/arquivo-pessoal/EG/audiovisual/ernesto-geisel-em-encontro-com-o-grupo-parlamentar-cristao Acesso em: 21 out. 2020.
» http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/arquivo-pessoal/EG/audiovisual/ernesto-geisel-em-encontro-com-o-grupo-parlamentar-cristao - PLENÁRIO aprova salários-férias e 50% para horas extras. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A-7, 26 fev. 1988.
- POSIÇÕES divergentes entre os evangélicos. Aconteceu no Mundo Evangélico, ano VI, n. 54, p. 4, maio 1987.
- RAMOS, Paulo. Pronunciamento. Ata da 169ª Sessão, em 2 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 154, p. 5.922, 3 dez. 1987i.
- ROCHA, Antônio Sérgio. Genealogia da Constituinte: do autoritarismo à democratização. Lua Nova, São Paulo, n. 88, p. 29-87, 2013.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 25ª Sessão Extraordinária em 25 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 21, p. 584-585, 26 fev. 1987a.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 46ª Sessão, em 7 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 41, p. 1.160-1.161, 8 abr. 1987b.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 3ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação realizada em 21 de abril de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 59, supl., p. 121, 14 maio 1987c.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 8ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, realizada em 28 de abril de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 63, supl., p. 199, 21 maio 1987d.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 14ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação realizada em 14 de maio de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 78, supl., p. 175, 17 jun. 1987e.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. 5ª Reunião Ordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, realizada em 28 de maio de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 90, supl., p. 200, 8 jul. 1987f.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. 7ª Reunião Ordinária da Comissão da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl., p. 272, 9 jul. 1987g.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 168ª Sessão Extraordinária, Matutina, em 26 de novembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 153, p. 5.898, 27 nov. 1987h.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 169ª Sessão, em 2 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 154, p. 5.922, 3 dez. 1987i.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 173ª Sessão, em 9 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 157, p. 6.082, 10 dez. 1987j.
- ROCHA, Fausto. Pronunciamento. Ata da 188ª Sessão, em 27 de janeiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 172, p. 6.634, 28 jan. 1988.
- RODRIGUES, Leôncio Martins. Quem é quem na Constituinte: uma análise sócio-política dos partidos e deputados. São Paulo: Oesp-Maltese, 1987.
- SARNEY, José. Pelo presidencialismo com Congresso Forte. O Globo, Rio de Janeiro, 19 maio 1987.
- SEM segurança não há votação. O Estado de S. Paulo. São Paulo, p. 4, 9 dez, 1987.
- SOUZA, Celina. Federalismo e descentralização na Constituição de 1988: processo decisório, conflitos e alianças. Dados, Rio de Janeiro, v. 44, n. 3, p. 513-560, 2001.
- SOUZA, Silas Luiz de. Pensamento social e político no protestantismo brasileiro. São Paulo: Mackenzie, 2005.
- SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Nova República brasileira: sob a espada de Dâmocles. In: STEPAN, Alfred (Org.). Democratizando o Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 563-627.
- VITAL, Christina; LOPES, Paulo Victor Leite. Religião e política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2013.
-
3
Este artigo é fruto de pesquisa realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (Capes).
-
4
Para uma compreensão cronológica da ANC, ver Oliveira (1993, p. 14-23)OLIVEIRA, Mauro Márcio. Fontes de informações sobre a Assembléia Nacional Constituinte de 1987: quais são, onde buscá-las, e como usá-las. Brasília: Senado Federal, 1993..
-
5
Este número é registrado no estudo de Antonio Flávio Pierucci (1996)PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte. In: PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira; PRANDI, Reginaldo (Org.). A realidade social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 163-191. e refere-se aos deputados titulares. Tal quantidade representava praticamente o dobro do número de deputados evangélicos - considerando protestantes históricos e pentecostais - até então eleitos para o parlamento nacional (FRESTON, 1993FRESTON, Paul. Protestantismo e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993., p. 167, 171, 192).
-
6
A declaração é de José Sarney, então Presidente da República: “toda Assembleia Constituinte tem uma grande novidade e a novidade dessa Constituinte é a presença maciça de uma representação evangélica” (apudFRESTON, 1993FRESTON, Paul. Protestantismo e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1993., p. 226).
-
7
Por meio de acordo com o líder do PFL, José Lourenço, Covas garantiu o controle peemedebista de 7 das 8 relatorias em jogo (ROCHA, 2013ROCHA, Antônio Sérgio. Genealogia da Constituinte: do autoritarismo à democratização. Lua Nova, São Paulo, n. 88, p. 29-87, 2013., p. 80).
-
8
A expressão faz referência a discurso de Covas na reunião de instalação da Comissão de Sistematização, em 9 de abril de 1987: “creio que, para mim, como decerto para cada um dos Constituintes que aqui estão, este é um momento de significativa relevância. Fecha-se um círculo por meio do qual conseguimos, no exercício de um mandato, haurido da fonte legítima de poder, que é o povo, ultrapassar a fase inicial, em que fixamos as balizas para trabalhar na votação do Regimento Interno. Já agora constituímos as comissões temáticas, as subcomissões e, a esta altura, ultimamos o trabalho com a constituição da Comissão de Sistematização” (COVAS, 1987COVAS, Mário. Pronunciamento. Ata da 96ª Sessão, em 7 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 56, supl., p. 173, 8 maio 1987., p. 173).
-
9
Por meio de questões de ordem e recursos, parlamentares tentaram aprovar a possibilidade de apresentação de substitutivos integrais aos anteprojetos dos relatores das subcomissões e, consequentemente, a permissão para substituição dos relatores cujos textos fossem derrotados. Esta estratégia foi parcialmente alcançada: seria possível a apresentação dos substitutivos, mas o presidente Ulysses Guimarães vetou a possibilidade de troca dos relatores - mantendo, assim, suas prerrogativas de elaboração da redação final da matéria, bem como suas vagas na Comissão de Sistematização (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 78-81)
-
10
Os titulares conservadores, no interior da Comissão de Sistematização, contavam com 46 votos - eram necessários 47 para obtenção de maioria absoluta. 36 titulares seriam considerados progressistas, e 11, moderados (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 168).
-
11
Os resultados aqui apresentados baseiam-se em uma indagação: existe um pensamento político da “bancada evangélica”? A questão implica uma discussão sobre o que constitui o objeto dos estudos sobre o pensamento político e, especialmente, o pensamento político brasileiro. Não se pretende neste trabalho um extenso debate teórico-metodológico, mas podemos registrar algumas notas para reflexão. A primeira é considerar que o estudo do pensamento político deve ir além das “grandes obras”, legitimando outras fontes de expressão de um pensamento. A segunda é tratar com seriedade as manifestações destes parlamentares enquanto posições que disputam uma interpretação acerca do fazer político e seus objetivos, bem como uma narrativa sobre o que consideram relevante à compreensão do Brasil e das razões dos problemas enfrentados pelo país. Consideramos, portanto, ser possível entender os discursos desses parlamentares como expressões de um pensamento político, que tem sua importância revelada no conflito que estabelecem com outras ideias - quer dizer, enquanto concebidas como um “movimento na luta política dos partidos” (BIANCHI, 2014BIANCHI, Alvaro. Para uma história política do pensamento político: anotações preliminares. GPMPP Working Papers, n. 1, p. 1-13, 2014., p. 10-12).
-
12
Para esta investigação foi montado um “banco de discursos” com todos os exemplares, em PDF, do Diário da Assembleia Nacional Constituinte, em que há registros de falas de parlamentares evangélicos no Plenário da Assembleia Constituinte, num total de 270 edições. Também foram reunidas as 612 atas de todas as reuniões das comissões e subcomissões temáticas que ocorreram no interior da Constituinte, em 1987. A partir da organização desse “banco”, passamos a “varrê-los”, com o auxílio de um software de análise qualitativa de documentos - identificando, primeiramente, os pronunciamentos dos 33 parlamentares evangélicos e, em seguida, rastreando nos documentos palavras-chaves relacionadas a temas que constituíram debates políticos ocorridos na ANC. A partir da identificação dos discursos e das palavras-chaves, passamos a cruzar esses dados de modo a identificar, entre outras coisas, os debates mais frequentemente protagonizados por estes parlamentares, os diferentes níveis de engajamento destes constituintes nos enfrentamentos políticos da época e, especialmente, a caracterização das ideias, do pensamento político desses parlamentares. A contextualização política e histórica desses debates tem se realizado por meio de consulta à literatura acadêmica sobre o tema, bem como ao noticiário da época - em grande parte, recortes de jornal do período que se encontram disponíveis para acesso público no site do Senado Federal.
-
13
Por exemplo, Fernandes et al. (1998)FERNANDES, Rubem C. et al. Novo nascimento: os evangélicos em casa, na política e na igreja. Rio de Janeiro: Mauad, 1998., Freston (2001)FRESTON, Paul. Evangelicals and politics in Asia, Africa and Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2001., Fonseca (2002)FONSECA, Alexandre Brasil Carvalho da. Secularização, pluralismo religioso e democracia no Brasil: um estudo sobre evangélicos na política nos anos 90. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002., Machado (2014)MACHADO, Maria das Dores Campos. Política e religião: a participação dos evangélicos nas eleições. Rio de Janeiro: FGV, 2014., Burity e Machado (2006)BURITY, Joanildo; MACHADO, Maria das Dores Campos. (Org.). Os votos de Deus: evangélicos, política e eleições no Brasil. Recife: Massangana, 2006., Baptista (2009)BAPTISTA, Saulo. Pentecostais e neopentecostais na política brasileira: um estudo sobre cultura política, Estado e atores coletivos religiosos no Brasil. São Paulo: Annablume, 2009., Maia (2012)MAIA, Eduardo Lopes Cabral. A política evangélica: análise do comportamento da Frente Parlamentar Evangélica na Câmara Federal (2007-2010). Tese (Doutorado em Sociologia Política) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2012., Vital e Lopes (2013)VITAL, Christina; LOPES, Paulo Victor Leite. Religião e política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2013., Lacerda (2017)LACERDA, Fábio. Pentecostalismo, eleições e representação política no Brasil contemporâneo. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017., entre outros.
-
14
Seja no episódio do golpe de 1964, ou naquele ocorrido em 1937 (que daria origem ao “Estado Novo”), o anticomunismo desempenharia papel decisivo como preparador e sustentador ideológico dessas intervenções autoritárias (MOTTA, 2000MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “perigo vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). Tese (Doutorado em História Econômica) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.).
-
15
É ilustrativo que, apesar dos apontamentos de Leôncio Rodrigues sobre a baixa autoidentificação política à direita entre os parlamentares constituintes, parte expressiva destes tinha um histórico de atuação por legendas ligadas ao regime militar: 217 dos 559 constituintes da época passaram pela Aliança Renovadora Nacional (Arena). Especificamente no caso do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), dos 298 constituintes que integravam o partido em 1987, 40 pertenciam ao Partido Democrático Social (PDS) em 1983, e outros 42, à Arena, em 1979. O “velho regime” seguia presente na Nova República (SOUZA, 1988SOUZA, Maria do Carmo Campello de. Nova República brasileira: sob a espada de Dâmocles. In: STEPAN, Alfred (Org.). Democratizando o Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. p. 563-627., p. 569-570).
-
16
Poderíamos citar, a título de exemplo, as intervenções dos constituintes Haroldo Lima (1987, p. 184)LIMA, Haroldo. Pronunciamento. Ata da 8ª Sessão, em 9 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 7, p. 184, 10 fev. 1987., José Genoíno (1987, p. 223)GENOÍNO, José. Pronunciamento. Ata da 10ª Sessão, em 11 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 9, p. 223, 12 fev. 1987., Lídice da Mata (1987, p. 245)MATA, Lídice da. Pronunciamento. Ata da 11ª Sessão, em 12 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 10, p. 245, 13 fev. 1987., entre outros. Mas destacamos a fala de José Paulo Bisol (PMDB-RS), que situa o conservadorismo em termos de sua estratégia: “a tática dos conservadores é evitar a clareza, jamais pontuar as contradições. A sabedoria deles consiste em impedir o amadurecimento das oposições de princípios e posturas, porque é a contradição não amadurecida que gera a ambiguidade e é por detrás da ambiguidade que eles se tornam invisíveis no esforço que fazem para manter o status quo” (1987, p. 265)BISOL, José Paulo. Pronunciamento. Ata da 12ª Sessão, em 13 de fevereiro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 11, p. 264-267, 14 fev. 1987..
-
17
Citação textual constante no discurso de Antônio de Jesus (1987a, p. 2.922 JESUS, Antônio de. Pronunciamento. Ata da 90ª Sessão, em 25 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 84, p. 2.921-2.922, 26 jun. 1987a.: “quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: Este é o caminho, andai por ele”.
-
18
Vale observar que, com exceção do deputado Mário de Oliveira, autodefinido como de “centro-direita”, não há nenhum outro parlamentar evangélico que se classifique como tal ou com posições mais ainda à direita. Três não se autodefiniram - um deles, Matheus Iensen, afirmou que se definiria politicamente “apenas durante a Constituinte” (RODRIGUES, 1987RODRIGUES, Leôncio Martins. Quem é quem na Constituinte: uma análise sócio-política dos partidos e deputados. São Paulo: Oesp-Maltese, 1987., p. 338) - e o deputado Fausto Rocha definiu-se para a pesquisa de Rodrigues como um “liberal de centro” (PIERUCCI, 1996PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte. In: PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira; PRANDI, Reginaldo (Org.). A realidade social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 163-191., p. 171; RODRIGUES, 1987RODRIGUES, Leôncio Martins. Quem é quem na Constituinte: uma análise sócio-política dos partidos e deputados. São Paulo: Oesp-Maltese, 1987., p. 296).
-
19
Sobre a atuação parlamentar de Antônio de Jesus na ANC, ver Melo (2018)MELO, Sydnei. Deus, a Bíblia e os evangélicos na Constituinte (1987-1988). Caminhando, São Bernardo do Campo, v. 23, n. 2, p. 81-105, jul./dez. 2018..
-
20
Arthur da Costa e Silva, por exemplo, foi recebido com um almoço pelo grupo, no Brasília Palace Hotel. O registro consta no artigo “O sermão do presidente”, publicado em fevereiro de 1968 em Ultimato (CRONOLOGIA..., 2008CRONOLOGIA de 1968 - o ano da confusão... e do nascimento de Ultimato, Ultimato, Belo Horizonte, n. 313, jul./ago. 2008. Disponível em: Disponível em: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/313/cronologia-de-1968-o-ano-da-confusao-e-do-nascimento-de-ultimato . Acesso em: 19 out. 2018.
https://www.ultimato.com.br/revista/arti... ); Emílio Garrastazu Médici participou de um Encontro Nacional de Oração, organizado pelo mesmo grupo, em maio de 1972, conforme nota publicada na página 3 do Correio da Manhã, em 19 de maio de 1972; uma foto de uma reunião do Grupo Parlamentar Cristão com o presidente Ernesto Geisel, datada de setembro de 1975, consta no acervo digital do CPDOC; e, finalmente, João Figueiredo participou de um almoço com parlamentares do grupo, no clube do Congresso, cujo registro consta na página 3 do Jornal da República de 6 de dezembro de 1979. Ver também: Almeida (2016, p. 82)ALMEIDA, Adroaldo José Silva. “Pelo Senhor, marchamos”: os evangélicos e a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016.; FGV (2009)FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Daso de Oliveira Coimbra. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2009a. Disponível em: Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/daso-de-oliveira-coimbra . Acesso em: 19 out. 2018.
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionari... . -
21
Daso Coimbra pronuncia em 15 de julho de 1987: “Os sistemas se baseiam em situações e em princípios convergentes. Não se sistematiza aquilo que se opõe entre si mesmo. É possível sistematizar o socialismo, o comunismo, o capitalismo. É possível sistematizar a doutrina cristã. Mas sistematizar cristianismo com ateísmo é algo incompatível, como incompatível é sistematizar presidencialismo com parlamentarismo, capitalismo com comunismo, esquerda com direita, etc. No arremedo de Constituição que recebemos para emendar, tudo o que é dispare está presente. E como não se pode sistematizar disparidades, igualmente torna-se quase impossível emendar disparidades. [...] No modo como está, o projeto de Constituição é um monstro que a todos há de devorar, estabelecendo o caos, para depois desaparecer sozinho. E se alguém conseguir sobreviver, verá” (1987d, p. 3.308COIMBRA, Daso. Pronunciamento. Ata da 101ª Sessão, em 15 de julho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 95, p. 3.308, 16 jul. 1987d.).
-
22
Em reunião da Subcomissão de Ciência e Tecnologia e da Comunicação, de 14 de maio de 1987, Rocha referiu-se criticamente a ações que teriam sido adotadas por governos militares que contrariavam seus princípios econômicos. Geisel, por exemplo, teria promovido uma “estatização forçada para pedir dinheiro lá fora [no exterior] sem bem saber para quem e para quê. Isto nos levou a dever muito dinheiro”. Chegara a falar, inclusive, em desvios de dinheiro, sumidos nos “desvãos da administração pública”. Também referiu-se a uma “atitude demagógica” de João Figueiredo, que teria estabelecido limites ao aumento de aluguéis de imóveis “para fazer média com a população” (ROCHA, 1987cROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 3ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação realizada em 21 de abril de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 59, supl., p. 121, 14 maio 1987c., p. 175-176).
-
23
Apesar dessa posição, Rocha alegou por vezes a existência de uma opinião, supostamente difundida na sociedade, destinada a legitimar mecanismos de censura a espetáculos artísticos. O parlamentar falava na existência de uma “maioria silenciosa ou conservadora” que ainda buscava resguardar seus filhos de influências consideradas nefastas (ROCHA, 1987dROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 8ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Família, do Menor e do Idoso, realizada em 28 de abril de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 63, supl., p. 199, 21 maio 1987d., p. 200, 1987eROCHA, Fausto. Pronunciamento. Anexo à Ata da 14ª Reunião Ordinária da Subcomissão da Ciência e Tecnologia e da Comunicação realizada em 14 de maio de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 78, supl., p. 175, 17 jun. 1987e., p. 263).
-
24
Defenderam posições nesse sentido os deputados Antônio de Jesus (PMDB-GO) e Nelson Aguiar (PMDB-ES) (JESUS, 1987bJESUS, Antônio de. Pronunciamento. Comissão da Família, da Educação, Cultura, e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 7ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl. p. 253-254, 9 jul. 1987b., p. 253; AGUIAR, 1987AGUIAR, Nelson. Pronunciamento. Comissão da Família, da Educação, Cultura, e Esportes, da Ciência e Tecnologia e da Comunicação. 7ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de junho de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 91, supl., p. 253-254, 9 jul. 1987., p. 254).
-
25
Segundo Robinson Cavalcanti (2009, p. 193)CAVALCANTI, Robinson. Cristianismo e política: teoria bíblica e prática histórica. Viçosa: Ultimato, 2009., com os sinais de uma aproximação entre o Estado brasileiro e a Igreja Católica, nos anos da República Velha, a maior preocupação política dos protestantes brasileiros à época seria o cumprimento da lei que assegurava a liberdade de culto. Sobre os posicionamentos editorais de jornais protestantes no período acerca do tema, ver Souza (2005, p. 63-65)SOUZA, Silas Luiz de. Pensamento social e político no protestantismo brasileiro. São Paulo: Mackenzie, 2005..
-
26
Segundo Pierucci (1996, p. 182-184)PIERUCCI, Antônio Flávio. Representantes de Deus em Brasília: a bancada evangélica na Constituinte. In: PIERUCCI, Antônio Flávio de Oliveira; PRANDI, Reginaldo (Org.). A realidade social das religiões no Brasil: religião, sociedade e política. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 163-191., a segunda reunião do bloco, em janeiro de 1987, ocorreu na casa de Daso Coimbra, em Brasília. O próprio deputado conduzira a reunião, na qualidade de “o mais antigo” parlamentar evangélico daquela legislatura. Tanto Coimbra quanto Fausto Rocha defendiam que o bloco deveria agir prioritariamente em torno de questões morais (POSIÇÕES... , 1987POSIÇÕES divergentes entre os evangélicos. Aconteceu no Mundo Evangélico, ano VI, n. 54, p. 4, maio 1987., p. 4).
-
27
O Projeto “A” foi o primeiro elaborado por Bernardo Cabral com a contribuição dos textos aprovados pelas comissões temáticas. Após emendas apresentadas pelo Plenário da ANC, o relator-geral apresentou o primeiro substitutivo, que ficou conhecido como “Cabral I”; com mais uma rodada de proposição de emendas, negociações e pressões de grupos organizados, um novo substitutivo, o “Cabral II”, não previsto regimentalmente, foi redigido. O “Cabral II” teria sido o substitutivo mais próximo de conciliar as demandas das forças conservadoras e progressistas, bem como as demandas do presidente Sarney. Porém, a Comissão de Sistematização, em votação definitiva ocorrida em novembro, rejeitaria o “Cabral II”, optando pela aprovação do Projeto “A”. Esse resultado já era antecipado pelas alas mais conservadoras, o que os levou a adiantarem-se na articulação política pela mudança do Regimento Interno (FREITAS; MOURA; MEDEIROS, 2009FREITAS, Rafael; MOURA, Samuel; MEDEIROS, Danilo. Procurando o Centrão: direita e esquerda na Assembléia Nacional Constituinte 1987-88. In: CARVALHO, Maria Alice Rezende de; ARAÚJO, Cícero; SIMÕES, Júlio Assis (Org.). A Constituição de 1988: passado e futuro. São Paulo: Anpocs; Hucitec, 2009. p. 101-135. , p. 16).
-
28
Assinaram o documento, conforme registrado no Diário da Assembleia Nacional Constituinte (1987a, p. 5.698-5.699)DIÁRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Brasília: Senado Federal, ano 1, n. 148, p. 5.698-5.699, 11 nov. 1987a., os deputados: Antonio de Jesus, Arolde de Oliveira, Costa Ferreira, Daso Coimbra, Eliel Rodrigues, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Eunice Michiles, Fausto Rocha, Gidel Dantas, Jayme Paliarin, João de Deus Antunes, José Fernandes, José Viana, Manoel Moreira, Mário de Oliveira, Matheus Iensen, Milton Barbosa, Naphtali Alves de Sousa, Orlando Pacheco, Roberto Augusto, Roberto Vital, Rubem Branquinho, Salatiel Carvalho e Sotero Cunha.
-
29
Entre as alterações propostas pelo substitutivo da Mesa, o texto buscava restabelecer a competência da Comissão de Sistematização para organizar a matéria aprovada na votação de cada turno (DIÁRIO..., 1987bDIÁRIO DA ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Brasília: Senado Federal, ano 1, n. 148, p. 5.736-5.737, 14 nov. 1987b., p. 5.736-5.737; PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 207).
-
30
A título de curiosidade, a “denúncia” presente no pronunciamento de Fausto Rocha, especialmente no que tange à distorção inclinada a um pensamento “radical de esquerda”, é problematizada em fala imediatamente anterior, pronunciada pelo constituinte Paulo Ramos (PMDB-RJ). Entre outras coisas, ele afirma: “chegamos, agora, depois de muito sacrifício, à Assembleia Nacional Constituinte, e como num passe de mágica, outro milagre já se delineia. Esse milagre consiste em fazer constar da vida nacional somente algumas correntes políticas: a extrema-esquerda, a esquerda e a centro-esquerda. De repente, não existe mais no País, por força de um milagre, a extrema-direita, não existe a direita e, sequer, a centro-direita. [...] Todas estas correntes de opiniões, como num passe de mágica, se transformaram num Centrão, que já começa a ser identificado pela sociedade brasileira, em função dos esforços que desenvolve, já começa a ser identificado como um milagre contra o povo brasileiro. O povo, hoje, está atento” (RAMOS, 1987RAMOS, Paulo. Pronunciamento. Ata da 169ª Sessão, em 2 de dezembro de 1987. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 1, n. 154, p. 5.922, 3 dez. 1987i., p. 5.922).
-
31
A preocupação com a segurança das atividades legislativas foi apresentada por membros do Centrão em reunião com o deputado Ulysses Guimarães, em 8 de dezembro, ao lhe entregarem uma carta em que revelavam “disposição de não comparecer a votação de hoje [9 de dezembro], caso não haja garantia ao livre funcionamento da Casa, ‘ameaçada por grupos organizados que não desejam permitir a votação livre e soberana da nova Constituição da República’”. Após este encontro, o Centrão soltou nota em que repudiavam “a insólita agressão perpetrada contra a Constituinte e as criminosas ameaças da CUT e Conclat, enquanto aguarda enérgicas providências do presidente Ulysses Guimarães, inclusive promovendo a responsabilidade dos autores das agressões” (SEM… 1987SEM segurança não há votação. O Estado de S. Paulo. São Paulo, p. 4, 9 dez, 1987., p. 4).
-
32
Trata-se do constituinte Amaral Netto, segundo o noticiado na Gazeta Mercantil de 3 de dezembro de 1987, p. 6: “um dos mais exaltados, o líder do PDS, Amaral Neto, convocava o ‘Centrão’ para estar em plenário hoje a partir das 9,30 horas, ‘dispostos até à violência física se for necessário’. Foi aplaudido”.
-
33
“A sessão [de 3 de dezembro], agitada desde a abertura, às 10h, durava exatamente uma hora quando o deputado Gilson Machado (PFL-PE), do Centrão, acertou com um soco o olho do deputado Juarez Antunes (PDT-RJ). A confusão começara porque o pedetista quis usar o microfone à direita do plenário, onde tradicionalmente ficam os direitistas, e o parlamentar do PFL tentou impedi-lo. Roberto Jefferson (PTB-RJ) empurrou Antunes, que respondeu com um pontapé, mas acabou acertando seu líder Brandão Monteiro (PDT-RJ). Mesmo assim, Machado sentiu-se atingido e desferiu o soco. Muito nervoso, o presidente da sessão, deputado Jorge Arbage (PDS-PA), interrompeu os trabalhos” (DEPUTADO… 1987DEPUTADO erra pontapé e leva soco no olho. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, p. 2, 4 de dezembro de 1987., p. 2).
-
34
Na reforma regimental aprovada definitivamente no início de janeiro de 1988, foi decidido que substitutivos e emendas que alcançassem maioria absoluta de assinaturas dos parlamentares teriam preferência automática para votação em Plenário. Na prática, desde que garantidas as assinaturas suficientes, as propostas de interesse do Centrão passariam a ser votadas preferencialmente em relação às medidas do texto oriundo da Comissão de Sistematização - que simplesmente deixara de existir na elaboração constitucional, ampliando o papel de relator exercido por Bernardo Cabral (PILATTI, 2008PILATTI, Adriano. A Constituinte de 1987-1988: progressistas, conservadores, ordem econômica e regras do jogo. Rio de Janeiro: PUC-Rio; Lumen Juris, 2008., p. 224-225).
-
35
“Irritados, os líderes do Centrão criticavam os resultados afirmando ‘sabe quanto isto custa para o país’?” (PLENÁRIO..., 1988PLENÁRIO aprova salários-férias e 50% para horas extras. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A-7, 26 fev. 1988., p. A-7).
-
36
“A infeliz entrevista do Deputado Daso Coimbra, na qual denuncia que existe jogo de interesses, compromete a moral e a dignidade de todos os Constituintes que fazem parte do Centrão, principalmente da Bancada Evangélica. Justamente, para não sermos acusados de envolvimentos ilícitos, foi que tomamos uma posição independente. Entramos no Centrão com a intenção de aprovarmos uma Constituição que melhor atendesse aos anseios do nosso povo. Não para participar de negociatas ou de jogo escuso. Nunca fizemos exigências ao Deputado Daso Coimbra, nem ao Presidente José Sarney. Falo em meu nome pessoal, mas creio ser este o pensamento de todos os evangélicos” (CUNHA, 1988CUNHA, Sotero. Pronunciamento. Ata da 198ª Sessão, em 10 de fevereiro de 1988. Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Brasília, ano 2, n. 182, p. 7.185, 11 fev. 1988., p. 7.185).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
02 Dez 2020 -
Data do Fascículo
Sep-Dec 2020
Histórico
-
Recebido
15 Jan 2019 -
Aceito
08 Jul 2020