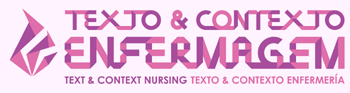RESUMO
Objetivo:
avaliar como os profissionais da Atenção Primária à Saúde desenvolvem atividades preventivas para evitar as complicações crônicas nas pessoas com Diabetes Mellitus atendidas nesse nível da atenção.
Método:
foi utilizado como referencial teórico o Pensamento Complexo e como referencial metodológico a pesquisa avaliativa. O estudo foi realizado em um município de médio porte localizado no Sul do Brasil. Participaram da pesquisa 35 profissionais de saúde e três gestores. Como técnicas de coleta de dados adotou-se: entrevista, observação e análise de prontuários. Para a análise dos dados obteve-se auxílio do software ATLAS.ti e empregou-se a triangulação de dados.
Resultados:
a prevenção foi compreendida como uma atividade dissociada da prática assistencial; o conceito atribuído não era claro e nem diferenciado de outros conceitos da área da saúde; a assistência priorizava ações curativas em detrimento das preventivas; e a prevenção mencionada era mais voltada para o cumprimento de metas e de campanhas estabelecidas pelas instâncias reguladoras.
Conclusão:
a prevenção na atenção às pessoas com Diabetes Mellitus na Atenção Primária à Saúde encontrava-se fragmentada e disjuntiva de uma assistência que contemplasse a integralidade e a totalidade necessária nesse processo e que fosse capaz de trabalhar nos níveis de prevenção em saúde.
DESCRITORES:
Diabetes mellitus; Complicações do diabetes; Atenção primária à saúde; Avaliação de serviços de saúde
RESUMEN
Objetivo:
evaluar cómo los profesionales de la Atención Primaria en Salud desarrollan actividades preventivas para evitar las complicaciones crónicas en las personas con diabetes mellitus atendidas en ese nivel de atención.
Método:
se utilizó como referencial teórico el Pensamiento Complejo y como referencial metodológico la investigación evaluativa. El estudio se realizó en un municipio de mediano tamaño ubicado en el sur del Brasil. Participaron en la investigación, 35 profesionales de salud y tres gestores. Como técnica de recolección de datos se adoptó: entrevista, observación y análisis de prontuarios. Para el análisis de los datos, se obtuvo ayuda del software ATLAS.ti, y se empleó la triangulación de datos.
Resultados:
la prevención fue comprendida como una actividad disociada de la práctica asistencial; el concepto atribuido no estaba claro ni diferenciado de otros conceptos del área de la salud; la asistencia priorizaba acciones curativas en detrimento de las preventivas; y la prevención mencionada era más orientada hacia el cumplimiento de metas y de campañas establecidas por las instancias reguladoras.
Conclusión:
la prevención en la atención a las personas con diabetes mellitus en la Atención Primaria en Salud se encontraba fragmentada y disyuntiva de una asistencia que contemplara la integralidad y la totalidad necesaria en ese proceso y que fuera capaz de trabajar en los niveles de prevención en salud.
DESCRIPTORES:
Diabetes Mellitus; Complicaciones de la diabetes; Atención Primaria a la salud; Evaluación de servicios de salud
ABSTRACT
Objective:
to evaluate how primary healthcare professionals develop preventive activities to avoid chronic complications in people with diabetes mellitus.
Methods:
complex Thought and evaluation research were used as the theoretical and methodological frameworks, respectively. The study was carried out in a medium-sized city in the South region of Brazil. Thirty-five healthcare professionals and three managers participated in the investigation. Data were collected through interviews, observation and analysis of medical records. The software ATLAS.ti and data triangulation were used to analyze the data.
Results:
prevention was construed as an activity dissociated from the care practice; the attributed concept was neither clear nor distinct from other definitions in the healthcare field; care prioritized healing actions to the detriment of preventive ones; and the mentioned prevention was oriented to meeting goals and organizing campaigns established by regulatory agencies.
Conclusion:
prevention in the care to people with Diabetes Mellitus in primary health care was fragmented and disconnected from a type of care that would consider the comprehensiveness needed in this process and enable preventive actions.
DESCRIPTORS:
Diabetes mellitus; Diabetes complications; Primary health care; Evaluation of healthcare services
INTRODUÇÃO
Para o atendimento às pessoas com Diabetes Mellitus (DM), os sistemas de saúde de todos os países do mundo têm sofrido com os custos diretos, os quais podem ser preocupantes e impactantes, dependendo da prevalência local da doença e da complexidade do tratamento disponível, principalmente na presença das complicações crônicas.11 American Diabetes Association. Diabetes advocacy. Diabetes Care [Internet]. 2016 Jan [cited 2016 Mar 18]; 39(1 Supplement):S105-6. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/39/Supplement_1/S105.full
http://care.diabetesjournals.org/content...
-22 American Diabetes Association. Strategies for improving care. Diabetes Care [Internet]. 2015 Jan [cited 2016 Jan 10]; 38(Suppl 1):S5-7. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/suppl/2014/12/23/38.Supplement_1.DC1/January_Supplement_Combined_Final.6-99.pdf
http://care.diabetesjournals.org/content...
Entretanto, as estimativas apontam que a tendência é o aumento de pessoas com DM e com as complicações decorrentes da doença.33 Zimmet PZ, Magliano DJ, Shaw JE. Diabetes: a 21st century challenge. Lancet [Internet]. 2014 Jan [cited 2015 Oct 13]; 2(1):56-64. Available from: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(13)70112-8.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/l...
-44 Barquera S, Salinas CA, Ridaura RL, Arredondo A, Dommarco JR. Diabetes in Mexico: cost and management of diabetes and its complications and challenges for health policy. Global Health [Internet]. 2013 [cited 2014 Mai 15]; 9(3). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599194/?report=classic
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...
Nesse contexto, as complicações crônicas do DM expressam um agravamento da situação, precisando ser consideradas em toda sua complexidade, envolvendo uma série de eventos que devem ser analisados na sua pluralidade. Para a prevenção das complicações, é essencial o controle da doença, o que se torna extremamente complexo, pois os cuidados e os tratamentos envolvem mudanças no estilo de vida das pessoas, especialmente, a prática de exercícios físicos regulares e o rigoroso controle da alimentação, além do acompanhamento sistemático em consultas e exames laboratoriais.11 American Diabetes Association. Diabetes advocacy. Diabetes Care [Internet]. 2016 Jan [cited 2016 Mar 18]; 39(1 Supplement):S105-6. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/39/Supplement_1/S105.full
http://care.diabetesjournals.org/content...
A prevenção é uma temática que perpassa, transversalmente, inúmeras políticas de saúde, principalmente as que se destinam às doenças crônicas, sendo ponderada como ação indissociável ao contexto assistencial. Essas questões convergem com o que o Ministério da Saúde (MS) define sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), ao demarcar a prevenção de agravos como um de seus elementos imprescindíveis nesse contexto.55 Brasil. Portaria n. 687/GM, de 30 de março de 2006: aprova a Política de Promoção da Saúde. 2006. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria687_30_03_06.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/legislaca...
A prevenção é compreendida como ações antecipatórias, tanto em estágios iniciais, caracterizada pela realização do diagnóstico precoce, como nos estágios mais tardios, tendo por finalidade prevenir os agravos, ou seja, as complicações crônicas do DM. A clássica proposta de prevenção em saúde de Leavell e Clark66 Leavell H, Clark EG. Medicina preventiva. São Paulo (SP): McGrawHill do Brasil; 1976. envolve os três níveis: primário, secundário e terciário. Tomando-os como referência, outros autores avançaram na discussão e construíram, teoricamente, o nível primordial, antecedendo o primário; e o quaternário, avançando naquilo que é proposto no terciário.77 Alwan, A. Noncommunicable disease: a major challenge to public health in the Region. East. Mediterr. Health J [Internet]. 1997 [cited 2014 Abr 10]; 3(1):6-16. Available from:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/117217/1/emhj_1997_3_1_6_16.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665...
-88 Jamoulle M. Quaternary prevention: first, do not harm. In: Text prepared for the 11th Congres of the Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Brazilia, Brasil. Brazilia (DF); 2011 [cited 2014 Apr 10]. Available from: http://docpatient.net/mj/P4_Brasilia2011_en.pdf
http://docpatient.net/mj/P4_Brasilia2011...
A prevenção das complicações crônicas do DM faz parte de um sistema complexo e envolve múltiplos atores e uma pluralidade de situações interventoras. O Pensamento Complexo, por comportar a concepção sistêmica, na qual sociedade e homem são considerados sistemas que interagem a todo o momento, recebendo influências e influenciando outros sistemas num contínuo, permitiu um olhar para as partes que integram esse contexto.99 Morin E. Ciência com consciência. 14ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010.
Vários estudos investigaram o DM na APS,1010 Santos AEC, Souza SLP, Santos AW, Soares OMK, Yoshie YA, Antar GM. Condiciones de salud y funcionalidad de ancianos con diabetes mellitus tipo 2 en atención primária. Enferm Glob [Internet]. 2014 Apr [cited 2016 Mar 05]; 13(34):1-18. Disponible: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n34/clinica1.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n34/cl...
11 Artilheiro MMVSA, Franco SC, Schulz VC, Coelho CC. Quem são e como são tratados os pacientes que internam por diabetes mellitus no SUS? Saúde debate [Internet]. 2014 Jun [cited 2016 Apr 23]; 38(101):210-24. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042014000200210&lng=pt.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
12 Barreto MNSC, Cesse EAP, Lima RF, Marinho MGS, Specht YS, Carvalho EM, et al. Analysis of access to hypertensive and diabetic drugs in the family health strategy, state of Pernambuco, Brazil. Rev Bras Epidemiol [Internet]. 2015 Jun [cited 2016 Apr 23]; 18(2):413-424. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2015000200413
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
-1313 Avelino CCV, Goyatá SLT, Nogueira DA, Rodrigues LBB, Siqueira SMS. Quality of primary health care: an analysis of avoidable hospitalizations in a Minas Gerais county, Brazil. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2015 Abr [cited 2016 Jan 10]; 20(4):1285-93. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000401285&lng=en&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
no entanto, há uma lacuna quanto à atuação dos profissionais de saúde nesse nível da atenção em relação à avaliação da atuação para a prevenção das complicações crônicas do DM e dos fatores intervenientes nesse contexto. Assim, o objetivo deste estudo consistiu em avaliar como os profissionais da APS desenvolvem atividades preventivas para evitar as complicações crônicas nas pessoas com DM atendidas nesse nível da atenção.
MÉTODO
Trata-se de um estudo qualitativo, que adotou como referencial teórico o Pensamento Complexo e como referencial metodológico a pesquisa avaliativa. Foi realizado em um município de médio porte localizado no sul do Brasil. O município possui 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e conta com 66(EqSFs), que oferecem cobertura a aproximadamente 70% da população. Entretanto, as UBSs possuem características distintas quanto ao número de funcionários e composição das equipes. O número de EqSFs por UBS varia de uma a sete, dependendo da população adscrita.
Participaram da pesquisa 38 profissionais envolvidos com a APS, os quais compuseram três grupos amostrais (GA): o GA-1 foi composto por 29 integrantes de EqSFs (cinco médicos, cinco enfermeiros, quatro auxiliares de enfermagem e 15 Agentes Comunitários de Saúde [ACSs]); o GA-2, por seis profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (dois farmacêuticos, um educador físico, um psicólogo, um assistente social e um nutricionista); e o GA-3, por três gestores (dois diretores de UBS e um vinculado à gestão municipal).
Esses participantes foram selecionados por amostragem teórica. Para a seleção dos mesmos, buscou-se junto aos dados do Sistema de Informação de Atenção Básica as EqSFs que possuíam maior número de pessoas com DM cadastradas na área de abrangência. Os participantes do GA-2 e GA-3 foram selecionados a partir do que foi indicado como referência para o GA-1. As EqSFs sem o profissional médico e/ou enfermeiro no quadro funcional, no período referente à coleta de dados, foram excluídas.
O período que compreendeu a coleta de dados foi de seis meses (dezembro de 2013 a maio de 2014). Foram utilizadas três técnicas: entrevista, observação e análise dos prontuários. As entrevistas foram intensivas, agendadas em dias, horários e locais pré-determinados pelo pesquisador e participante. Todas foram realizadas pela própria pesquisadora, audiogravadas, com duração que variou de 30 minutos a 2 horas e 30 minutos.
A técnica da observação ocorreu nos atendimentos de grupo oferecidos pelas EqSFs às pessoas com DM e em alguns atendimentos individuais, sendo registrados no diário de campo da pesquisadora. A análise dos prontuários totalizou 25 prontuários de pessoas com diagnóstico de DM, que foram indicados pelos enfermeiros (cinco de cada EqSF). Nos prontuários, buscaram-se registros referentes às complicações crônicas da doença, as quais foram registradas em um formulário elaborado pela pesquisadora, individual para cada prontuário analisado.
Para a análise dos dados, obteve-se auxílio do software ATLAS.ti 7.1.7, licença de número 58118222, como ferramenta tecnológica para auxiliar a organização e análise dos dados das entrevistas, nas quais empregou-se a etapa de codificação aberta, tendo como referência o conceito e a identificação de como os profissionais atuavam na prevenção de complicações crônicas; e a codificação axial decorrente da reunião dos códigos semelhantes em dois eixos, que correspondem às categorias apresentadas neste estudo, intituladas: "A dissociação da prevenção das complicações crônicas do DM com a prática assistencial"; e "Ausências das práticas preventivas para as pessoas com DM na APS".
Com relação aos dados referentes às observações e à análise dos prontuários, ambos receberam as mesmas concepções para a análise, entretanto, foram utilizados para dar suporte e esclarecimentos aos dados referentes às entrevistas e, consequentemente, avaliar o contexto pesquisado, efetuando-se dessa forma, a triangulação dos dados.
Como referência para análise, foram utilizados os protocolos estabelecidos pelo MS para o atendimento às pessoas com DM, principalmente o Cadernos de Atenção Básica - Diabetes Mellitus;1414 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2006. e o Cadernos de Atenção Básica - Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica - Diabetes Mellitus.1515 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
Esta pesquisa respeitou todos os aspectos éticos preconizados pelo Conselho Nacional de Saúde, tendo seu projeto avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, com Parecer de número 466.855. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. Para manter o anonimato e o sigilo de todos os envolvidos, os participantes receberam uma identificação correspondente à sua profissão e/ou cargo que ocupavam seguido da Letra P e um número correspondente à inclusão da sua entrevista no software ATLAS.ti.
RESULTADOS
Os resultados apresentados abordam como os integrantes da pesquisa compreendiam, conceituavam e executavam a prevenção em suas práticas assistenciais para as pessoas com DM na APS. A prevenção era compreendida como uma atividade dissociada da prática assistencial; o conceito atribuído não era claro e nem diferenciado de outros conceitos da área da saúde; e a prevenção mencionada era mais voltada para o cumprimento de metas e de campanhas estabelecidas pelas instâncias reguladoras.
A dissociação da prevenção das complicações crônicas do Diabetes Mellitus com a prática assistencial
Os participantes da pesquisa referiram que o modelo da ESF se constitui em um espaço privilegiado para a promoção da saúde e a prevenção de agravos. Porém, existia a compreensão de que exercer ações preventivas estava dissociado de suas práticas assistenciais.
Prevenção, não! Eu acho que não. Porque trabalhamos mais com a doença. Deveria. Na verdade, é papel da Estratégia Saúde da Família (ESF) trabalhar com a prevenção e não quando o mal já está aí (ACS-P12).
[...] aqui, falta a prevenção e não o tratamento quando a pessoa já está complicada, entendeu? Falta mais educação para a população [...]. Mas não dá, porque se é para eu fazer prevenção.... então, eu não vou atender o paciente, vou fazer prevenção! Mas não vou dar receita, porque não dá para fazer tudo (Médica-P11).
Os profissionais de saúde pontuaram que a prática assistencial priorizava ações curativas em detrimento das preventivas. A prevenção se tratava de uma atividade estanque e distante do contexto da ESF. Era compreendida como uma atribuição a mais, a qual se encontravam impossibilitados de executá-la, diante de todas as demandas existentes.
Da forma como conceituaram o termo "prevenção", os profissionais não fizeram diferenciações entre os termos "prevenção" e "promoção da saúde", sendo referidas como atividades que ocorrem em eventos e ações separadas do cotidiano da prática assistencial. Os depoimentos reforçaram que atribuíam à prevenção uma perspectiva mais linear, a partir da qual as atividades eram programadas com a finalidade específica de cumprimento de metas estabelecidas pelas instâncias reguladoras da APS.
[...] vai iniciar a campanha da gripe e nós decidimos fazer um dia de promoção da saúde e vai ter diversos atendimentos, orientação para diabetes, da odonto, palestras, vem a nutricionista do NASF, a gente procura fazer esse serviço preventivo (Gestor Local-P32).
Assim, saúde do homem, saúde da mulher, o preventivo da mulher de 25 a 49 anos, que tem que fazer a sua prevenção todo ano. Então, essa coisa vem funcionado, nós fazemos as campanhas (ACS-P17).
Entretanto, atividades preventivas específicas para evitar, controlar e/ou retardar as complicações crônicas nas pessoas com DM, que eram acompanhadas pelos profissionais de saúde da APS, não foram mencionadas pelos entrevistados.
Ausências das práticas preventivas para as pessoas com Diabetes Mellitus na Atenção Priméria à Saúde.
Com relação a inexistência ou limitação das práticas preventivas para as pessoas com DM no contexto da APS, foram várias as justificativas para a não realização das mesmas, destacando dificuldades do serviço de saúde e dos próprios profissionais que realizavam a assistência.
Entre as dificuldades existentes dentro do serviço de saúde, foram indicadas: falta de materiais didáticos para executar atividades preventivas diferenciadas à população, com demora da Secretaria de Saúde nas respostas às solicitações desses materiais, o que desestimulava os profissionais; falta de compreensão e entendimento da gestão local sobre prevenção, levando a uma valorização das ações curativas, com empenho desses gestores em aumentar a oferta da consulta médica de caráter curativo, respondendo de forma unidirecional às solicitações da população; dificuldades da gestão municipal em acompanhar a assistência realizada no cotidiano das EqSFs.
Na verdade, é assim... quem acompanha mais é o doutor e as enfermeiras. Meu trabalho é administrativo, eu acompanho assim: se está tudo bem, qual a frequência do grupo, se tem algum problema de espaço. É mais para eu saber como está funcionando e se tem algum problema, se as consultas são suficientes. Eu fico mais na retaguarda (Gestor/UBS-P32).
Promoção e prevenção não fazemos de jeito nenhum, está muito longe disso. Porque nós não temos respaldo para isso, não temos um apoio da Secretaria caso precisamos de materiais para fazer alguma coisa, nós temos que ficar dando um jeito em tudo. Então, você não consegue e acaba abrindo mão de fazer prevenção e promoção da saúde (Enfermeira-P27).
Prevenção... acho que não! A demanda é muito grande, a enfermeira tem que estar atendendo, às vezes não tem médico e acaba sobrecarregando outros funcionários (Auxiliar de Enfermagem-P6).
Quanto à sua própria atuação, como responsáveis pela execução da assistência, os profissionais referiram ser a falta de tempo um dos maiores impedimentos para a não realização de ações preventivas no cotidiano, em razão da grande demanda da população por atendimento. Porém, existia uma forte concentração dos profissionais da saúde em resolver os problemas mais urgentes dos usuários. Os esforços consistiam em liberar as pessoas presentes na UBS o mais brevemente possível, como uma demarcação de que tiveram seus problemas solucionados.
A falta de tempo também foi relacionada às demandas exigidas pelas atividades burocráticas, tais como os diversos relatórios que precisam ser realizados periodicamente para alimentar os programas ministeriais nas várias instâncias reguladoras. Outro aspecto referido foi o fato de que nem sempre os profissionais estavam com a mesma disposição e paciência para realizarem orientações às pessoas nos atendimentos. Essa percepção demarca a existência de algum entendimento de que poderiam desenvolver ações preventivas, mas que esta era uma decisão sua, dependente de tempo e disposição para tal.
[...] não conseguimos abranger tudo. A orientação certinha, tentando esclarecer todas as dúvidas da pessoa, às vezes, nós não conseguimos... falta tempo, falta paciência... fica alguma coisa a desejar (Médica-P10).
Entretanto, aquelas pessoas presentes nas EqSFs há mais tempo identificaram prejuízos perante as interações no contexto do cuidado, apontando que a assistência atual não conseguia abranger e atuar de forma efetiva em nenhum dos níveis de prevenção, e inferiram ser esse percalço fruto da mudança nas posturas individuais dos profissionais, os quais passaram a não valorizar atividades de educação em saúde com intuito preventivo. Reconheceram também a necessidade de eles promoverem mudanças em suas condutas individuais, perante o processo de cuidar e assistir os usuários da APS. Essas mudanças não foram apontadas como algo possível de ser iniciado por esses profissionais; eram colocadas como algo que deveria acontecer, mas não assumido como devendo começar por eles mesmos.
Eu acho que se cada um dos profissionais exercesse seu papel como tem que ser, melhoraria muito [...] As coisas mudaram por causa dos profissionais, a cabeça mudou, eles não aceitam falar que pode melhorar (ACS-P13).
A gestão municipal também não consegue acompanhar com mais proximidade as ações desenvolvidas pelos profissionais da APS às pessoas com DM. Compõe-se um rol de ausências, interligado a múltiplas insuficiências desse nível de atenção para a prevenção das complicações crônicas nas pessoas com DM, usuárias desses serviços.
O que nós estamos tentando é conseguir uma pessoa para ir nesses grupos e ver como eles são, quem participa, qual a frequência, como é a reação das pessoas, o que as pessoas falam. Eu gostaria de conhecê-los e saber qual a potencialidade deles [...]. Mas nós ainda não conseguimos fazer isso (Gestor Municipal-P34).
DISCUSSÃO
As práticas preventivas foram apontadas pelos profissionais de saúde, como uma atividade fragmentada e disjuntiva de suas ações cotidianas. A assistência e a prevenção foram colocadas como atividades díspares. Não havia um entendimento de que atividades preventivas deveriam estar implícitas em todas as ações realizadas por eles e de que tais atividades deveriam acontecer por meio de um diálogo aberto e interativo com as pessoas sob seus cuidados, em todos os encontros com o outro.
O entendimento dos profissionais sobre prevenção estava restrito ao nível primário, com dificuldade em associar seu trabalho a outros níveis de prevenção, que tivessem o intuito de prevenir complicações, mesmo a partir da doença já estabelecida, demarcando, assim, ausências de comprometimento com os níveis secundário, terciário e quaternário de prevenção à saúde.1616 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014.
Para o Pensamento Complexo, o ser humano precisa desenvolver a capacidade de pensar em conjunto os problemas locais e globais, tornando-se necessário um pensamento que considere as partes na sua relação com o todo e o todo nas suas relações com as partes; não aceitando, portanto, um pensamento parcelar ou reducionista, incapaz de ver o contexto e a globalidade. Simplificar o pensamento pode acarretar a separação dos diferentes aspectos da realidade, isolar os objetos ou fenômenos do seu meio ambiente, levando a uma incapacidade de integrar um conhecimento ao seu contexto e ao sistema global. Desse modo, produzem-se conhecimentos mutilados e fragmentados, os quais não conseguem contemplar o realismo contextual.99 Morin E. Ciência com consciência. 14ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010.
Percebe-se que a disjunção e a fragmentação de ações preventivas no contexto assistencial estiveram presentes na atuação dos profissionais de saúde na atenção às pessoas com DM. Considerando os níveis de prevenção em saúde, atitudes como estas podem não contribuir para a prevenção das complicações crônicas do DM nas pessoas que utilizam os serviços de saúde da APS. Outros estudos, também realizados nesse nível da atenção, identificaram a presença de uma prática fragmentada e contraditória na atuação dos profissionais de saúde, principalmente no que diz respeito à valorização de práticas burocráticas e procedimento-centradas.1717 Amorim ACCL, Assis MMA, Santos AM, Jorge MSB, Servo MLS. Practices of the family health team: advisors of the access to the health services? Texto Contexto Enferm [Internet]. 2014 Oct/Dec [cited 2016 Jan 12]; 23(4):1077-86. Available from: http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/0104-0707-tce-23-04-01077.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/0104-...
-1818 Lanzoni GMM, Meirelles BHS, Cummings G. Nurse leadership practices in primary health care: a grounded theory. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2016 Oct [cited 2017 Feb 14]; 25(4):e4190015. Available from: http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n4/pt_0104-0707-tce-25-04-4190015.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n4/pt_01...
O conceito de prevenção não era tomado como uma referência para a atenção às pessoas com DM. A prevenção, reconhecida pelos profissionais como um importante aspecto de sua atuação, era vista mais em ações de abrangência geral, como em campanhas específicas da saúde da mulher e do homem, bem como contra doenças endêmicas como a dengue e a gripe. Assim, o conceito de prevenção não era claro, sendo também confundido com o conceito de promoção da saúde.
Estudo realizado com profissionais compondo a ESF também identificou que muitos deles não fizeram distinção entre os termos "promoção da saúde" e "prevenção".1919 Tesser CD, Garcia AV, Vendruscolo C, Argenta CE. Estratégia saúde da família e análise da realidade social: subsídios para políticas de promoção da saúde e educação permanente. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2011 Nov [citado 2016 Fev 18]; 16(11):4295- 306. Available from: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n11/a02v16n11.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n11/a02v...
Porém, a promoção exige um esforço coletivo/intersetorial, ao passo que a prevenção requer um maior envolvimento do profissional no contexto individual e integração com a equipe interdisciplinar que compõe a rede assistencial.
Outro estudo que buscou conhecer as ações de promoção da saúde desenvolvidas por enfermeiros nos atendimentos coletivos da APS aponta que as ações de promoção da saúde se apresentam como um conceito amplo, sendo necessário, para sua implantação, empenho intersetorial, do indivíduo e coletivos, pois isso não depende só do setor de saúde.2020 Maceno PR, Heidemann ITSB. Unveiling the actions of nurses in primary health care groups. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2016 Dec [cited 2017 Feb 15]; 25(4):e2140015. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072016000400326&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Com relação às limitações nas práticas preventivas para as pessoas com DM na APS, denota-se que os profissionais tinham como foco uma assistência mais voltada para os problemas agudos e não para a condição crônica das pessoas. Não havia um envolvimento com intervenções preventivas, visando evitar o desenvolvimento de complicações mais tardias, como previsto pelo nível quaternário de prevenção à saúde.88 Jamoulle M. Quaternary prevention: first, do not harm. In: Text prepared for the 11th Congres of the Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Brazilia, Brasil. Brazilia (DF); 2011 [cited 2014 Apr 10]. Available from: http://docpatient.net/mj/P4_Brasilia2011_en.pdf
http://docpatient.net/mj/P4_Brasilia2011...
,1616 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014. Não havia uma antecipação dos possíveis problemas decorrentes dessa falta de prevenção para as pessoas, suas famílias, comunidade, serviços e sistema de saúde. Como sujeitos da ação, os profissionais de saúde não assumiam e não adotavam concepções preventivas nessa atenção e não compreendiam suas responsabilidades diante desse contexto.
As práticas preventivas eram sobrepujadas pelas ações assistencialistas, de caráter curativista, como uma necessidade implícita do serviço em estabelecer prioridades para esse tipo de atendimento, e dos profissionais em realizarem ações que atendessem, de maneira singular e linear, as demandas exigidas no cotidiano do serviço. Mas, a execução das práticas preventivas no contexto da APS compõe um fenômeno complexo marcado pelo cuidado, o qual requer múltiplas interações entre indivíduos envolvidos no processo, meio ambiente e práticas em saúde,2121 Rocha AS, Spagnuolo RS, Bocchi SCM. Health care: integrative review of knowledge produced in light of complexity. Cienc Cuid Saude [Internet]. 2013 Jan-Mar [cited 2015 Oct 10]; 12(1):189-97. Available from: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/10722/pdf_1
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/C...
necessitando que o profissional de saúde seja o interlocutor dessas interações, para que a assistência aconteça de forma positiva.
Ademais, os problemas eram vistos e resolvidos apenas na sua superficialidade, sem que as pessoas fossem enxergadas em sua totalidade e integralidade, frente à complexidade de seus processos saúde/doença. Nesse sentido, a educação em saúde, considerada uma estratégia básica para a promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos,11 American Diabetes Association. Diabetes advocacy. Diabetes Care [Internet]. 2016 Jan [cited 2016 Mar 18]; 39(1 Supplement):S105-6. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/39/Supplement_1/S105.full
http://care.diabetesjournals.org/content...
,2222 Manna JL, Bushy A, Norris A, Chase SK. Early and intermediate hospital-to-home transition outcomes of older adults diagnosed with diabetes. Diabetes Educ [Internet]. 2016 Jan [cited 2015 Sep 20]; 42(1):72-86. Available from: http://etd.fcla.edu/CF/CFE0004875/Lamanna_Jacqueline_201308_PhD.pdf
http://etd.fcla.edu/CF/CFE0004875/Lamann...
era, reconhecidamente, como não integrando a prática assistencial no dia a dia. Essa situação tem repercussões na vida das pessoas com DM, na prevenção das complicações crônicas.
Assim, torna-se necessário que a assistência contemple a pessoa frente à complexidade de seus processos saúde/doença, dando espaços para um diálogo aberto e resolutivo diante das necessidades particulares e momentâneas de cada uma delas. Deve, ainda, prover espaços para as famílias serem inseridas nesse processo de cuidar das pessoas com DM, buscando integrar sua rede social e a rede de atenção em saúde para respostas mais efetivas. A educação em saúde, nesse contexto, deve ser resgatada e valorizada como um instrumento de trabalho fundamental para assistir as pessoas com doenças crônicas, em especial com DM. Essa educação deve considerar as especificidades da doença e as demandas geradas por ela, para a promoção de um controle efetivo e integral que seja capaz de alcançar a prevenção das complicações crônicas.
A prevenção no contexto da APS engloba uma dinâmica complexa envolvendo sistema, política, gestão, equipe, profissionais em um movimento de encontros e desencontros, que recebe influências e é influenciado por vários outros contextos intervenientes. Dentre outros, destaca-se a influência do próprio Sistema Único de Saúde (SUS), o qual se encontra incompletamente implantado; ainda sofre fortes influências das práticas que não valorizavam o cuidado humanizado e a excelência técnica de seus profissionais; a gestão é pouco profissionalizada e muda conforme a administração pública; e a medicina da família e comunidade ainda é pouco expressiva no contexto brasileiro.2323 Tesser CD. Prevenção quaternária para a humanização da atenção primária à saúde. Mundo Saúde [Internet]. 2012 Jun/Set [citado 2015 Oct 12]; 36(3):416-26. Available from: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/95/3.pdf
http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_sau...
Entretanto, estudo aponta que o acesso na APS tem melhorado muito com a implantação da ESF, mas ainda persiste a fragmentação e a desarticulação dentro do sistema de saúde público.1717 Amorim ACCL, Assis MMA, Santos AM, Jorge MSB, Servo MLS. Practices of the family health team: advisors of the access to the health services? Texto Contexto Enferm [Internet]. 2014 Oct/Dec [cited 2016 Jan 12]; 23(4):1077-86. Available from: http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/0104-0707-tce-23-04-01077.pdf
http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/0104-...
Levando em conta o conceito de rede para o Pensamento Complexo,2424 Morin E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010. o sistema de saúde, frente à sua complexidade, suas múltiplas dimensões e todas as contradições que o envolvem, é capaz de influenciar os diversos sistemas à sua volta e seus múltiplos subsistemas interconectados, assim como de receber influências de todos os outros. Nesse sentido, as ações dos profissionais podem ser compreendidas como reflexo das limitações existentes na operacionalização desse sistema, diante das múltiplas demandas a partir das quais, muitas vezes, não se consegue contemplar todas as responsabilidades propostas.
Para tanto, faz-se necessária a reforma do pensamento, a qual requer mudanças de natureza paradigmática, por serem estruturas de pensamento que comandam discursos e teorias de modo inconsciente.2424 Morin E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010. É preciso romper o pensamento simplificador que tem como princípio a disjunção e a redução; e que domina a cultura humana na atualidade, requerendo a inserção de um paradigma complexo resultante do conjunto de novas concepções, visões, descobertas e reflexões as quais devem ser acordadas e reunidas.2424 Morin E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010.
Assim, os esforços para que os profissionais de saúde trabalhem nos diversos níveis de prevenção à saúde devem ser somados quando se considera que alguns dos múltiplos fatores intervenientes para o desenvolvimento de uma complicação crônica do DM podem ser trabalhados nos serviços de saúde da APS. As complicações crônicas do DM trazem sofrimento às pessoas, suas famílias, dificuldades e limitações para a sociedade e para o Estado, aumento das demandas dos serviços terciários de saúde, que não têm condições de fornecer acompanhamento em longo prazo para as pessoas gerirem seus processos de saúde/doenças.
O estudo demarca que, em conjunto, os profissionais de saúde precisam avançar tendo como base teórica os princípios dos níveis de prevenção em saúde, inclusive na presença de uma doença crônica, objetivando evitar suas complicações, o que compreende também evitar a evolução da doença, e, consequentemente, atuar de maneira efetiva na cadeia preventiva, ou seja, em todos os níveis de prevenção em saúde.
Destaca-se que esse estudo ocorreu em um único município e que teve como participantes profissionais de saúde de cinco EqSF. Porém, ele registra a necessidade de mais estudos nessa área e de um maior envolvimento das pessoas integrantes desse cenário em atrelar a prática assistencial com os níveis de prevenção em saúde.
CONCLUSÃO
A assistência realizada e conduzida pelos integrantes das EqSFs e gestores às pessoas com DM demarcou a existência de problemas em todos os níveis de prevenção em saúde. Apesar das ações existentes voltadas ao nível primário, estas ainda eram preliminares, e os demais níveis não eram valorizados no contexto do cuidado. A atenção em saúde era marcada por ações voltadas para o problema imediato, as quais eram incapazes de vislumbrar potencialidades de complicações para tentar contê-las, na intencionalidade de prevenir agravos às pessoas e ônus ao sistema de saúde.
As ausências e fragilidades apontadas acenam para o fato de que a atenção às pessoas com DM na APS encontrava-se fragmentada e disjuntiva de uma assistência que contemple a integralidade e a totalidade necessária nesse processo e que fosse capaz de trabalhar nos níveis de prevenção em saúde.
-
1
Artigo extraído da tese - Atenção Primária à Saúe e a prevenção das complicações crônicas às pessoas com Diabetes Mellitus à luz da complexidade, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PEN) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em 2015
REFERÊNCIAS
-
1American Diabetes Association. Diabetes advocacy. Diabetes Care [Internet]. 2016 Jan [cited 2016 Mar 18]; 39(1 Supplement):S105-6. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/39/Supplement_1/S105.full
» http://care.diabetesjournals.org/content/39/Supplement_1/S105.full -
2American Diabetes Association. Strategies for improving care. Diabetes Care [Internet]. 2015 Jan [cited 2016 Jan 10]; 38(Suppl 1):S5-7. Available from: http://care.diabetesjournals.org/content/suppl/2014/12/23/38.Supplement_1.DC1/January_Supplement_Combined_Final.6-99.pdf
» http://care.diabetesjournals.org/content/suppl/2014/12/23/38.Supplement_1.DC1/January_Supplement_Combined_Final.6-99.pdf -
3Zimmet PZ, Magliano DJ, Shaw JE. Diabetes: a 21st century challenge. Lancet [Internet]. 2014 Jan [cited 2015 Oct 13]; 2(1):56-64. Available from: http://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(13)70112-8.pdf
» http://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(13)70112-8.pdf -
4Barquera S, Salinas CA, Ridaura RL, Arredondo A, Dommarco JR. Diabetes in Mexico: cost and management of diabetes and its complications and challenges for health policy. Global Health [Internet]. 2013 [cited 2014 Mai 15]; 9(3). Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599194/?report=classic
» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3599194/?report=classic -
5Brasil. Portaria n. 687/GM, de 30 de março de 2006: aprova a Política de Promoção da Saúde. 2006. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria687_30_03_06.pdf
» http://189.28.128.100/dab/docs/legislacao/portaria687_30_03_06.pdf -
6Leavell H, Clark EG. Medicina preventiva. São Paulo (SP): McGrawHill do Brasil; 1976.
-
7Alwan, A. Noncommunicable disease: a major challenge to public health in the Region. East. Mediterr. Health J [Internet]. 1997 [cited 2014 Abr 10]; 3(1):6-16. Available from:http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/117217/1/emhj_1997_3_1_6_16.pdf
» http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/117217/1/emhj_1997_3_1_6_16.pdf -
8Jamoulle M. Quaternary prevention: first, do not harm. In: Text prepared for the 11th Congres of the Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), Brazilia, Brasil. Brazilia (DF); 2011 [cited 2014 Apr 10]. Available from: http://docpatient.net/mj/P4_Brasilia2011_en.pdf
» http://docpatient.net/mj/P4_Brasilia2011_en.pdf -
9Morin E. Ciência com consciência. 14ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010.
-
10Santos AEC, Souza SLP, Santos AW, Soares OMK, Yoshie YA, Antar GM. Condiciones de salud y funcionalidad de ancianos con diabetes mellitus tipo 2 en atención primária. Enferm Glob [Internet]. 2014 Apr [cited 2016 Mar 05]; 13(34):1-18. Disponible: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n34/clinica1.pdf
» http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v13n34/clinica1.pdf -
11Artilheiro MMVSA, Franco SC, Schulz VC, Coelho CC. Quem são e como são tratados os pacientes que internam por diabetes mellitus no SUS? Saúde debate [Internet]. 2014 Jun [cited 2016 Apr 23]; 38(101):210-24. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042014000200210&lng=pt
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042014000200210&lng=pt -
12Barreto MNSC, Cesse EAP, Lima RF, Marinho MGS, Specht YS, Carvalho EM, et al. Analysis of access to hypertensive and diabetic drugs in the family health strategy, state of Pernambuco, Brazil. Rev Bras Epidemiol [Internet]. 2015 Jun [cited 2016 Apr 23]; 18(2):413-424. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2015000200413
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2015000200413 -
13Avelino CCV, Goyatá SLT, Nogueira DA, Rodrigues LBB, Siqueira SMS. Quality of primary health care: an analysis of avoidable hospitalizations in a Minas Gerais county, Brazil. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2015 Abr [cited 2016 Jan 10]; 20(4):1285-93. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000401285&lng=en&nrm=iso&tlng=en
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000401285&lng=en&nrm=iso&tlng=en -
14Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2006.
-
15Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2013.
-
16Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2014.
-
17Amorim ACCL, Assis MMA, Santos AM, Jorge MSB, Servo MLS. Practices of the family health team: advisors of the access to the health services? Texto Contexto Enferm [Internet]. 2014 Oct/Dec [cited 2016 Jan 12]; 23(4):1077-86. Available from: http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/0104-0707-tce-23-04-01077.pdf
» http://www.scielo.br/pdf/tce/v23n4/0104-0707-tce-23-04-01077.pdf -
18Lanzoni GMM, Meirelles BHS, Cummings G. Nurse leadership practices in primary health care: a grounded theory. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2016 Oct [cited 2017 Feb 14]; 25(4):e4190015. Available from: http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n4/pt_0104-0707-tce-25-04-4190015.pdf
» http://www.scielo.br/pdf/tce/v25n4/pt_0104-0707-tce-25-04-4190015.pdf -
19Tesser CD, Garcia AV, Vendruscolo C, Argenta CE. Estratégia saúde da família e análise da realidade social: subsídios para políticas de promoção da saúde e educação permanente. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2011 Nov [citado 2016 Fev 18]; 16(11):4295- 306. Available from: http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n11/a02v16n11.pdf
» http://www.scielo.br/pdf/csc/v16n11/a02v16n11.pdf -
20Maceno PR, Heidemann ITSB. Unveiling the actions of nurses in primary health care groups. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2016 Dec [cited 2017 Feb 15]; 25(4):e2140015. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072016000400326&lng=en
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072016000400326&lng=en -
21Rocha AS, Spagnuolo RS, Bocchi SCM. Health care: integrative review of knowledge produced in light of complexity. Cienc Cuid Saude [Internet]. 2013 Jan-Mar [cited 2015 Oct 10]; 12(1):189-97. Available from: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/10722/pdf_1
» http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/10722/pdf_1 -
22Manna JL, Bushy A, Norris A, Chase SK. Early and intermediate hospital-to-home transition outcomes of older adults diagnosed with diabetes. Diabetes Educ [Internet]. 2016 Jan [cited 2015 Sep 20]; 42(1):72-86. Available from: http://etd.fcla.edu/CF/CFE0004875/Lamanna_Jacqueline_201308_PhD.pdf
» http://etd.fcla.edu/CF/CFE0004875/Lamanna_Jacqueline_201308_PhD.pdf -
23Tesser CD. Prevenção quaternária para a humanização da atenção primária à saúde. Mundo Saúde [Internet]. 2012 Jun/Set [citado 2015 Oct 12]; 36(3):416-26. Available from: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/95/3.pdf
» http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/95/3.pdf -
24Morin E. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18ª ed. Rio de Janeiro (RJ): Bertrand Brasil; 2010.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
2018
Histórico
-
Recebido
08 Jul 2016 -
Aceito
06 Abr 2017