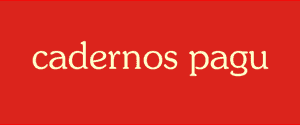Resumos
Este texto se volta para as vicissitudes do informante nativo como figura na representação literária. A autora trabalha "com uma oposição binária relativamente antiquada entre filosofia e literatura, segundo a qual a primeira concatena argumentos e a segunda concebe o impossível. Para ambas o informante nativo parece inevitável". Ela examina a posição desse informante à luz do que chama de "axiomática do imperialismo" em Jane Eyre, de Brontë, Wide Sargasso Sea, de Rhys, e Frankenstein, de Shelley, para concluir com uma leitura de "Pterodactyl, Puran Sahay and Pirtha", de Mahasweta Devi.
Gênero; Desconstrução; Imperialismo; Sujeito Nativo
This text picks at the vicissitudes of the native informant as figure in literary representation. Its author works "with rather an old-fashioned binary opposition between philosophy and literature; that the first concatenates arguments and the second figures the impossible. For both the native informant seems unavoidable". She examines the position of such informant, in the light of what she calls the "axiomatics of imperialism" in Brontë's Jane Eyre, in Rhys' Wide Sargasso Sea, and in Shelley's Frankenstein, to end up with a reading of Mahasweta Devi's "Pterodactyl, Puran Sahay and Pirtha".
Gender; Deconstruction; Imperialism; Native Subject
ARTIGOS
Literatura* * SPIVAK, Gayatri Chakravorty. A Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, pp.112-148. O Comitê Editorial dos Cadernos Pagu agradece as autorizações da autora e da editora para a tradução deste capítulo. (Tradução: Plínio Dentzien.)
Literature
Gayatri Chakravorty Spivak
Universidade de Columbia, USA
RESUMO
Este texto se volta para as vicissitudes do informante nativo como figura na representação literária. A autora trabalha "com uma oposição binária relativamente antiquada entre filosofia e literatura, segundo a qual a primeira concatena argumentos e a segunda concebe o impossível. Para ambas o informante nativo parece inevitável". Ela examina a posição desse informante à luz do que chama de "axiomática do imperialismo" em Jane Eyre, de Brontë, Wide Sargasso Sea, de Rhys, e Frankenstein, de Shelley, para concluir com uma leitura de "Pterodactyl, Puran Sahay and Pirtha", de Mahasweta Devi.
Palavras-chave: Gênero, Desconstrução, Imperialismo, Sujeito Nativo.
ABSTRACT
This text picks at the vicissitudes of the native informant as figure in literary representation. Its author works "with rather an old-fashioned binary opposition between philosophy and literature; that the first concatenates arguments and the second figures the impossible. For both the native informant seems unavoidable". She examines the position of such informant, in the light of what she calls the "axiomatics of imperialism" in Brontë's Jane Eyre, in Rhys' Wide Sargasso Sea, and in Shelley's Frankenstein, to end up with a reading of Mahasweta Devi's "Pterodactyl, Puran Sahay and Pirtha".
Key-words: Gender, Deconstruction, Imperialism, Native Subject.
Este capítulo se volta para as vicissitudes do informante nativo como figura na representação literária. Trabalho aqui com uma oposição binária relativamente antiquada entre filosofia e literatura, segundo a qual a primeira concatena argumentos e a segunda concebe o impossível. Para ambas o informante nativo parece inevitável. Fiquemos nessa oposição, no mínimo como uma différance, uma contra a outra, de modo que nosso discurso possa viver.
Escrevi no último capítulo que quando a Mulher é posta fora da filosofia pelo Sujeito Senhor, ela é forçada a essa demissão, e não excluída com um gesto retórico casual; e que os ardis contra o outro racial são diferentes. Tais tendências textuais são condição e efeito de idéias herdadas. A resistência e o objeto de resistência freqüentemente encontram sua melhor articulação em tais tendências disponíveis como campo de colheita para interpelações feitas e recebidas. Consigo entender as bravas energias do feminismo burguês no noroeste da Europa no século dezenove, do qual nós, enquanto mulheres publicando dentro do negócio internacional do livro, somos pelo menos parcialmente herdeiras, tendo sido interpeladas como resistência dentro desse campo. Tais narrativas são "verdadeiras" porque mobilizam. Como em todo ato instituidor, por pouco sistemático que seja, o sujeito do feminismo é produzido pela performance de uma declaração de independência, que deve necessariamente se afirmar como já realizada, numa afirmação reiteradora da identidade e/ou solidariedade das mulheres, natural, histórica, social, psicológica. Quando tal solidariedade é posta no modo triunfalista, deve desejar "celebrar a fêmea e não desconstruir o macho".1 1 Resenha de BENSTOCK, Shari. Women of the Left Bank. News from Nowhere 6, 1989, p.64. Mas que fêmea é objeto de tal celebração, de tal declaração de independência? Se isso envolver uma cumplicidade não reconhecida com os próprios machos que nos recusamos a desconstruir, talvez fosse o caso de uma crítica persistente.2 2 Para precaução similar, ver AMADIUME, Ifi. Male Daughters, Female Husbands . Londres, Zed, 1987, p.9. É um truísmo afirmar que a lei é constituída por sua própria transgressão; que a intimidade trivial é a relação entre o feminismo do século dezenove e a axiomática do imperialismo.
Ao ler mulheres escrevendo, homens celebrando a fêmea, homens e mulheres criticando o imperialismo na substância e retórica de seus textos, pareço ter feito pouco mais do que reiterar uma narrativa conhecida: os filósofos do noroeste da Europa excluíram o "informante nativo" para estabelecer o sujeito do noroeste da Europa como "o mesmo," tanto de cima quanto de baixo. As mulheres que publicam não chegam a ser exatamente-informantes-não-nativas, mesmo para estudiosas (os) feministas. Quando as mulheres que publicam pertencem à "cultura" dominante, às vezes compartilham, com os autores masculinos, a tendência a criar um "outro" incompleto (freqüentemente fêmea), que não chega a ser um informante nativo, mas uma peça de evidência material uma vez mais estabelecendo o sujeito do noroeste da Europa como "o mesmo". Tais tendências textuais são a condição e efeito de idéias herdadas. E, no entanto, contra todos os indícios, devemos escrever na esperança de que isso não é para sempre, de que é possível resistir de dentro.
Para resistir, devemos ter em mente que não deveria ser possível, em princípio, ler a literatura britânica do século dezenove sem lembrar que o imperialismo, entendido como a missão social da Inglaterra, era parte crucial da representação cultural da Inglaterra para os ingleses. O papel da literatura na produção da representação cultural não deve ser ignorado. Quando escrevi essas palavras pela primeira vez, esses dois "fatos" óbvios eram certamente desconsiderados na leitura da literatura britânica do século dezenove. Hoje, por contraste, uma parte do chamado feminismo pós-colonialista insiste sobre esses fatos com certo narcisismo. Isso por si só atesta o sucesso persistente do projeto imperialista, deslocado e disperso em formas mais modernas.
Ao tempo da primeira redação deste capítulo, algumas de nós esperávamos que, se esses "fatos" fossem lembrados, não só no estudo da literatura britânica, mas também no estudo das literaturas das culturas colonizadoras européias da grande era do imperialismo, poderíamos produzir uma narrativa, na história literária, do "estar no mundo" do que outrora foi chamado de "terceiro mundo" e hoje, cada vez mais, considerando de maneira desigual o segundo mundo, é chamado de "sul." No caso, a conjuntura atual produz uma dominante "culturalista" que parece inteiramente voltada a alimentar a consideração do velho terceiro mundo como culturas distantes, exploradas, mas com ricas e intactas heranças culturais à espera de serem recuperadas, interpretadas e curricularizadas em tradução inglesa/francesa/ alemã/holandesa; levando ao surgimento de um "sul" que é prova de um intercâmbio cultural transnacional.
Parece particularmente infeliz que a perspectiva emergente da crítica feminista às vezes reproduza os axiomas do imperialismo. Uma admiração isolacionista pela literatura do sujeito feminino na Europa e na Anglo-América estabelece a alta norma feminista. E é apoiada e operada por uma abordagem de recuperação da informação à literatura do Terceiro Mundo (o insultante termo cada vez mais utilizado é "emergente") que freqüentemente emprega uma metodologia deliberadamente "não teórica" com retidão auto-consciente.
Escrevi longamente sobre esse fenômeno no mundo pós-soviético. Neste capítulo examino sua prefiguração na literatura do século dezenove. Considero dois textos do século vinte que tentam alterar o caso, re-figurando textos mais antigos com intimidade crítica. Há um vislumbre assimétrico de uma escritora pós-colonial que exorbita esse itinerário.
Primeiro, um dos mais celebrados textos do feminismo: Jane Eyre.3 3 BRONTË, Charlotte. Jane Eyre. Nova Iorque, 1960 (doravante JE, seguido do número da página). Examinemos o alcance e tema da novela, e localizemos seus motores estruturais. Leiamos então Wide Sargasso Sea como re-inscrição de Jane Eyre e Frankenstein como uma análise até mesmo uma desconstrução de um "estar no mundo" como o de Jane Eyre.4 4 RHYS, Jean. Wide Sargasso Sea. Harmondsworth, Penguin, 1966 (referências à obra, abreviada como WSS, serão incluídas no texto); SHELLEY, Mary. Frankenstein; or, The Modern Prometheus. Nova Iorque, New American Library, 1965 (referências à obra, abreviada como F, serão incluídas no texto); DEVI, Mahasweta. Pterodactyl, Puran Sahay, and Pirtha. In: Imaginary Maps. Nova Iorque, Routledge, 1994, pp.95-196 (Tradução Spivak), (as referências, abreviadas como IM, serão incluídas no texto); Sobre "estar no mundo" ver HEIDEGGER, Martin. The Origin of the Work of Art. In: KRELL, David Farrell. (org.) Basic Works: From Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964). San Francisco, Harper, 1993, pp.137-212; A idéia de Heidegger, de que as linhas de conflito na fatura do texto são colocadas ou postas nele enquanto obra de arte, é útil. O que faço com esses textos está obviamente influenciado por minha idéia de como o por em funcionamento o modo de desconstrução é uma reinscrição do privilégio que Heidegger dá à obra de arte. Rhys e Shelley criticam a axiomática do imperialismo na substância e na retórica. "Pterodactyl, Puran Sahay e Pirtha", de Mahasweta Devi, desloca essa axiomática para o discurso pós-colonial.
Quase não preciso dizer que o objeto de minha investigação é o livro impresso, não seu "autor". Fazer tal distinção é ignorar a lição da desconstrução. Como indiquei no capítulo anterior, um tipo de abordagem desconstrutiva crítica consistiria em afrouxar a encadernação do livro, desmanchar a oposição entre o texto verbal e o sujeito nomeado "Charlotte Brontë", e ver a cada um como "cena da escrita" do outro. Nessa leitura, a vida que se escreve como "minha vida" é tanto uma produção no espaço sócio-psicológico (que pode ter outros nomes) quanto o livro escrito pelo detentor da vida nomeada um livro então consignado ao que é quase sempre reconhecido como genuinamente "social": o mundo da publicação e da distribuição.5 5 Tentei fazer isso em meu ensaio Unmaking and Making in To the Lighthouse. In: SPIVAK, G. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. Nova Iorque, Methuen, 1987, pp.30-45. Seria muito arriscado aqui tocar a "vida" de Charlotte Brontë de tal maneira.6 6 Em outro texto, a abordagem desconstrutiva a "uma vida", ao "crédito de um nome próprio", foi discutida. A vida de Brontë tem sido e continua a ser trabalhada com pressupostos bastante diferentes. Além de FRASER, Rebecca Charlotte Brontë. Londres, Methuen, 1988 e The Brontës: Charlotte Brontë and Her Family. Nova Iorque, Crown, 1988; GORDON, Lyndall. Charlotte Brontë: A Passionate Life. Nova Iorque, W. W. Norton, 1995; GASKELL, Elizabeth Cleghorn. The Life of Charlotte Brontë (1810-1865), adorável biografia contemporânea femi-erótica, org. Alan Shelston. Harmondsworth, Penguin, 1975; PETERS, Margot. Unquiet Soul: A Biography of Charlotte Brontë. Garden City, NI, Doubleday, 1975; e WINNIFRITCH, Tom. A New Life of Charlotte Brontë. Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1988, há a considerável correspondência e WARD, Humphrey. The Life and Works of Charlotte Brontë and Her Sisters. Londres, John Murray, 1920-1922, iniciada em 1899 pelo infatigável Ward, e que continua até 1929. Tudo o que podemos fazer é apontar para a estrutura de exclusão da novela nas páginas que seguem. Melhor procurar abrigo numa abordagem mais conservadora que, não desejando perder as importantes vantagens conquistadas pelo feminismo norte-americano, continue a honrar as suspeitas oposições binárias livro e autor, indivíduo e história e comece com uma afirmação como esta: minhas leituras aqui não tentam sabotar a excelência da artista individual. Se tiverem o mínimo sucesso, essas leituras incitarão alguma raiva da narrativização imperialista da história, precisamente porque fornece um roteiro tão abjeto para uma mulher que preferiríamos celebrar. Ofereço essas garantias para permitir-me o espaço necessário para situar o individualismo feminista em sua determinação histórica e não para canonizá-lo como feminismo enquanto tal.
Algumas feministas observaram que não faço justiça à subjetividade de Jane Eyre. Uma breve explicação talvez seja necessária. O que está em jogo são as linhas gerais de minhas pressuposições, pois o individualismo feminista na era do imperialismo é precisamente obra de seres humanos, a constituição e "interpelação" do sujeito não só como indivíduo, mas também como "individualista".7 7 Como sempre, tomo a fórmula de ALTHUSSER, Louis. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation). In: "Lenin and Philosophy" and Other Essays. Nova Iorque, Monthly Review Press, 1971, pp.127-186 (Trad. Ben Brewster). Para uma aguda distinção entre indivíduo e individualismo, ver VOLOSINOV, V. N. Marxism and the Philosophy of Language. Nova Iorque, Studies in Language, 1973, pp.93-94, 152-153 (trad. Ladislav Matejka e I. R. Titunik). Para uma análise "direta" das raízes e ramificações do "individualismo inglês," ver MACPHERSON,C. B. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke. Oxford, Oxford University Press, 1962. O que está em jogo é representado em dois registros: a criação de filhos e a construção da alma. A primeira é a "sociedade doméstica via reprodução sexual" elevada a "amor companheiro"; a segunda é o projeto imperialista elevado a "sociedade civil via missão social." Como a individualista, "não exatamente não homem", se articula em relação instável com o que está em jogo, a "nativa subalterna" (dentro do discurso, como um significante) é excluída de qualquer participação nessa norma emergente.8 8 Faço uma analogia com a noção poderosa de Homi Bhabba de "não exatamente não branco". BHABBA, Homi. Of Mimicry and Man: The Ambiguity of Colonial Discourse. October 28, Primavera, 1984, p.132. Devo acrescentar que uso aqui a palavra "nativa" em reação ao termo "Mulher do Terceiro Mundo." Ela não pode, é claro, aplicar-se com a mesma justiça histórica tanto ao contexto das Índias Ocidentais quanto ao da Índia, nem a outros contextos de imperialismo por transposição. A subalterna será definida no próximo capítulo. É suficiente aqui dizer que ela é vista contra a burguesia emergente das colônias, cuja participação na emancipação feminina é outra história. Bertha Mason em Jane Eyre não é, nesse sentido, uma subalterna. Como argumento adiante, ela é afastada da mobilidade burguesa de classe por sua loucura; os loucos são subalternos de uma categoria especial. Devo também acrescentar que a categoria de subalternidade, como a do exílio, funciona de modo diferente para as mulheres. Se lermos essa narrativa de uma perspectiva isolacionista num contexto "metropolitano", nada vemos a não ser a psicobiografia do sujeito mulher militante. Numa leitura como a minha, por contraste, o esforço é livrar-se do foco mesmerizante da "constituição do sujeito" da mulher individualista.
Desenvolvendo a noção de que minha posição não precisa ser a de acusadora, refiro-me a uma passagem do "Caliban", de Roberto Fernandez Retamar, embora, como espero que fique claro mais adiante, eu mesma não pense que o pós-colonial precise tomar Caliban como modelo inescapável.9 9 RETAMAR, Roberto Fernandez. Caliban: Notes towards a Discussion of Culture in Our América. Massachusetts Review 15, Inverno-Primavera 1974, pp.7-72 (trad.: Lynn Garafola et alii); referências adicionais à obra, abreviada como C, serão incluídas no texto. José Enrique Rodó argumentava em 1900 que o modelo do intelectual latino-americano na sua relação com a Europa poderia ser o Ariel de Shakespeare.10 10 RODÓ, José Enrique. Ariel. BROTHERSTON, Gordon. (org.) Cambridge, Cambridge University Press, 1967. Em 1971, Retamar, negando a possibilidade de uma "Cultura Latino-americana" identificável, reformulou o modelo usando Caliban. Não é de surpreender que esse importante debate ainda exclua qualquer consideração específica das civilizações dos Maias, Astecas e Incas, ou das menores nações do que hoje se chama América Latina.11 11 Gordon Brotherston, organizador de Ariel, escreveu The Book of the Fourth World: Reading the Native Americas through Their Literature. Cambridge, Cambridge University Press, 1992, livro inspirado pela idéia da exclusão efetiva das Américas nativas no debate sobre a questão da identidade latino-americana. Notemos cuidadosamente que, a esta altura de meu argumento, esta "conversação" entre a Europa e a América Latina (sem uma consideração específica da economia política do "estar no mundo" do "nativo") fornece uma descrição temática suficiente de nossa tentativa de enfrentar o benevolente duplo vínculo etnocêntrico e etnocêntrico ao contrário (isto é, considerar o "nativo" como objeto de entusiástica recuperação da informação, negando-lhe assim seu próprio "estar no mundo") esboçado nos primeiros parágrafos.
Numa bela passagem de "Caliban," Retamar situa Caliban e Ariel no intelectual no neo-colonialismo:
Não há uma real polaridade Ariel-Caliban: ambos são escravos nas mãos de Próspero, o mago estrangeiro. Mas Caliban é o rude e inconquistável senhor da ilha, enquanto Ariel, criatura do ar, embora também filho da ilha, é o intelectual. O deformado Caliban escravizado, roubado de sua ilha, e que aprendeu a língua com Próspero responde assim: "Tu me ensinaste a língua, e o que ganhei é que sei praguejar." (C 28).
Quando tentamos desaprender nosso suposto privilégio como Ariel e "procuramos junto a [um certo] Caliban a honra de um lugar em suas fileiras rebeldes e gloriosas", não pedimos a nossos alunos e colegas que nos imitem, mas que nos assistam (C 72). Se, porém, formos tomados por uma nostalgia das origens perdidas, também corremos o risco de apagar o "nativo" e apresentar-nos como "o verdadeiro Caliban", de esquecer que ele é um nome numa peça, um vazio inacessível circunscrito por um texto interpretável.12 12 Para uma elaboração do "vazio inacessível circunscrito por um texto interpretável", ver o Capítulo 3. As representações de Caliban operam paralelamente à narrativização da história: pretender ser Caliban legitima precisamente o individualismo que devemos persistentemente tentar solapar de dentro.
Elizabeth Fox-Genovese, num artigo sobre a história e a história das mulheres, nos mostra como definir o momento histórico do feminismo no ocidente em termos do acesso feminino ao individualismo.13 13 FOX-GENOVESE, Elizabeth. Placing Women's History in History. New Left Review 133, Maio-Junho 1982, pp.5-29. Devo talvez acrescentar que, nas décadas que se passaram, acho cada vez mais difícil aceitar as conseqüências que Fox-Genovese extraiu de seu insight. A luta pelo individualismo feminino se desdobra dentro da cena mais ampla do estabelecimento do individualismo meritocrático, indexado no campo estético pela ideologia da "imaginação criativa". O pressuposto de Fox-Genovese nos guiará pela bela orquestração da abertura de Jane Eyre.
É uma cena da marginalização e privatização da protagonista: "Não havia possibilidade de dar um passeio naquele dia... O exercício ao ar livre estava fora de questão. Fiquei feliz com isso". (JE 9) O movimento continua quando Jane quebra as regras apropriadas à topografia da retirada. A família no centro se retira para o espaço arquitetônico sancionado da sala íntima; Jane se insere "Deslizei" na margem "uma salinha ao lado da sala íntima". (JE 9, minha ênfase)
A manipulação da inscrição doméstica do espaço dentro das correntes de mobilidade ascendente da burguesia dos séculos dezoito e dezenove na Inglaterra e na França é conhecida. Parece adequado que o lugar para onde Jane se retira não seja a sala íntima nem a sala de jantar, lugar sancionado para as refeições em família. Nem a biblioteca, lugar apropriado à leitura. A salinha "continha uma estante de livros". (JE 9) Como escrevia Rudolph Ackerman em seu Repository (1823), um dos muitos manuais de boas maneiras em circulação na Inglaterra do século dezenove, essas estantes baixas e prateleiras serviam para "conter todos os livros desejáveis para uma sala sem referência à biblioteca".14 14 ACKERMAN, Rudolph. The Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufactures, Fashions, and Politics. Londres, R. Ackerman, 1823, p.310. Mesmo nessa sala triplamente afastada do centro, "tendo puxado a cortina adamascada quase inteiramente, [Jane] estava duplamente retirada". (JE 9-10)
Aqui, na singularidade auto-marginalizada de Jane, o leitor se torna seu cúmplice: o leitor e Jane estão unidos ambos lêem. E, no entanto, Jane ainda preserva seu estranho privilégio, pois continua a nunca fazer a coisa apropriada no lugar próprio. Está pouco interessada no que deve ser lido: a "letra impressa". Ela lê as figuras. A força dessa hermenêutica singular é precisamente que ela pode fazer o de fora dentro. "Em certos momentos, virando as páginas do livro, estudava o aspecto da tarde de inverno". A chuva não penetra pela vidraça clara, "o triste dia de novembro" é um "aspecto" unidimensional a ser "estudado", não decodificado como a "letra impressa", mas, como os quadros, decifrado pela singular imaginação criativa da individualista marginal. (JE 10)
Antes de seguir a pista dessa imaginação singular, consideremos a sugestão de que o progresso de Jane Eyre pode ser mapeado por um arranjo seqüencial da díade família/anti-família. Na novela, encontramos, primeiro, os Reeds como família legal e Jane, filha da falecida irmã de Mr. Reed, como representante de uma quase incestuosa anti-família; segundo, os Blockhursts, que dirigem a escola a que Jane é mandada, como família legal, e Jane, Miss Temple e Helen Burns como uma anti-família um tanto insuficiente porque é só uma comunidade de mulheres; terceiro, Rochester e a louca Mrs. Rochester como família legal e Jane e Rochester como a contra-família ilícita. Outros itens podem ser acrescentados à cadeia doméstica nessa seqüência: Rochester e Celine Varens como anti-família estruturalmente funcional; Rochester e Blanche Ingram como dissimulação da legalidade e assim por diante. É durante essa seqüência que Jane é deslocada da anti-família para a família afim. Na seqüência seguinte, é Jane que restaura o pleno status de família à comunidade ainda incompleta dos irmãos, os Rivers. A seqüência final do livro é uma comunidade de famílias, com Jane, Rochester e seus filhos no centro.
Em termos da energia narrativa da novela, como Jane é deslocada do lugar da anti-família para o da família afim? É a capacidade de dar sentido, de ativo savoir-pouvoir do imperialismo que fornece o campo discursivo.15 15 Para uma explicação do savoir-pouvoir como capacidade de dar sentido, ver SPIVAK, G. More on Power-Knowledge. Outside, in the Teaching Machine. Nova Iorque, Routledge, 1993, pp.34-36.
(Minha definição operativa de "campo discursivo" precisa supor a existência de "sistemas de signos" discretos disponíveis no socius, cada um relacionado a uma axiomática específica. Expliquei em detalhe alhures de que maneira tal definição estaria num nível mais alto de instância social que o "murmúrio" terra-a-terra sub-individual ou pré-ôntico ou rede de pouvoir [ser capaz de] e savoir [saber] reduzida a força e expressão na teoria de Foucault. Identifico esses sistemas como campos discursivos. O "imperialismo como missão social" gera a possibilidade de uma dessas axiomáticas. Espero demonstrar pelo exemplo seguinte como o artista individual cobre o campo discursivo com um toque seguro, se não com clarividência histórica, para fazer com que a estrutura narrativa mude. É crucial estender nossa análise desse exemplo para além do diagnóstico mínimo de "racismo".)16 16 Essa precaução parece particularmente importante. É evidente que o "racismo" é um problema imensamente complexo. (Podemos começar a sentir sua complexidade teórica consultando a obra de Anthony Appiah, Kimberle Crenshaw, Kendall Thomas e Patrícia Williams, entre outros). Mas seu uso diagnóstico é outra coisa. Desde sua publicação original em 1985, a versão deste capítulo foi reeditada pelo menos onze vezes e continua a sê-lo, em velocidade alarmante. Em sua versão original, o ensaio surgiu a partir do choque da descoberta da axiomática do imperialismo num texto conhecido desde a infância na Índia imediatamente pós-independência. Dessa forma, o ensaio não trazia a marca da consciência da cumplicidade que veio a se desenvolver lentamente depois. Uma simples invocação de raça e gênero, sem o freio da auto-crítica, encobre com sucesso a exploração. Essa, creio, é a fonte da popularidade da versão anterior.
Consideremos a figura de Bertha Mason, figura produzida pela axiomática do imperialismo. Através de Bertha Mason, a nativa jamaicana branca, Brontë torna a fronteira humano-animal algo aceitavelmente indeterminado, de tal modo que um bem maior que a letra da lei possa ser abordado. Eis a famosa passagem, na voz de Jane:
Na sombra mais profunda, do outro lado da peça, uma figura andava para cá e para lá. O que era, se besta ou ser humano, não se podia.... saber: arrastava-se aparentemente de quatro; gesticulava e rosnava como estranho animal selvagem: mas estava coberta com roupas, e grande quantidade de cabelo escuro, grisalho, selvagem como uma juba, ocultava sua cabeça e seu rosto. (JE 295)
Em outra passagem, na voz de Rochester que se dirige a Jane, Brontë apresenta o imperativo para um deslocamento para além da Lei: como que impulsionada por injunção divina mais que por motivo humano. Nos termos de meu argumento, poderíamos dizer que esse é o registro não de um mero casamento ou mera reprodução sexual, mas da Europa e seu Outro ainda não humano, da construção da alma. O campo da conquista imperial é aqui inscrito como Inferno:
Uma noite fui acordado por seus gritos... era uma noite abrasadora das Índias Ocidentais...
"Esta vida", eu disse por fim, "é o inferno! está no ar esses são os sons do poço sem fundo! Eu tenho o direito de livrar-me dela se puder... Deixe-me ir, voltar para a casa de Deus!"...
Um vento fresco da Europa soprou sobre o oceano, e entrou pela janela aberta: a tempestade chegou, jorrou, explodiu, resplandeceu, e o ar ficou puro... Foi a verdadeira Sabedoria que me consolou naquela hora, e me mostrou o caminho...
O doce vento da Europa ainda assobiava nas folhas, e o Atlântico troava em gloriosa liberdade...
"Vai", disse a Esperança, "volta a viver na Europa... Já fizeste tudo o que Deus e a Humanidade pediam de ti."
(JE 310-311, minha ênfase.)
É o inquestionável pouvoir-savoir da axiomática imperialista, então, que condiciona o movimento de Jane, do conjunto da anti-família para o da família afim. Críticos marxistas como Terry Eagleton viram isso apenas em termos da ambígua posição de classe da governanta.17 17 EAGLETON, Terry. Miths of Power: A Marxist Study of the Brontës. Nova Iorque, Barnes & Noble, 1975; essa é uma das proposições gerais do livro. Sandra Gilbert e Susan Gubar, por outro lado, viram Bertha Mason apenas em termos psicológicos, como o duplo escuro de Jane.18 18 GILBERT Sandra M. e GUBAR,Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven, Yale University Press, 1979, pp.360-362.
Não entrarei nos debates que aqui se apresentam. Desenvolverei simplesmente a sugestão de que o individualismo feminista do século dezenove poderia conceber um projeto "maior" do que o acesso ao círculo fechado da família nuclear. É o projeto da construção da alma para além da "mera" reprodução sexual. Aqui o "sujeito" nativo não é quase um animal, mas o objeto do que pode ser chamado de violação, em nome do imperativo categórico.19 19 No contexto da mulher de raça não especificada, Derrida vê Kant como o "pornógrafo categórico". Glas. Lincoln, University of Nebraska Press, 1986, p.128.
Uso "Kant" neste ensaio como metonímia do momento ético mais flexível no século dezoito europeu como apresentei no capítulo anterior. Kant põe em palavras o imperativo categórico, concebido como a lei moral universal dada na razão pura e "prescrita [pela razão prática] ao pensamento prático (à vontade empírica) [como] ...realiza-me", da seguinte maneira: "Tudo na criação que ele [o homem] quer e sobre o que tem poder pode ser usado como mero meio; só o homem e, com ele, toda criatura racional, é um fim em si mesmo".20 20 LYOTARD. Lessons, p.175, e KANT. Critique of Practical Reason. Nova Iorque, Macmillan, 1993, p.90 (trad. Lewis White Beck). A citação seguinte de Kant é da página 86. Trata-se de um tocante deslocamento da ética cristã da religião para a filosofia.21 21 Para uma comparação com a não disponibilidade dessa conjuntura histórica para o Islã, ver SPIVAK, G. Reading The Satanic Verses. In: Outside... Op. cit., pp.238-240. Como diz Kant:
A possibilidade de um mandamento como "Ama a Deus acima de tudo e a teu próximo como a ti mesmo" é consoante [stimmt zusammen] com isso. Pois, como mandamento, exige atenção [Achtung] a uma lei que determina amor e não deixa à escolha arbitrária fazer do amor o princípio.
O "categórico" em Kant não pode ser adequadamente representado na ação fundada na determinação. E o argumento central de L'impératif catégorique de Jean-Luc Nancy é que o imperativo categórico é a marca da alteridade (o amor não depende da liberdade de escolha, como dá a entender o texto citado) no ético. O perigoso poder transformador da filosofia, no entanto, é que sua sutileza formal pode ser travestida a serviço do Estado. No caso do imperativo categórico, esse travesti pode justificar o projeto imperialista produzindo a seguinte fórmula: faz do bárbaro um humano, de modo que ele possa ser tratado como um fim em si mesmo; no interesse de admiti-lo ao noumenon; o imperialismo de ontem, o "desenvolvimento" de hoje.22 22 No capítulo 3 tentei justificar a redução dos problemas sócio-históricos a fórmulas ou proposições. O "travesti" de que falo não acontece à ética kantiana em sua pureza como um acidente, mas antes existe em seus traços como complemento possível. Sobre o registro do ser humano como criança e não bárbaro, minha fórmula pode ser encontrada, por exemplo, em KANT. What Is Enlightenment?; Foundations of the Metaphysics of Morals, "What Is Enlightenment?" e Passage from "The Metaphysics of Morals. BECK, Lewis White. (org. e trad.) Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1959. Dan Rather se referiu aos haitianos como "crianças" durante uma reportagem do CBS Evening News em setembro de 1994, quando da ocupação do Haiti pelos Estados Unidos. Ver também SPIVAK, G. Academic Freedom. Pretexts 5.1-2, 1995 pp.117-156. Esse projeto é apresentado como uma espécie de tangente em Jane Eyre, tangente que escapa ao círculo fechado da conclusão narrativa. Essa tangente é a estória de St. John Rivers, a quem é dada a importante tarefa de concluir o texto.
No fim da novela, a linguagem alegórica da psicobiografia cristã mais que a gramática textualmente constituída e aparentemente privada da imaginação criativa que observei na abertura da novela marca a inacessibilidade do projeto imperialista enquanto tal ao nascente cenário "feminista". A passagem final de Jane Eyre coloca St. John Rivers nas dobras do Pilgrim's Progress. Eagleton não dá atenção a isso, mas aceita o léxico ideológico da novela, que estabelece o heroísmo de St. John Rivers, igualando uma vida em Calcutá a uma escolha indiscutível da morte. Gilbert e Gubar, chamando Jane Eyre de "Plain Jane's Progress" [O Progresso da Simples Jane], vêem a novela como uma simples substituição do protagonista pela protagonista. Não percebem a distância entre a reprodução sexual e a construção da alma, ambas realizadas pelo idioma não questionado dos pressupostos imperialistas evidentes na última parte de Jane Eyre:
Firme, fiel e devotado, cheio de energia, de zelo e de verdade [St. John Rivers] trabalha por sua raça... A sua é a austeridade do guerreiro Grande Coração, que protege seu comboio de peregrinos do assalto de Apollyon... A sua é a ambição dos grandes espíritos... que se apresentam sem pecado diante do trono de Deus; que compartilham as últimas vitórias gloriosas do Cordeiro; que são chamados, e escolhidos, e fiéis. (JE 455)
Antes na novela, o próprio St. John Rivers justifica o projeto:
Minha vocação? Minha grande obra?... Minha esperança de ser contado entre os que puseram todas as ambições na missão gloriosa de melhorar sua raça de levar o conhecimento ao mundo da ignorância de substituir a guerra pela paz a escravidão pela liberdade a superstição pela religião o medo do inferno pela esperança do céu? (JE 376)
O imperialismo e seu projeto territorial e de constituição do sujeito tentam uma violenta desconstrução das oposições em que essa passagem insiste.
Quando Jean Rhys, nascida na ilha caribenha de Dominica, leu Jane Eyre na infância, ficou comovida com Bertha Mason: "Pensei em tentar escrever sua vida".23 23 Jean Rhys, em entrevista a Elizabeth Vreeland, apud Jean Rhys and the Novel as Women's Text. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988, p.128. Maggie Humm e outras exploraram melhor que eu o contexto das Índias Ocidentais. O excelente ensaio de Humm pensa que eu "subestimo" Cristophine. Repito: acredito que é uma das virtudes da novela de Rhys mostrar o descontrole de Cristophine. É claro que ela é uma forte figura de mãe, mas no fim, e textualmente, ela cede. Humm, Maggie. Border Traffic: Strategies of Contemporary Women Writers. Nova Iorque, Manchester University Press, 1991, pp.62-93. Wide Sargasso Sea, a curta novela publicada em 1965, ao fim da longa carreira de Rhys, é essa "vida".
Sugeri que a função de Bertha em Jane Eyre é tornar indeterminada a fronteira entre o humano e o animal e, portanto, enfraquecer seu estatuto no espírito senão na letra da lei. Quando Rhys reescreve a cena de Jane Eyre em que Jane ouve "um som de rosnado, ataque, quase como de um cachorro" e encontra Richard Mason sangrando (JE 210), ela mantém intacta a humanidade de Bertha. Grace Poole, outra personagem originalmente de Jane Eyre, descreve o incidente para Bertha em Wide Sargasso Sea:
Então você não lembra que atacou aquele cavalheiro com uma faca? .... Eu não ouvi tudo o que ele disse, exceto "não posso interferir legalmente entre você e seu marido". Foi quando ele disse "legalmente" que você voou sobre ele. (WSS 150)
Na versão de Rhys, é a duplicidade em Richard que Bertha percebe na palavra "legalmente" e não a mera bestialidade nela que provoca sua reação violenta.
Na figura de Antoinette, que em Wide Sargasso Sea Rochester violentamente renomeia como Bertha, Rhys sugere que uma coisa tão íntima como uma identidade pessoal e humana deve ser determinada pela política do imperialismo. Antoinette, como criança nativa branca que cresceu ao tempo da emancipação na Jamaica, está aprisionada entre o imperialista inglês e o nativo negro. Ao narrar o desenvolvimento de Antoinette, Rhys reinscreve algumas temáticas do Narciso.
Há muitas imagens de espelhamento no texto. Citarei uma da primeira seção. Nessa passagem, Tia é a pequena servente negra que é a companheira mais próxima de Antoinette:
Comemos a mesma comida, dormimos lado a lado, nos banhamos no mesmo rio. Quando eu corria, pensava, viverei com Tia e serei como ela... Quando cheguei perto vi a pedra cortante em sua mão mas não a vi atirar... Nos encaramos, sangue no meu rosto e lágrimas no dela. Foi como se visse a mim mesma. Como num espelho. (WSS 38)
Uma seqüência progressiva de sonhos reforça a imagem do espelho. Em sua segunda ocorrência, o sonho se passa parcialmente num hortus conclusus, um "jardim fechado" Rhys usa a expressão (WSS 50) uma reescritura romântica do topos do Narciso como o lugar do encontro com o Amor.24 24 Ver VINGE, Louise. The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Early Nineteenth Century. Lund, Gleepers, 1967, cap. 5 (trad. Robert Dewsnap et alii). No jardim fechado, Antoinette encontra, não o Amor, mas uma estranha voz ameaçadora que simplesmente diz "aqui", convidando-a a uma prisão que se disfarça como a legalização do amor. (WSS 50)
Nas Metamorfoses de Ovídio, a loucura de Narciso é revelada quando ele reconhece seu outro como si mesmo: "Iste ego sum".25 25 Para um estudo detalhado desse texto, ver BRENKMAN,John. Narcissus in the Text. Georgia Review 30, Verão 1976, pp.293-327; e SPIVAK, G. Echo. In: LANDRY, Donna e MCLEAN, Gerald. (orgs.) The Spivak Reader. Nova Iorque, Routledge, 1995, pp.126-202. Rhys faz com que Antoinette se veja como sua outra, a Bertha de Brontë. Na última seção de Wide Sargasso Sea, Antoinette encena a conclusão de Jane Eyre e se reconhece como o dito fantasma de Thornfield Hall: "Entrei outra vez na sala com a vela na mão. Foi então que a vi o fantasma. A mulher do cabelo escorrido. Ela estava cercada de uma moldura dourada, mas eu a conhecia" (WSS 154). A moldura dourada cerca um espelho: como o poço de Narciso reflete o outro tornado eu, este "poço" reflete o eu tornado outro. Aqui acaba a seqüência de sonhos, com uma invocação de ninguém menos que Tia, a outra que não pode ser tornada eu, porque interveio, não o poço de Ovídio, mas a fratura do imperialismo. (Voltarei a este ponto difícil). "Foi a terceira vez que tive meu sonho, e ele acabou... Chamei 'Tia' e pulei e acordei" (WSS 155). E agora, bem no fim do livro, Antoinette/Bertha pode dizer: "Agora, por fim, eu sei porque fui trazida para cá e o que tenho que fazer" (WSS 155-156). Podemos ler essa passagem como se ela tivesse sido trazida para a Inglaterra da novela de Brontë: "Esta casa de papelão" um livro entre capas de papelão "onde ando à noite não é a Inglaterra" (WSS 148). Nessa Inglaterra fictícia, ela deve desempenhar seu papel, encenar a transformação de si mesma na Outra fictícia, por fogo na casa e matar-se, para que Jane Eyre possa se tornar a heroína feminista individualista da ficção britânica. Devo ler isso como uma alegoria da violência sistêmica geral do imperialismo, a construção de um sujeito colonial que se auto-imola para glorificação da missão social do colonizador.26 26 Asseguro a Mukherjee que não penso que essa é a única violência perpetrada pelo imperialismo. MUKHERJEE Arun P. Interrogating Postcolonialism: Some Uneasy Conjunctures. In: TRIVEDI, Harish e MUKHERJEE, Meenakshi. (orgs.) Interrogating Postcolonialism: Theory, Text and Context. Shimla, Indian Institute of Advanced Study, 1996, p.19. É só que pessoas como ela e eu podem ser afetadas por isso sem querer, e assim é melhor esclarecer. Rhys dá um jeito para que a mulher das colônias não seja sacrificada como animal louco para a consolidação de sua irmã.
Críticos observaram que Wide Sargasso Sea trata Rochester com compreensão e simpatia.27 27 Ver, por exemplo, STALEY, Thomas F. Jean Rhys: A Critical Study. Austin, University of Texas Press, 1979, pp.108-116. É interessante notar o desconforto de Staley com isso e sua conseqüente insatisfação com a novela. É ele quem narra toda a seção intermediária do livro. Rhys deixa claro que ele é vítima do direito patriarcal da herança e não da preferência natural de um pai pelo primogênito: em Wide Sargasso Sea, a situação de Rochester é claramente a de um filho mais jovem enviado às colônias para comprar uma herdeira.
Se no caso de Antoinette e sua identidade Rhys utiliza a temática do Narciso, no caso de Rochester e seu patrimônio ela toca a temática do Édipo. (Nisso ela está com o dedo em nosso "momento histórico". Se, no século dezenove, a constituição do sujeito é representada como ter filhos e construir a alma, no século vinte a psicanálise permite que a Europa do norte encene o itinerário do sujeito de Narciso [o "imaginário"] a Édipo [o "simbólico"].28 28 É claro que se trata de um sumário bruto do expurgo de Lacan do conteúdo narrativo do cenário de Freud. Todo uso de "teoria" neste livro ou é reconstelativo ou é "equivocado." Continua a fascinar-me como os críticos juram pela aplicabilidade universal da escassa evidência usada por Freud e Lacan. Esse sujeito, porém, é o sujeito masculino normativo. Na reinscrição desse tema por Rhys, dividida entre os protagonistas masculino e feminina, o feminismo e uma crítica do imperialismo estão juntos.)
Em lugar da cena do "vento da Europa", Rhys escreve sobre uma carta suprimida a um pai, uma carta que seria a explicação "correta" da tragédia do livro.29 29 Tentei relacionar castração e cartas suprimidas em meu The Letter As Cutting Edge. In: In Other Worlds... Op. cit., pp.3-14. "Pensei sobre a carta que deveria ter sido escrita à Inglaterra há uma semana. Querido Pai..." (WSS 57).
Esse é o primeiro caso: a carta não escrita. Logo depois:
Querido Pai. As trinta mil libras me foram pagas sem perguntas nem condições. Nenhuma combinação sobre ela (precisamos ver isso)... Nunca serei uma vergonha para o senhor ou para meu querido irmão, o filho que o senhor ama. Nem cartas de súplicas, nem pedidos mesquinhos. Nenhuma das miseráveis manobras furtivas do filho mais jovem. Vendi minha alma ou o senhor a vendeu, e, afinal, foi tão mau o negócio? A moça é considerada bela, ela é bela. E no entanto... (WSS 59)
Esse é o segundo caso: a carta não enviada. A carta formal é desinteressante. Cito só uma parte:
Querido pai, chegamos da Jamaica depois de alguns dias desconfortáveis. Aquela pequena propriedade nas Windward Islands é parte dos bens da família e Antoinette é muito ligada a ela... Está tudo bem e segue de acordo com seus planos e desejos. Entrei em contato, é claro, com Richard Mason.... Parece que ficou ligado a mim e confiou em mim completamente. O lugar é muito bonito, mas minha doença me deixou por demais exausto para apreciá-lo plenamente. Escreverei novamente em alguns dias.
(WSS 63)
E assim por diante.
A versão que Rhys dá do tom edipiano é irônica, não um círculo fechado. Não sabemos se a carta de fato chega a seu destino. "Imaginei como enviavam sua correspondência," cisma Rochester. "Dobrei a minha e a joguei numa gaveta... Há brancos em minha mente que não consigo preencher" (WSS 64). É como se o texto nos forçasse a notar a analogia entre carta e mente.
Rhys nega ao Rochester de Brontë exatamente aquilo que supostamente é garantido na substituição edipiana: o Nome do Pai, ou patronímico. Em Wide Sargasso Sea, o personagem que corresponde a Rochester não tem nome. Sua escrita da versão final da carta ao pai é supervisionada, no sentido mais estrito possível, por uma imagem da perda do patronímico:
Havia uma estante rústica de três tábuas sobre a escrivaninha e eu olhei para os livros, os poemas de Byron, novelas de Sir Walter Scott, Confissões de um Comedor de Ópio... e na última prateleira, Vida e Cartas de... O resto tinha sido comido. (WSS 63; minha ênfase)
É uma das virtudes de Wide Sargasso Sea que ela marque, com rara clareza, os limites de seu próprio discurso; em Cristophine, a enfermeira negra de Antoinette. Talvez possamos imaginar a distância entre Jane Eyre e Wide Sargasso Sea, observando que a estória inacabada de Cristophine é a tangente a esta última narrativa, como a estória de St. John Rivers o é à primeira. Cristophine não é nativa da Jamaica; vem de Martinica. Taxonomicamente, pertence à categoria dos bons criados mais que à das nativas puras. Mas dentro desses limites, Rhys cria uma figura poderosamente sugestiva.
Cristophine é a primeira intérprete e primeiro sujeito falante no texto. "As senhoras jamaicanas nunca aceitaram minha mãe, 'porque ela era linda-linda', disse Cristophine" (WSS 18). Embora seja uma pessoa coisificada ("ela foi presente de casamento que seu pai me deu", explica a mãe de Antoinette, "um de seus presentes" [WSS 18]), Rhys lhe atribui funções cruciais no texto. É Cristophine que julga que as práticas rituais negras são específicas da cultura e não podem ser usadas pelos brancos como remédio barato para males sociais como a falta de amor de Rochester por Antoinette. Mais importante, é só a Cristophine que Rhys permite uma análise séria das ações de Rochester, desfiando-o num encontro cara a cara. Toda a longa passagem é digna de comentário. Cito um breve excerto:
Ela é uma menina nativa, e nela tem sol. Agora, de verdade. Ela não foi na sua casa nesse lugar a Inglaterra de que falam, ela não foi na sua bela casa para pedir que você se casasse com ela. Não, foi você que veio de longe na casa dela você que pediu para casar. E ela o ama e deu a você tudo o que tinha. Agora você diz que não a ama e rompe. O que fez com o dinheiro dela, hein? [E então Rochester, o homem branco, comenta silenciosamente consigo mesmo:] Sua voz estava calma, mas sibilou quando falou "dinheiro". (WSA 130)
Mas Rhys não romantiza o heroísmo individual dos oprimidos. Quando o Homem se refere às forças da Lei e da Ordem, Cristophine reconhece seu poder. Essa exposição da desigualdade civil é sublinhada porque, logo antes da bem sucedida ameaça do Homem, ela acabara de invocar a emancipação dos escravos na Jamaica proclamando: "Sem correntes, sem rodas e nem celas escuras. Este é um país livre e eu sou uma mulher livre" (WSS 131).
Como mencionei acima, Cristophine é tangencial a essa narrativa. O texto de Rhys não tentará contê-la em uma novela que reescreve um livro inglês canônico dentro da tradição novelística européia no interesse do nativo branco. Nenhuma perspectiva crítica do imperialismo pode transformar o outro num eu, porque o projeto do imperialismo já refratou o que poderia ter sido um outro incomensurável e descontínuo num outro já domesticado que consolida o imperialismo do eu (continuarei a sublinhar esse ponto). O Caliban de Retamar, preso entre a Europa e a América Latina, reflete essa sina. Podemos ler a inscrição do Narciso de Rhys como uma tematização da mesma problemática.
É claro que não conhecemos os sentimentos de Rhys sobre a questão. Podemos, porém, olhar para a cena da inscrição de Cristophine no texto. Imediatamente depois da troca entre ela e o Homem, muito antes da conclusão, ela é tranqüilamente posta para fora da estória, sem qualquer justificativa narrativa ou caracterológica. "'Ler e escrever eu não sei. Sei outras coisas.' Afastou-se sem olhar para trás" (WSS 133). Orgulhosa mensagem de abdicação textual "ler e escrever". Em minha opinião, a cena da abdicação é uma virtude singular, e não uma fraqueza de Wide Sargasso Sea.30 30 A opinião contextualmente mais rica de Mary Lou Emery é ligeiramente diferente (em Jean Rhys at "Wold's End": Novels of Colonial and Sexual Exile. Austin, University of Texas Press, 1990). É claro que não posso ser "responsável" dentro do texto de Cristophine (em termos das psicobiografias disponíveis), como tentei ser com Bhubaneswari Bhaduri no próximo capítulo. E seria preciso ser "responsável" para aventurar um juízo sobre a representação de Cristophine. Esses são os limites e possibilidades de estudos culturais não localizados, que não se confinam à origem nacional.
De fato, ainda que Rhys reescreva o ataque do Homem pela louca, sublinhando o abuso da "legalidade", ela não consegue lidar com uma passagem que corresponda à justificação que o próprio St. John Rivers dá de seu martírio, pois essas justificações foram passadas para o idioma atual da modernização e do desenvolvimento. Tentativas de construir a "Mulher do Terceiro Mundo" como significante nos lembram que a definição hegemônica da literatura está presa dentro da história do imperialismo. Uma reinscrição literária plena não pode florescer com facilidade na fratura ou descontinuidade imperialista, encoberta por um sistema legal que opera como Direito em si, uma ideologia estranha estabelecida como a única Verdade, e um conjunto de ciências humanas ocupadas em estabelecer a "nativa" como outra que se auto-consolida.
Pelo menos no caso da Índia, seria difícil encontrar uma pista ideológica da violência epistemológica planejada do imperialismo meramente pelo rearranjo dos currículos ou programas dentro das normas existentes da pedagogia literária. Para um período posterior do imperialismo quando firmemente estabelecido o sujeito colonial experimentos diretos de comparação são possíveis, digamos, entre a Índia funcionalmente sem graça de Mrs. Dalloway, de um lado, e a produção cultural e literária da Índia nos anos vinte, de outro. Mas a primeira metade do século dezenove resiste ao questionamento pela história ou pela crítica literárias no sentido estrito definido pela axiomática a favor (e contra) a produção disciplinar colonial, porque ambas estão envolvidas no projeto de produzir Ariel. Para reabrir a fratura sem sucumbir a uma nostalgia das origens perdidas, a crítica literária deve voltar-se para os arquivos do governo imperial.31 31 A obra em andamento de Gauri Viswanathan é um ótimo exemplo disso.
Mary Lou Emery (ver nota 30) argumenta que Jean Rhys usa estratégias estilísticas especificamente caribenhas para enriquecer a leitura do livro. Acho muito persuasiva sua explicação de detalhes como "estar ilhada". Sua sugestão mais audaciosa de que as práticas textuais de Wide Sargasso Sea tomam emprestado e encenam a técnica da obeah complica minha convicção de que o outro não pode ser plenamente tornado um si mesmo. Posso vê-la como uma marca dos limites do desejo de tornar o outro um eu, desejo que está refletido no próprio poema "Obeah Night" de Rhys, cujas duas últimas linhas são um subscrito: "Edward Rochester ou Raworth / Escrito na Primavera 1842".32 32 RHYS, Jean. Obeah Night. In: BURNETT, Paula (org.) The Penguin Book of Caribbean Verse in English. Harmondsworth: Penguin, 1986. É interessante que na novela Rhys faz um gesto que sabota o subscrito. Nega a Rochester um nome. Como no caso de Sexta-Feira em Foe, novela que leio mais adiante, vejo a partida de Cristophine como um movimento para preservar a margem.
Frankenstein de Mary Shelley surge de uma conjuntura diferente da história britânica das classes. Texto do feminismo nascente, continua crítico, acredito, simplesmente porque não fala a língua do individualismo feminista que passamos a saudar como a língua do alto feminismo dentro da literatura inglesa. O breve estudo de Barbara Johnson tenta recuperar esse texto recalcitrante para apoio da autobiografia feminista.33 33 JOHNSON, Barbara. My Monster / My Self. Diacritics 12, Verão 1982, pp.2-10. Alternativamente, George Levine lê Frankenstein no contexto da imaginação criativa e da natureza do herói. Vê a novela como um livro sobre sua própria escrita e sobre a própria escrita, alegoria romântica da leitura na qual a própria Jane Eyre como crítica não auto-consciente se enquadraria muito bem.34 34 POOVEY, Mary. My Hideous Progeny: Mary Shelley and the Feminization of Romanticism. PMLA 5.95.3, Maio 1980, pp.332-347. Ver também LEVINE, George. The Realistic Imagination: English Fiction from Frankenstein to Lady Chatterley. Chicago, University of Chicago Press, 1981, pp.23-35.
Proponho tirar Frankenstein dessa arena e abordá-lo em termos daquele sentido da identidade cultural inglesa que invoquei na abertura deste ensaio. Nessa abordagem, somos obrigados a admitir que, embora Frankenstein seja ostensivamente sobre a origem e evolução do homem na sociedade, não utiliza a axiomática do imperialismo para funções textuais cruciais.
Digo logo que há muito sentimento imperialista incidental em Frankenstein. O que quero dizer, dentro do argumento deste ensaio, é que o campo discursivo do imperialismo não produz correlatos ideológicos inquestionáveis para a estruturação narrativa do livro. O discurso do imperialismo surge de uma maneira curiosamente poderosa na novela de Shelley, e discutirei mais tarde o momento em que isso acontece. Mas Frankenstein não é um campo de batalha entre o individualismo masculino e o feminino articulado em termos de reprodução sexual (família e mulher) e a produção social do sujeito (raça e homem). Essa oposição binária é desfeita no laboratório de Victor Frankenstein um útero artificial onde ambos os projetos são encetados simultaneamente, ainda que os termos nunca sejam apresentados abertamente. O aparente antagonista de Frankenstein é o próprio Deus enquanto Fazedor do Homem, mas seu competidor real é também a mulher, enquanto fazedora de filhos. Não é só que seu sonho da morte da mãe e da noiva estejam associados à visita de seu monstruoso "cadáver" homoerótico, não natural porque destituído de infância: "Nenhum pai viu meus dias de criança, nenhuma mãe me abençoou com sorrisos e carícias; ou se o fizeram todo meu passado era agora uma mancha, um vazio cego em que não conseguia nada distinguir" (F 115). É a própria compreensão ambígua e equivocada de Frankenstein sobre o motivo real da vingatividade do monstro que revela sua competição com a mulher enquanto fazedora:
Eu criei uma criatura racional e estava ligado a ela para garantir, no que estivesse a meu alcance, sua felicidade e bem-estar. Era meu dever, mas havia um ainda maior. Meus deveres para com os seres de minha própria espécie chamavam mais minha atenção porque incluíam uma proporção maior de felicidade ou miséria. Levado por essa visão, recusei-me, e fiz bem em me recusar, a criar uma companheira para a primeira criatura. (F 206)
É impossível não notar o acento da transgressão na demolição que Frankenstein faz de seu experimento para criar a futura Eva. Mesmo no laboratório, a mulher em construção não é um cadáver corporificado, mas "um ser humano". A (i)lógica da metáfora lhe confere uma existência prévia que Frankenstein aborta, e não uma morte anterior a que ele dá um corpo. "Os restos da criatura semi-acabada, que eu havia destruído, estavam espalhados no chão, e quase senti que tinha mutilado a carne viva de um ser humano" (F 163).
Na visão de Shelley, a arrogância do homem como fazedor de almas usurpa o lugar de Deus e tenta em vão negar a prerrogativa fisiológica da mulher.35 35 No final dos anos 80, sugeri que o leitor consultasse as publicações da International Feminist Network para a melhor visão geral do debate corrente sobre a tecnologia reprodutiva. Em meados da década seguinte, sugeriria seguir as publicações da ONU e FINRRAGE. Em última análise, não há como substituir relatos de campo feitos pelas mulheres locais. Este livro termina com pequena amostra disso a respeito do trabalho infantil. De fato, embarcando aqui numa fantasia freudiana, eu poderia dizer que, se dar à mulher ou recusar a ela um falo é o fetiche masculino, dar ao homem ou recusar-lhe um útero seria o fetiche feminino num mundo impossível de equilíbrio psicanalítico.36 36 Para o fetiche masculino, ver FREUD. S. Fetischism. SE 21, pp.152-157. Para um estudo freudiano mais "sério" de Frankenstein, ver Jacobus, Mary. Is There a Woman in This Text? New Literary History 14, 1982 pp.117-141. Minha "fantasia" seria refutada pelo "fato" de que a oposição masculino/feminino é assimétrica, e de que é mais difícil para a mulher assumir a posição de fetichista do que para o homem; ver DOANE, Mary Ann. Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator. Screen 23, Set-Out 1982, pp.74-87. Outra vez um "erro" de categoria. Eu escrevera isso antes de encetar um estudo de Melanie Klein. Não posso me desculpar agora. Ampliei esse ponto de vista em Spivak, G. "Circumfession": My Story as the (M)other's Story. [no prelo] O ícone do útero sublimado no homem é com certeza seu cérebro produtivo, a caixa na cabeça.
Na psicanálise clássica, a mãe fálica só existe em virtude do filho ansioso sobre a castração; em Frankenstein, o pai histérico (Victor Frankenstein dotado de seu laboratório o útero da razão teórica) não pode produzir uma filha. Aqui a língua do racismo o lado escuro do imperialismo entendido como missão social se combina com a histeria do machismo no idioma da reprodução sexual (ou o afastamento dela) mais do que na da constituição do sujeito; e é julgada pelo texto. Os papéis de individualistas masculino e feminina são então invertidos e deslocados. Frankenstein não pode produzir uma "filha" porque
ela poderia se tornar mil vezes mais maligna do que seu companheiro... [e porque] um dos primeiros resultados dessas simpatias ansiadas pelo demônio seriam filhos e uma raça de diabos se propagaria sobre a terra, o que faria da existência mesma da espécie humana uma condição precária e cercada de terror. (F 158)
Esse fio particular da narrativa também lança a crítica plena dos discursos europeus do século dezoito sobre a origem da sociedade com o homem (cristão ocidental). Seria preciso mencionar que, como Jean-Jacques Rousseau em suas Confissões, Frankenstein também se declara "genebrino de nascimento" (F 31)?
Nesse texto abertamente didático, o que Shelley quer é que o planejamento social não se baseie apenas na razão pura, teórica ou científico-natural, que é a sua crítica implícita da visão utilitária de uma sociedade artificialmente engendrada. Para isso, apresenta na primeira parte de sua estória deliberadamente esquemática três personagens, amigos de infância, que parecem representar a concepção tripartite do sujeito humano de Kant: Victor Frankenstein, as forças da razão teórica ou a "filosofia natural"; Henry Clerval, as forças da razão prática ou "a relação moral das coisas"; e Elizabeth Lavenza, o juízo estético "a criação aérea dos poetas" que, segundo Kant, é "um possível elo na mediação entre o reino do conceito de natureza e o do conceito de liberdade... (que) promove ... o sentimento moral" (F 37, 36; Cf 39).
(No capítulo 1 tentei mostrar que, no lugar não planejado do sublime na seção planejada reservada para a estética estruturalmente tão retirada quanto o abrigo protegido por cortinas de Jane Eyre é a exclusão do informante nativo que permite que o texto de Kant aproxime natureza e liberdade. Tentarei aqui mostrar que o texto de Mary Shelley tenta trazer para o primeiro plano uma visão do informante nativo no Monstro. Em minha avaliação, então, pode-se argumentar que o texto de Shelley está numa relação aporética com o suporte dos recursos filosóficos que precisa usar [talvez eu afine com Frankenstein porque minha relação com a desconstrução é semelhante]; fazer as perguntas do Monstro, buscando a solução da antinomia de Kant, seria destruir a narrativa possível que permite que a narrativa se sustente.37 37 Para a noção de narrativas permissíveis, ver KLEIN, Melanie. Love, Guilt and Reparation. In: Love, Guilt and Reparation and Other Works. Londres, Hogarth, 1975, pp.317, 328. E, de fato, o sistema não se sustenta, também porque, como em Kant, o sujeito masculino tenta operá-lo sozinho.)
O sujeito tripartido não opera harmoniosamente. Que Henry Clerval, associado que é da razão prática, tenha como "projeto... visitar a Índia, na crença de que tinha, no conhecimento de suas várias línguas, e na visão que obtivera de sua sociedade, os meios de apoiar materialmente o progresso da colonização e do comércio europeus" é prova disso, e também parte do sentimento imperialista incidental a que me referi acima (F 151-152). Vale observar que a língua é aqui mais empresarial do que missionária:
Ele veio para a universidade com o projeto de tornar-se um mestre das línguas orientais, pois assim abriria um campo para seu plano de vida. Decidido a não ter uma carreira inglória, voltou os olhos para o leste, que tinha espaço para seu espírito empreendedor. As línguas persa, árabe e sânscrito atraíram sua atenção. (F 66-67)
Mas é obviamente Victor Frankenstein, com seu estranho itinerário de obsessão com a filosofia natural, que fornece a demonstração mais clara de que as perspectivas múltiplas do tripartido sujeito kantiano não podem cooperar harmoniosamente se a mulher e o informante nativo puderem partilhar o espaço. Frankenstein cria um sujeito humano putativo partindo exclusivamente da filosofia natural. Segundo seu próprio sumário equivocado: "Num acesso de loucura entusiástica criei uma criatura racional" (F 206). Não é exagero dizer que o imperativo categórico de Kant pode ser com a maior facilidade substituído pelo imperativo hipotético um mandamento de fundar na compreensão cognitiva o que só pode ser aprendido pela vontade moral quando se põe a filosofia natural no lugar da razão prática.
Apresso-me a acrescentar que, assim como leituras como esta não necessariamente acusam a Charlotte Brontë individual de ter sentimentos imperialistas, também não necessariamente elogiam a Mary Shelley individual por escrever uma alegoria kantiana de sucesso. O máximo que posso dizer é que é possível ler esses textos, dentro da moldura do imperialismo e do momento ético kantiano, de uma maneira politicamente útil. Tal abordagem deve pressupor ingenuamente que uma leitura "desinteressada" tenta tornar transparentes os interesses do público hegemônico. (Outras leituras "políticas" por exemplo, que o monstro é a classe operária nascente também podem ser feitas.)
Frankenstein é construído na estabelecida tradição epistolar de quadros múltiplos. No centro dos múltiplos quadros, a narrativa do monstro (relatada por Frankenstein a Robert Walton, que a transmite numa carta a sua irmã) é de que ele quase aprendeu, clandestinamente, a ser humano. É invariavelmente notado que o monstro lê o Paraíso Perdido como história verdadeira. O que não é notado com a mesma freqüência é que ele também lê as Vidas de Plutarco, "as histórias dos fundadores das antigas repúblicas", que compara às "vidas patriarcais de meus protetores" (F 123-124). E seu aprendizado vem pelas "Ruins of Empires de Volney", que pretendia ser uma prefiguração da Revolução Francesa, publicado depois dela e depois que o autor tinha completado sua teoria com a prática (F 113). O livro de Volney é uma tentativa de história secular universal, e não cristã e eurocêntrica, escrita da perspectiva de um narrador "de baixo".38 38 VOLNEY. Constantin François Chasseboeuf de. The Ruins; or, Meditations on the Revolutions of Empires. Londres, 1811 (trad. Pub.). Em Time and the Other, Johannes Fabian mostrou a manipulação do tempo em "novas" histórias seculares de tipo semelhante. A subestimação mais notável da educação do monstro por Volney é a de Sandra Gilbert, em seu brilhante Horror's Twin: Mary Shelley's Montruous Eve. Feminist Studies 4, Junho 1980. Seu trabalho subseqüente preencheu a lacuna de modo convincente; ver, por exemplo, seu comentário a She de H. Rider Haggard Rider Haggard's Heart of Darkness. Partisan Review 50.3, 1983, pp.444-453.
Esse aprendizado de Caliban da humanidade (secular universal) se dá quando ele escuta sem ser percebido a instrução de uma Ariel Safie, a "árabe" cristianizada que "detestava viver na Turquia" (F 121). Na construção de Safie, Shelley usa alguns lugares-comuns do liberalismo setecentista compartilhados hoje por muitos: o pai muçulmano de Safie fora vítima de preconceito religioso de (mau) cristianismo e era ele mesmo um homem manhoso e ingrato, menos refinado que sua mãe, uma (boa) cristã. Tendo provado da emancipação da mulher, Safie não podia voltar para casa. A confusão entre "turco" e "árabe" também tem sua contrapartida hoje.
Embora estejamos muito distantes da oculta e não questionada axiomática do imperialismo de Jane Eyre, nada ganharemos celebrando as visões piedosas de época produzidas por Shelley, filha de dois anti evangélicos. É mais interessante para nós que Shelley diferencia o Outro, trabalha sobre a distinção Caliban/Ariel, e não consegue fazer do monstro um recipiente apropriado dessas lições. Para mim, o distanciamento escrupuloso é marca da importância política do livro. Embora ele tivesse "ouvido sobre a descoberta do hemisfério Americano e chorado com Safie o infeliz destino de seus habitantes originais", Safie não consegue corresponder a seu apego. Quando o vê pela primeira vez, "Safie, incapaz de ajudar sua amiga [Agatha], foge do chalé" (F 114 [minha ênfase], 129).
Na taxonomia das personagens, a Safie muçulmano-cristã está no mesmo grupo de Antoinette/Bertha de Rhys. E, na verdade, como a boa serviçal Cristophine, o sujeito criado pelo fiat da filosofia natural é o momento tangencial não resolvido em Frankenstein. A simples sugestão de que o monstro é humano por dentro, mas monstruoso por fora, e apenas levado à vingança, não é claramente suficiente para tão grande dilema histórico.
Num momento, de fato, o Frankenstein de Shelley tenta domesticar o monstro, humanizá-lo, trazendo-o para o círculo da lei. Ele "se dirige a um juiz criminal da cidade e... relata [sua] história breve, mas firmemente" a primeira e desinteressada versão da narrativa de Frankenstein
marcando as datas com precisão e não derivando para a invectiva ou exclamação... Concluindo a narrativa, eu disse, "Esse é o ser que acuso e para cuja prisão e punição espero que o senhor exerça todo seu poder. É seu dever enquanto magistrado". (F 189, 190)
O razoável da voz mundana do "magistrado genebrino" de Shelley nos lembra que o radicalmente outro não pode ser tornado um eu, que o monstro tem "propriedades" que não poderão ser contidas pelas medidas "apropriadas": "Farei o possível", diz,
e se estiver em meu poder capturar o monstro, esteja certo de que ele sofrerá punição proporcional a seus crimes. Mas temo, a partir do que você mesmo descreveu como suas propriedades, que isso seja impraticável; e assim, enquanto as medidas apropriadas são tomadas, você deve preparar-se para o desapontamento. (F 190)
No fim, como é óbvio para a maioria dos leitores, distinções da individualidade humana parecem desaparecer da novela. Monstro, Frankenstein e Walton se determinam mutuamente. A estória de Frankenstein termina em morte; Walton conclui sua própria estória no quadro de sua função como escritor de cartas. Na conclusão narrativa, ele é o filósofo natural que aprende com o exemplo de Frankenstein. Ao fim do texto, o monstro, tendo confessado sua culpa para com seu criador e ostensivamente pretendendo imolar-se, é levado pelo gelo. Não vemos a conflagração de sua pira funerária a auto-imolação não se consuma no texto: ele também não pode ser contido pelo texto. E encenar essa não continência é, insisto, uma das virtudes de Frankenstein. Em termos da lógica narrativa, ele "se perde na escuridão e na distância" (F 211) essas são as últimas palavras da novela numa temporalidade existencial que não é coerente nem com a imaginação individual territorializante (como na abertura de Jane Eyre), nem com cenário autoral da psicobiografia cristã (como no final da obra de Brontë). A relação mesma entre a reprodução sexual e a produção do sujeito social o topos dinâmico oitocentista do feminismo no imperialismo permanece problemático dentro dos limites do texto de Shelley e paradoxalmente constitui sua força.
Fiz acima uma leitura da mulher como portadora do útero em Frankenstein. Sugiro agora que há uma mulher que emoldura o livro, que não é tangencial nem circunscrita. "Mrs. Saville", "boa Margaret", "querida irmã" é como ela é chamada e sua inscrição familiar (F 15, 17, 22). É a ocasião, mas não a protagonista, da novela. Ela é o sujeito feminino, e não a individualista; ela é a irredutível função recipiente das cartas que constituem Frankenstein. Já comentei a singular hermenêutica apropriativa do leitor que lê com Jane nas páginas iniciais de Jane Eyre. Aqui o leitor lê com Margaret Saville no sentido crucial de que deve interceptar a função recipiente, ler as cartas como recipiente para que a novela exista.39 39 "Uma carta é sempre e a priori interceptada... os "sujeitos" não são nem os que enviam nem os que recebem as mensagens... A carta é constituída por sua interceptação". DERRIDA, Jaques. "Discussion" sobre Claude Rabant, Il n'a aucune chance de l'entendre. In: MAJOR, René. (org.) Affranchissement du trasfert et de la lettre. Paris, Confrontation, 1981, p.106 (minha tradução). Margaret Saville apropria o "sujeito" do leitor na assinatura de sua própria "individualidade". Margaret Saville não encerra o texto como moldura. A moldura é assim simultaneamente uma não moldura, e o monstro pode ir "além do texto" e "perder-se na escuridão". Dentro da alegoria de nossa leitura, tanto o lugar da dama inglesa como o do monstro inominável ficam em aberto nesse grande texto defeituoso. É satisfatório para um leitor pós-colonial considerar isso como uma nobre solução para uma novela inglesa oitocentista. A própria Shelley se identifica amplamente com Victor Frankenstein.40 40 A evidência interna mais notável é a "Introdução da autora" onde, depois de sonhar com a figura ainda não nomeada de Victor Frankenstein e de ser aterrorizada pelo monstro (mas não exatamente por ele), numa cena mais tarde reproduzida na estória de Frankenstein, Shelley começa sua estória "no dia seguinte... com as palavras 'Foi numa lúgubre noite de novembro'" ( F xi). Essas são as palavras que abrem o capítulo 5 do livro acabado, onde Frankenstein começa a contar a criação real de seu monstro ( F 56).
A visão emancipatória de Shelley não pode se estender além da situação especular do empreendimento colonial, onde apenas o senhor tem uma história, senhor e servo presos no espelho trincado do presente, e o futuro do servo, embora indefinido, é dirigido especificamente para o senhor e para longe dele. Dentro dessa visão restrita, Shelley dá ao monstro o direito de recusar-se a sustentar o olhar do senhor de recusar um apartheid de espelhamento, por assim dizer:
Não me deixarei tentar opor-me a ti... Como poderei mover-te? ... Pôs suas mãos odiosas diante de meus olhos, e eu as afastei com violência; "assim recebi de ti uma visão que detestas. Mas ainda podes me ouvir". (F 95, 96)
Seu pedido, não atendido, é, como vimos, por um futuro de gênero, pelo sujeito feminino colonial.
Quero agora estender mais um pouco o argumento, e marcar um contraste. A tarefa do escritor pós-colonial, descendente do sujeito feminino colonial que a história de fato produziu, não pode se limitar ao fechamento especular senhor-escravo tão poderosamente encenado em Frankenstein. Volto-me para "Pterodactyl, Pirtha, and Puran Sahay" de Mahasweta Devi para medir algumas das diferenças entre a encenação colonial simpática e a favor da recusa de manter a troca especular em favor do monstruoso sujeito colonial; e a performance pós-colonial da construção do sujeito constitucional da nova nação, na subalternidade e na cidadania.41 41 Note-se que a obra de Mahasweta Devi não é de nenhuma maneira representativa da ficção contemporânea bengalesa (ou indiana) e, portanto, não pode servir como exemplo da "literatura do terceiro mundo" de Jameson. No processo, o informante nativo avança para o contexto contemporâneo já descrito.
A obra de Devi trata dos chamados habitantes originais ou ãdivãsis (e as castas Hindus mais baixas, outrora intocáveis) na Índia, mais de 80 milhões na última contagem, e maciçamente subestimados nos estudos coloniais e pós-coloniais.42 42 BASKE,Dhirendranath. Paschimbanger Adibasi Samaj. Calcutá, Shubarnorekha, 1987, vol 1, projeção a partir da p.17. Há mais de 300 divisões, a maioria com línguas individuais, divididas em quatro grupos de línguas. Tenho dito com freqüência que, no interesse de levar os subalternos à hegemonia a cidadania constitucional no estado pós-colonial , o movimento a que Devi se associa impõe uma unidade estrutural sobre esse vasto grupo. Isso é um ab-uso do Iluminismo e não um identitarismo divisor.
Em "Pretordactyl", Devi põe em relevo esse espírito ab-usivo (ou catacrético não há referente literal para o conceito de "nação indiana original" ou ãdim bhãratiya jãti) da unidade original em seu pós- escrito:
[Neste lugar nenhum nome como Madhya Pradesh ou Nagesia foi usado literalmente. Madhya Pradesh aqui é Índia, Nagesia, cidade da sociedade tribal inteira. Fundi deliberadamente as maneiras regras e costumes de diferentes tribos e grupos Austric, e a idéia da alma ancestral é também de minha autoria. Tentei apenas expressar minha visão, nascida da experiência, da sociedade indiana original através do mito do pterodáctilo.] Mahasweta Devi.43 43 IM, tradução modificada. A catacrese envolvida em "nação indiana original" não é só que não exista uma só "tribo" que inclua todos os que originalmente residiam no que é hoje a "Índia". Quer dizer também que o conceito de "Índia" não é "indiano", e mais, não é idêntico ao conceito Bhãrata, da mesma forma que "nação" e jãti têm histórias diferentes. Além disso, o sentimento de uma nação inteira como lugar de origem não é uma proposição dentro das formações discursivas originárias, onde a localidade tem importância muito maior. Desço ao detalhe porque, primeiro, a palavra "catacrese" é uma das piores ofensas no crime geral da inacessibilidade; segundo, mesmo a identidade mais hegemônica se mostraria catacrética observada de perto; e, finalmente, o ab-uso do Iluminismo na tentativa de construir uma sociedade civil leva a formação discursiva subalterna à crise, faz com que se desconstrua. Deve-se também mencionar que a palavra "tribal", embora não mais aceita internacionalmente por causa da situação africana, ainda pode ser encontrada no uso doméstico na Índia, onde ela é usada contra "casta".
Ao final de O Tempo Redescoberto, Proust escreve longamente sobre a tarefa que tem diante de si, presumivelmente a escrita do livro em muitos volumes que acabamos de ler. O gesto de Devi pertence a esse topos. Depois da experiência da novela inteira, a autora nos diz que a única autoridade na estória é retórica. Ela nos dá de presente uma pequena, mas importante, aporia, o valor de verdade da estória, como uma interpolação entre colchetes, "a severa economia de um escrito que evita a declaração numa disciplina de marcações severamente observadas".44 44 DERRIDA, J. Of Spirit: Heidegger and the Question. Chicago, University of Chicago Press, 1989, p.32 (Trad.: Geoffrey Bennington e Rachel Bowlby). Essa verdade não é exatidão. Não podemos "aprender sobre os subalternos" apenas lendo textos literários ou, mutatis mutandis, documentos sócio-históricos. "É exatamente como se houvesse lei, mas lei não é justiça."45 45 ID. "Force of Law", p.947. Ler livros é uma atitude responsável, mas aprender dos livros não é responsabilidade.
A informante nativa não é aqui catacrese, mas literalmente a pessoa que alimenta a antropologia. A nota de encerramento da novela nos diz que a autora não será uma delas. Na estória mesma há pelo menos duas figuras fortes que não podem ser apropriadas por essa perspectiva. Parte da imunidade à apropriação vem pelo tema da resistência ao desenvolvimento (sugerido nos interstícios de minha leitura de Marx) como resistência originária. O caso mais extremo é o de Shankar, que poderia facilmente desempenhar o papel do informante nativo, mas para quem a sugestão seria irrelevante:
"Não posso ver você. Mas digo-lhe com grande humildade, não há nada que você possa fazer por nós. Nós nos poluímos assim que você entrou em nossas vidas. Chega de estradas, chega de assistência o que você dará a um povo em troca de sua terra, de seus campos e cemitérios desaparecidos?" Shankar se aproxima e diz, "Você pode ir longe? Muito longe? Muito, muito longe?" (IM 120)
Devi encena a operação do estado pós-colonial com conhecimento minucioso, com raiva e com amoroso desespero.46 46 Devi entrou para o legendário Partido Comunista da Índia em 1942. Ela foi tanto parte da luta anti-colonial quanto testemunha do fracasso da descolonização. Há pouca escrita de "discurso colonial" em sua ficção. Em "Choli ka pichhe" [Por trás do Sutiã] (In: DEVI. The Breast Stories. Calcutta, Seagull, 1997, p.140 [ trad. G. Spivak].) há um brilhante momento irônico contra deixar todos os males da sociedade contemporânea na porta do colonialismo britânico. Há radicais dissidentes suprimidos, há o governo nacional à procura de publicidade eleitoral, há burocratas do sistema acima do bem e do mal, funcionários subalternos do estado para quem os chamados princípios democráticos do Iluminismo são contra-intuitivos. E também o pior produto do pós-colonialismo, o indiano que usa os pretextos do desenvolvimento para explorar os grupos tribais e destruir seu sistema de vida. Contra ele o punhado de trabalhadores conscienciosos e compreensivos do governo que operam através de um sistema de sabotagem oficial e de pequenos compromissos. A figura central é Puran Sahay, um jornalista. (A própria Devi, além de escritora de ficção e ativista em ecologia, saúde e alfabetização, é também uma incansável jornalista investigativa. Sou escrupulosa em não acusar autores. Mas posso elogiá-los.)
A concepção de vida privada de Puran, delicadamente inscrita na emancipação de gênero da sociedade doméstica da seção comprometida da baixa classe média metropolitana e urbana, mereceria uma discussão separada. Na novela, ele deixa esse cenário para subir as montanhas de Pirtha e descer ao vale de Pirtha, terreno originário em desenvolvimento. (Esse "desenquadramento" de Puran pode ser também uma "liminarização".) O fruto de suas viagens é o tipo de reportagem organizadora que a própria Devi faz, na forma de um relato para seu aliado Harisharan. Não vemos a reportagem mais pública que ele escreverá para o jornal Dibasjyoti. Há também uma reportagem não (para ser) enviada, mas "enviada" na medida em que está disponível no espaço literário da novela, que enfrenta cada afirmação do estado descolonizador com uma vinheta daquelas montanhas.
Como o monstro em Frankenstein, Puran também cai fora da narrativa de seu conto, mas para a ação dentro da nova nação pós-colonial: "Chega um caminhão. Puran ergue a mão, e embarca".
Fiz até aqui o resumo de uma estória que envolve a liberdade subalterna na nova nação. Mas essa estória também é uma moldura. Antes de prosseguir para desvendar o curioso núcleo da estória, lembro ao leitor que a mulher nativa, de casta Hindu, extra-elite, em vias de liberação, Saraswati, amiga de Puran, e as mulheres de outros trabalhadores comprometidos, aguarda na moldura fora desta moldura. A narrativa da liberdade subalterna e mesmo a (auto)emancipação da mulher nativa de nível médio ainda não pode ser contínua.47 47 Pequeno momento no texto que contribui para a liminarização de Puran. Mas é a negação dessas diferenças que pode fazer surgir a irmandade global necessária para a financeirização do globo. Quem é silenciado pela heroína? (Ver as páginas 353-421, último movimento do livro).
O núcleo, então: uma estória de ritos funerários, e através dela a iniciação de Puran, o jornalista investigativo, numa responsabilidade subalterna que diverge (é assintótica, assimétrica, aporética, fora da discursividade, différend) da luta por direitos. Um menino ab-orígine desenhou o retrato de um pterodáctilo na parede da caverna. Puran e um "bom" funcionário do governo não permitem que isso se torne público. Outra vez sem informante nativo. Através dessa bem sucedida "predição" não intencional de chuva, Puran se torna parte do registro histórico corrente do grupo. Vê o pterodáctilo. Ou talvez o pterodáctilo se tenha revelado a ele na corporalidade peculiar do espectro.48 48 DERRIDA, J. Specters of Marx: The State of the Debt and the New Internacional. Nova Iorque, Routledge, 1994, p.6 e passim (Trad.: Peggy kamuf).
Se o intercâmbio entre o monstro sem nome (sem história) e Victor Frankenstein é uma recusa em última análise fútil da especularidade evitada, a situação do olhar entre o pterodáctilo (antes da história) e uma história "nacional" que mantém os originários e os não originários juntos é um tanto diferente. Aqui não cabe especulação; num espaço textual retoricamente separado do funeral contrafactual, o originário e o não originário têm que trabalhar juntos. Eis Puran quando o pterodáctilo olha, talvez para ele:
Você está sem movimento com as asas fechadas, não quero tocá-lo, você está fora de minha sabedoria, de minha razão e de meus sentimentos, quem pode por a mão no momento axial do final da terceira fase da era geológica mesozóica e do começo da kenozóica?... O que seus olhos querem dizer a Puran?... Não há comunicação entre olhos. Apenas uma espera turva, sem fim. O que ela quer dizer: Fomos extintos pela inevitável evolução geológica natural. Você também corre perigo. Você também será extinto em explosões nucleares, ou na guerra, ou no avanço agressivo dos fortes que suprimem os fracos... pense se segue à frente ou se volta... O que você plantará na terra, tendo assassinado a natureza com a aplicação de substitutos impostos pelo homem?... Os turvos olhos sem pestanas continuam sem resposta. (IM 156-157)
Para o indiano moderno, o pterodáctilo é uma impossibilidade empírica. Para o indiano originário moderno, o pterodáctilo pode ser a alma dos ancestrais, como imagina a autora, que pôs sua assinatura fora da moldura.49 49 Para a dinâmica labiríntica da assinatura do autor que assegura que (o dom do) texto é factualmente uma contrafacção, ver DERRIDA, J. Given Time, pp.107-172. O interesse aqui não é meramente "especulativo". Tem como que uma relação com o fato de que, lendo literatura, aprendemos a aprender com o singular e com o não verificável. A ficção não escolhe entre os registros da verdade e da exatidão, simplesmente os encena em espaços separados. Isso não é ficção científica. E o pterodáctilo não é um símbolo.
O pterodáctilo morre e Bikhya, o menino mudo afastado da comunicação, tornando-se "guardião", "sacerdote," do pterodáctilo o enterra nas cavernas subterrâneas do rio, paredes resplandecentes de pinturas "não descobertas", talvez antigas, talvez contemporâneas. O originário não se torna objeto de museu nesse texto. Permite que Puran o acompanhe. O próprio enterro é diferente da prática corrente. Agora, diz Shankar, queimam os corpos, como hindus. "Enterramos as cinzas e recebemos uma pedra. Ouvi dizer que nos velhos tempos enterrávamos os corpos." E essa memória está contida, é claro, dentro da imaginação de uma identidade imaginada, prática fictícia. O luto não é antropológico, mas ético-político. (Puran definiu seu estudo de antropologia, transcodificação da fala do informante nativo, como útil mas diferente desses encontros.)
Puran, de casta hindu, estrangeiro remoto numa terra hoje de maioria hindu, ganha o direito de assistir ao descanso final de uma antiga civilização originária, ela mesma catacrética quando imaginada como unidade, num espaço retórico que está textualmente separado de uma narrativa que bem pode ser a narrativa central, das agendas separadas das resistências tribal e jornalística ao desenvolvimento, cada uma aporética em relação à outra, lugar de um dilema.
O lamento funeral, a elegia irreal que acompanha todos os começos, é posta no fim da narrativa, logo antes que Puran embarque no caminhão, e começa o pós-escrito assinado pela autora. O sujeito da elegia fica suspenso entre o personagem jornalista e a figura da autora:
O coração maravilhado de Puran descobre o amor por Pirtha, talvez não possa continuar como espectador distante em qualquer lugar da vida. Os olhos do pterodáctilo. Os olhos de Bikhya. Ó antiga civilização, fundação e base da civilização da Índia, ó primeira civilização, fomos derrotados. Um continente! Nós o destruímos antes da descoberta, como estamos destruindo a floresta, a água, os seres vivos, os humanos primordiais. Chega um caminhão. Puran ergue a mão, e embarca. (IM 196)
Em minha avaliação, e a despeito de fortes objeções críticas, Wide Sargasso Sea está necessariamente limitado pelo alcance da novela européia. E também o "Pterodáctilo". Ele também invoca a narratividade originária, como Rhys invoca a obeah. Não temos escolha a não ser permitir à imaginação literária suas promiscuidades. Mas se, como críticos, quisermos reabrir a fratura epistêmica do imperialismo sem sucumbir à nostalgia das origens perdidas, temos que voltar-nos para os arquivos do governo imperialista. Não fiz isso neste capítulo. No próximo, pela via de uma modesta e não especializada "leitura" de "arquivos", tento ampliar, para além do alcance da tradição novelística européia, a sugestão mais forte de Wide Sargasso Sea: a de que Jane Eyre pode ser lida como a orquestração e encenação da auto-imolação de Bertha Mason como "boa esposa". A força dessa sugestão será sempre pouco clara se continuarmos insuficientemente sabedoras da história da manipulação legal do sacrifício da viúva pelo governo britânico na Índia. Nesse sentido, meus esforços no próximo capítulo podem ser considerados como um passo em direção a uma prática menos restrita dos estudos culturais.
É por meio desses movimentos, e não meramente decidindo celebrar a mulher, que a crítica feminista pode ser uma força na mudança da disciplina. Para isso, porém, deve reconhecer que é cúmplice da instituição dentro da qual busca seu espaço. Esse trabalho lento pode transformá-la de oposição em crítica.
Descreverei uma certa área dessa cumplicidade da maneira teórica e histórica:
Um uso restrito da abordagem crítica ou de resistência pode levar à descoberta de que a base de uma pretensão à verdade não é mais do que uma figura de linguagem. No caso do feminismo acadêmico, a descoberta é que tomar o privilegiado homem da raça branca como norma para a humanidade universal não passa de figuração politicamente interessada. É um tropo que se passa por verdade e pretende que a mulher, ou o outro racial, seja meramente uma espécie de figuração daquela verdade do homem no sentido de que devem ser entendidos como diferentes (não idênticos) dele, mas ainda com referência a ele. Enquanto participante dessa descoberta, até mesmo o feminismo ou a análise racial mais "essencialista" pode engajar-se na desconstrução das figuras. Ao estabelecer a verdade dessa descoberta, no entanto, começa a perceber os problemas inerentes à instituição da produção epistemológica, da produção, em outras palavras, de qualquer "verdade". Por essa lógica, variedades de teoria e prática feminista devem admitir a possibilidade de que, como qualquer outra prática discursiva, são marcadas e constituídas pelo campo de sua produção, ao mesmo tempo que o constituem. Se muito do que escrevo aqui parece aplicar-se tanto às operações gerais da prática disciplinar imperialista quanto ao feminismo, é porque desejo indicar os perigos de não levar em consideração as relações entre os dois.
(Esses problemas que as "verdades" só podem ser alcançadas por exclusões estratégicas, pela declaração de oposição onde existe cumplicidade, pela negação da possibilidade do casual, pela proclamação de uma origem provisória ou ponto de partida como base são a substância do interesse na desconstrução. O preço do insight sobre a natureza figurativa da pretensão à verdade é a cegueira de dizer a verdade.)50 50 As referências a esses interesses são encontradas na obra tardia de Paul de Man e na obra inicial de Jacques Derrida. Para referências específicas, ver MAN, P. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzche, Rilke, Proust. New Haven, Yale University Press, 1979, pp.205, 208-209, 236, 253; e DERRIDA, J. Limited inc: abc. Glyph 2, 1977.
Minha advertência histórica é, em suma, que o feminismo dentro das relações e instituições sociais da metrópole tem como que uma relação com a luta pelo individualismo na política cultural da burguesia ascendente do século dezenove europeu. Assim, mesmo quando nós, feministas críticas, descobrimos o erro de figuração da pretensão machista à verdade ou à objetividade acadêmica, participamos da mentira de constituir a sociedade global das irmãs numa verdade onde o modelo mesmerizante continua a ser homem e mulher como oponentes na sexualidade generalizável ou universalizável, que são os principais protagonistas naquele enfrentamento europeu. Para afirmar a diferença sexual onde ela faz diferença, a sociedade global das irmãs deve ser articulada mesmo que as irmãs em questão sejam Asiáticas, Africanas, Árabes.51 51 Como os países latino-americanos tiveram relação mais longa e direta com o imperialismo norte-americano, a relação e as demandas são mais informadas e específicas, ainda que opressivas. Rigoberta Menchú pode ser deixada de lado pela Latin American Studies Association. Ou assim pensávamos algumas de nós. Na atmosfera de hoje, da globalização triunfante, onde o velho slogan das "Mulheres em Desenvolvimento" foi alegremente transformado em "Gênero e Desenvolvimento," e uma mulher branca de capacete indica o caminho a uma árabe sorridente em trajes étnicos num panfleto de publicidade do Banco Mundial, essa utopia está relegada ao futuro anterior.
- * SPIVAK, Gayatri Chakravorty. A Critique of Post-Colonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1999, pp.112-148.
- 1 Resenha de BENSTOCK, Shari. Women of the Left Bank. News from Nowhere 6, 1989, p.64.
- 2 Para precauçăo similar, ver AMADIUME, Ifi. Male Daughters, Female Husbands . Londres, Zed, 1987, p.9.
- 3 BRONTË, Charlotte. Jane Eyre. Nova Iorque, 1960
- 4 RHYS, Jean. Wide Sargasso Sea. Harmondsworth, Penguin, 1966
- (referęncias ŕ obra, abreviada como WSS, serăo incluídas no texto); SHELLEY, Mary. Frankenstein; or, The Modern Prometheus. Nova Iorque, New American Library, 1965
- (referęncias ŕ obra, abreviada como F, serăo incluídas no texto); DEVI, Mahasweta. Pterodactyl, Puran Sahay, and Pirtha. In: Imaginary Maps Nova Iorque, Routledge, 1994, pp.95-196 (Traduçăo Spivak),
- (as referęncias, abreviadas como IM, serăo incluídas no texto); Sobre "estar no mundo" ver HEIDEGGER, Martin. The Origin of the Work of Art. In: KRELL, David Farrell. (org.) Basic Works: From Being and Time (1927) to The Task of Thinking (1964). San Francisco, Harper, 1993, pp.137-212;
- 5 Tentei fazer isso em meu ensaio Unmaking and Making in To the Lighthouse. In: SPIVAK, G. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. Nova Iorque, Methuen, 1987, pp.30-45.
- 6 Em outro texto, a abordagem desconstrutiva a "uma vida", ao "crédito de um nome próprio", foi discutida. A vida de Brontë tem sido e continua a ser trabalhada com pressupostos bastante diferentes. Além de FRASER, Rebecca Charlotte Brontë. Londres, Methuen, 1988
- e The Brontës: Charlotte Brontë and Her Family Nova Iorque, Crown, 1988;
- GORDON, Lyndall. Charlotte Brontë: A Passionate Life Nova Iorque, W. W. Norton, 1995;
- GASKELL, Elizabeth Cleghorn. The Life of Charlotte Brontë (1810-1865), adorável biografia contemporânea femi-erótica, org. Alan Shelston. Harmondsworth, Penguin, 1975;
- PETERS, Margot. Unquiet Soul: A Biography of Charlotte Brontë Garden City, NI, Doubleday, 1975;
- e WINNIFRITCH, Tom. A New Life of Charlotte Brontë Basingstoke, Hampshire: Macmillan, 1988,
- há a considerável correspondência e WARD, Humphrey. The Life and Works of Charlotte Brontë and Her Sisters Londres, John Murray, 1920-1922,
- 7 Como sempre, tomo a fórmula de ALTHUSSER, Louis. Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an Investigation). In: "Lenin and Philosophy" and Other Essays. Nova Iorque, Monthly Review Press, 1971, pp.127-186 (Trad. Ben Brewster).
- Para uma aguda distinção entre indivíduo e individualismo, ver VOLOSINOV, V. N. Marxism and the Philosophy of Language Nova Iorque, Studies in Language, 1973, pp.93-94, 152-153 (trad. Ladislav Matejka e I. R. Titunik).
- Para uma análise "direta" das raízes e ramificações do "individualismo inglês," ver MACPHERSON,C. B. The Political Theory of Possessive Individualism: Hobbes to Locke Oxford, Oxford University Press, 1962.
- 8 Faço uma analogia com a noçăo poderosa de Homi Bhabba de "năo exatamente năo branco". BHABBA, Homi. Of Mimicry and Man: The Ambiguity of Colonial Discourse. October 28, Primavera, 1984, p.132.
- 9 RETAMAR, Roberto Fernandez. Caliban: Notes towards a Discussion of Culture in Our América. Massachusetts Review 15, Inverno-Primavera 1974, pp.7-72 (trad.: Lynn Garafola et alii);
- 10 RODÓ, José Enrique. Ariel. BROTHERSTON, Gordon. (org.) Cambridge, Cambridge University Press, 1967.
- 11 Gordon Brotherston, organizador de Ariel, escreveu The Book of the Fourth World: Reading the Native Americas through Their Literature. Cambridge, Cambridge University Press, 1992,
- 13 FOX-GENOVESE, Elizabeth. Placing Women's History in History. New Left Review 133, Maio-Junho 1982, pp.5-29.
- 14 ACKERMAN, Rudolph. The Repository of Arts, Literature, Commerce, Manufactures, Fashions, and Politics. Londres, R. Ackerman, 1823, p.310.
- 15 Para uma explicaçăo do savoir-pouvoir como capacidade de dar sentido, ver SPIVAK, G. More on Power-Knowledge. Outside, in the Teaching Machine. Nova Iorque, Routledge, 1993, pp.34-36.
- 17 EAGLETON, Terry. Miths of Power: A Marxist Study of the Brontës. Nova Iorque, Barnes & Noble, 1975;
- 18 GILBERT Sandra M. e GUBAR,Susan. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. New Haven, Yale University Press, 1979, pp.360-362.
- 19 No contexto da mulher de raça năo especificada, Derrida vę Kant como o "pornógrafo categórico". Glas. Lincoln, University of Nebraska Press, 1986, p.128.
- 20 LYOTARD. Lessons, p.175,
- e KANT. Critique of Practical Reason Nova Iorque, Macmillan, 1993, p.90 (trad. Lewis White Beck).
- 22 No capítulo 3 tentei justificar a reduçăo dos problemas sócio-históricos a fórmulas ou proposiçőes. O "travesti" de que falo năo acontece ŕ ética kantiana em sua pureza como um acidente, mas antes existe em seus traços como complemento possível. Sobre o registro do ser humano como criança e năo bárbaro, minha fórmula pode ser encontrada, por exemplo, em KANT. What Is Enlightenment?; Foundations of the Metaphysics of Morals,
- What Is Enlightenment? e Passage from "The Metaphysics of Morals. BECK, Lewis White. (org. e trad.) Indianápolis, Bobbs-Merrill, 1959.
- Dan Rather se referiu aos haitianos como "crianças" durante uma reportagem do CBS Evening News em setembro de 1994, quando da ocupaçăo do Haiti pelos Estados Unidos. Ver também SPIVAK, G. Academic Freedom. Pretexts 5.1-2, 1995 pp.117-156.
- 23 Jean Rhys, em entrevista a Elizabeth Vreeland, apud Jean Rhys and the Novel as Women's Text. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1988, p.128.
- Maggie Humm e outras exploraram melhor que eu o contexto das Índias Ocidentais. O excelente ensaio de Humm pensa que eu "subestimo" Cristophine. Repito: acredito que é uma das virtudes da novela de Rhys mostrar o descontrole de Cristophine. É claro que ela é uma forte figura de măe, mas no fim, e textualmente, ela cede. Humm, Maggie. Border Traffic: Strategies of Contemporary Women Writers. Nova Iorque, Manchester University Press, 1991, pp.62-93.
- 24 Ver VINGE, Louise. The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Early Nineteenth Century. Lund, Gleepers, 1967, cap. 5 (trad. Robert Dewsnap et alii).
- 25 Para um estudo detalhado desse texto, ver BRENKMAN,John. Narcissus in the Text. Georgia Review 30, Verăo 1976, pp.293-327;
- e SPIVAK, G. Echo. In: LANDRY, Donna e MCLEAN, Gerald. (orgs.) The Spivak Reader. Nova Iorque, Routledge, 1995, pp.126-202.
- 26 Asseguro a Mukherjee que năo penso que essa é a única violęncia perpetrada pelo imperialismo. MUKHERJEE Arun P. Interrogating Postcolonialism: Some Uneasy Conjunctures. In: TRIVEDI, Harish e MUKHERJEE, Meenakshi. (orgs.) Interrogating Postcolonialism: Theory, Text and Context. Shimla, Indian Institute of Advanced Study, 1996, p.19.
- 27 Ver, por exemplo, STALEY, Thomas F. Jean Rhys: A Critical Study. Austin, University of Texas Press, 1979, pp.108-116.
- 30 A opinião contextualmente mais rica de Mary Lou Emery é ligeiramente diferente (em Jean Rhys at "Wold's End": Novels of Colonial and Sexual Exile. Austin, University of Texas Press, 1990).
- 32 RHYS, Jean. Obeah Night. In: BURNETT, Paula (org.) The Penguin Book of Caribbean Verse in English. Harmondsworth: Penguin, 1986.
- 33 JOHNSON, Barbara. My Monster / My Self. Diacritics 12, Verăo 1982, pp.2-10.
- 34 POOVEY, Mary. My Hideous Progeny: Mary Shelley and the Feminization of Romanticism. PMLA 5.95.3, Maio 1980, pp.332-347.
- Ver também LEVINE, George. The Realistic Imagination: English Fiction from Frankenstein to Lady Chatterley. Chicago, University of Chicago Press, 1981, pp.23-35.
- 36 Para o fetiche masculino, ver FREUD. S. Fetischism. SE 21, pp.152-157.
- Para um estudo freudiano mais "sério" de Frankenstein, ver Jacobus, Mary. Is There a Woman in This Text? New Literary History 14, 1982 pp.117-141.
- Minha "fantasia" seria refutada pelo "fato" de que a oposiçăo masculino/feminino é assimétrica, e de que é mais difícil para a mulher assumir a posiçăo de fetichista do que para o homem; ver DOANE, Mary Ann. Film and the Masquerade: Theorising the Female Spectator. Screen 23, Set-Out 1982, pp.74-87.
- 37 Para a noçăo de narrativas permissíveis, ver KLEIN, Melanie. Love, Guilt and Reparation. In: Love, Guilt and Reparation and Other Works. Londres, Hogarth, 1975, pp.317, 328.
- 38 VOLNEY. Constantin François Chasseboeuf de. The Ruins; or, Meditations on the Revolutions of Empires. Londres, 1811
- (trad. Pub.). Em Time and the Other, Johannes Fabian mostrou a manipulaçăo do tempo em "novas" histórias seculares de tipo semelhante. A subestimaçăo mais notável da educaçăo do monstro por Volney é a de Sandra Gilbert, em seu brilhante Horror's Twin: Mary Shelley's Montruous Eve. Feminist Studies 4, Junho 1980.
- Seu trabalho subseqüente preencheu a lacuna de modo convincente; ver, por exemplo, seu comentário a She de H. Rider Haggard Rider Haggard's Heart of Darkness. Partisan Review 50.3, 1983, pp.444-453.
- 39 "Uma carta é sempre e a priori interceptada... os "sujeitos" năo săo nem os que enviam nem os que recebem as mensagens... A carta é constituída por sua interceptaçăo". DERRIDA, Jaques. "Discussion" sobre Claude Rabant, Il n'a aucune chance de l'entendre. In: MAJOR, René. (org.) Affranchissement du trasfert et de la lettre. Paris, Confrontation, 1981, p.106
- 44 DERRIDA, J. Of Spirit: Heidegger and the Question. Chicago, University of Chicago Press, 1989, p.32 (Trad.: Geoffrey Bennington e Rachel Bowlby).
- 46 Devi entrou para o legendário Partido Comunista da Índia em 1942. Ela foi tanto parte da luta anti-colonial quanto testemunha do fracasso da descolonizaçăo. Há pouca escrita de "discurso colonial" em sua ficçăo. Em "Choli ka pichhe" [Por trás do Sutiă] (In: DEVI. The Breast Stories. Calcutta, Seagull, 1997, p.140 [
- 48 DERRIDA, J. Specters of Marx: The State of the Debt and the New Internacional. Nova Iorque, Routledge, 1994, p.6 e passim (Trad.: Peggy kamuf).
- 49 Para a dinâmica labiríntica da assinatura do autor que assegura que (o dom do) texto é factualmente uma contrafacçăo, ver DERRIDA, J. Given Time, pp.107-172.
- 50 As referęncias a esses interesses săo encontradas na obra tardia de Paul de Man e na obra inicial de Jacques Derrida. Para referęncias específicas, ver MAN, P. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzche, Rilke, Proust. New Haven, Yale University Press, 1979, pp.205, 208-209, 236, 253;
- e DERRIDA, J. Limited inc: abc. Glyph 2, 1977.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
29 Mar 2007 -
Data do Fascículo
2002