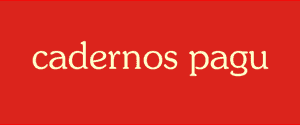Resumos
A primeira parte do texto trata das várias noções de "diferença" que surgiram na recente controvérsia sobre a categoria "negro" (black) como sinal comum para a experiência de grupos africanos-caribenhos e do sul da Ásia na Grã-Bretanha do pós-guerra. O objetivo é assinalar como "negro" operou como sinal contingente em diferentes circunstâncias políticas. A segunda seção considera as maneiras como questões de "diferença" foram enquadradas na teoria e na prática feministas durante as décadas de 1970 e 1980, tendo como foco principal o debate britânico. A autora conclui com um breve exame de algumas categorias conceituais usadas na teorização da "diferença", sugerindo um novo quadro para análise.
Interseccionalidades; Diferença; Teoria Feminista; Racismos; Gênero; Classe
The first part of text adresses the various notions of "difference" that have emerged in the recent controversy about the category "black" as a common sign for the experience of African-Caribbean and South Asian groups in post-war Britain. The aim is to signal how "black" has operated as a contingent sign under different political circumstances. The second section is concerned with the ways in which issues of "difference" were framed within feminist theory and practice during the 1970s and 1980s. The primary focus is on the British debate. The author concludes with a brief examination of some conceptual categories used in the theorisation of "difference", and suggests a new analytical framework.
Intersectionalities; Difference; Feminism Theory; Racisms; Gender; Class
ARTIGOS
Diferença, diversidade, diferenciação* * Difference, Diversity, Differentiation. In: BRAH, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting Indentities. Longon/New York, Routledge, 1996, capítulo 5, pp.95-127. O comitê editorial dos cadernos pagu agradece as autorizações da autora e da editora para traduzir este capítulo.
Difference, diversity, differentiation
Avtar Brah
Professora de Sociologia em Birkbeck, Universidade de Londres. a.brah@bbk.ac.uk
RESUMO
A primeira parte do texto trata das várias noções de "diferença" que surgiram na recente controvérsia sobre a categoria "negro" (black) como sinal comum para a experiência de grupos africanos-caribenhos e do sul da Ásia na Grã-Bretanha do pós-guerra. O objetivo é assinalar como "negro" operou como sinal contingente em diferentes circunstâncias políticas. A segunda seção considera as maneiras como questões de "diferença" foram enquadradas na teoria e na prática feministas durante as décadas de 1970 e 1980, tendo como foco principal o debate britânico. A autora conclui com um breve exame de algumas categorias conceituais usadas na teorização da "diferença", sugerindo um novo quadro para análise.
Palavras-chave: Interseccionalidades, Diferença, Teoria Feminista, Racismos, Gênero, Classe.
ABSTRACT
The first part of text adresses the various notions of "difference" that have emerged in the recent controversy about the category "black" as a common sign for the experience of African-Caribbean and South Asian groups in post-war Britain. The aim is to signal how "black" has operated as a contingent sign under different political circumstances. The second section is concerned with the ways in which issues of "difference" were framed within feminist theory and practice during the 1970s and 1980s. The primary focus is on the British debate. The author concludes with a brief examination of some conceptual categories used in the theorisation of "difference", and suggests a new analytical framework.
Key Words: Intersectionalities, Difference, Feminism Theory, Racisms, Gender, Class.
Diferença, diversidade, pluralismo, hibridismo esses são alguns dos termos mais debatidos e contestados do nosso tempo. Questões de diferença estão no centro mesmo de muitas discussões dentro dos feminismos contemporâneos. No campo da educação na Grã-Bretanha, questões de identidade e comunidade continuam a dominar os debates que cercam o "multi-culturalismo" e o "anti-racismo". Neste capítulo, considero como esses temas podem nos ajudar a compreender a racialização do gênero. Independente das vezes que o conceito é exposto como vazio, a "raça" ainda atua como um marcador aparentemente inerradicável de diferença social. O que torna possível que essa categoria atue dessa maneira? Qual é a natureza das diferenças sociais e culturais, e o que lhes dá força? Como, então, a diferença "racial" se liga a diferenças e antagonismos organizados em torno a outros marcadores como "gênero" e "classe"? Tais questões são importantes porque podem ajudar a explicar o tenaz investimento das pessoas em noções de identidade, comunidade e tradição.
Um problema recorrente nessa área é o do essencialismo: isto é, uma noção de essência última que transcenderia limites históricos e culturais. Argumento aqui contra um conceito essencialista de diferença ao mesmo tempo em que problematizo a questão do "essencialismo". Em que ponto e de que maneiras, por exemplo, a especificidade de uma experiência social particular se torna sinal de essencialismo? Ao revisar debates feministas, sugiro que os feminismos negro e branco não devem ser vistos como categorias essencialmente fixas e em oposição, mas antes como campos historicamente contingentes de contestação dentro de práticas discursivas e materiais. De modo semelhante, argumentarei que a análise das interconexões entre racismo, classe, gênero, sexualidade ou qualquer outro marcador de "diferença" deve levar em conta a posição dos diferentes racismos entre si. Acima de tudo, sublinho a importância de uma macro-análise que estude as inter-relações das várias formas de diferenciação social, empírica e historicamente, mas sem necessariamente derivar todas elas de uma só instância determinante. Em outras palavras, tentarei também evitar o perigo do "reducionismo". Ao mesmo tempo, chamo a atenção para a importância de analisar a problemática da subjetividade e identidade para compreender a dinâmica de poder da diferenciação social.
O capítulo se divide em três partes. Na primeira, trato das várias noções de "diferença" que surgiram na recente controvérsia sobre a categoria "negro" (black) como sinal comum para a experiência de grupos africanos-caribenhos e do sul da Ásia na Grã-Bretanha do pós-guerra. Meu objetivo é assinalar como "negro" operou como sinal contingente em diferentes circunstâncias políticas. O problema não é saber se o termo "negro" deveria ter sido mobilizado da maneira como foi. Antes, meu interesse reside em analisar o tipo de sujeito político que o movimento negro britânico criou. A segunda seção considera as maneiras como questões de "diferença" foram enquadradas na teoria e na prática feministas durante as décadas de 1970 e 1980. Meu foco principal aqui é o debate britânico. Concluo com um breve exame de algumas categorias conceituais usadas na teorização da "diferença", e sugiro um novo quadro para análise que, espero, ajudará a esclarecer questões no desenvolvimento de estratégias políticas para a justiça social.
O que há num nome? O que há numa cor?
Nos últimos anos, o uso do termo "negro" para referir-se a pessoas de ascendência africana-caribenha e sul asiática na Grã-Bretanha tem sido objeto de considerável controvérsia. É importante tratar de alguns desses argumentos, pois eles muitas vezes giram em torno de noções de "diferença".
As pessoas africanas-caribenhas e do sul da Ásia que migraram para a Grã-Bretanha no período do pós-guerra vieram a ocupar uma posição estrutural semelhante como trabalhadoras em trabalhos predominantemente não qualificados ou semi qualificados nas camadas mais baixas da economia. Eram então comumente descritas em discursos populares, políticos e acadêmicos como "pessoas de cor". O termo não era um simples termo descritivo. Tinha sido o código colonial para uma relação de dominação e subordinação entre o colonizador e o colonizado. O código passou a ser re-trabalhado e reconstituído através de uma variedade de processos políticos, culturais e econômicos na Grã-Bretanha do pós-guerra. Em outras palavras, os grupos africanos-caribenhos e do sul da Ásia experimentaram a racialização de sua posição de classe e gênero através de um racismo que punha em primeiro plano sua "não-brancura" como temática comum no discurso sobre as "pessoas de cor". Embora os modos precisos como esses conjuntos heterogêneos de pessoas foram racializados não tenham sido idênticos, a condensação do binário branco/não-branco nesse discurso construiu a equivalência e similaridade de experiência, na medida em que enfrentavam práticas de estigmatização, inferiorização, exclusão e/ou discriminação em arenas como emprego, educação, moradia, meios de comunicação, sistema de justiça criminal, aparato de imigração e serviços de saúde. Essas relações de equivalência criaram as condições nas quais uma nova política de solidariedade se tornou possível.
O conceito de "negro" surgia como um termo especificamente político envolvendo pessoas africanas-caribenhas e sul-asiáticas. Ele constituiu um sujeito político inscrevendo a política de resistência contra racismos centrados na cor. O termo foi adotado pelas coalizões emergentes entre organizações e ativistas africanos-caribenhos e asiáticos do sul no final dos anos 60 e nos 70. Foram influenciados pelo movimento do Poder Negro (Black Power) nos EUA, que tinha posto o conceito de "negro" de cabeça para baixo, despindo-o de suas conotações pejorativas em discursos racializados, transformando-o numa expressão confiante de uma identidade afirmativa de grupo. O movimento do Poder Negro urgia os negros norte-americanos a construírem a "comunidade negra" não como uma questão de geografia, mas antes em termos da diáspora africana global. Evitando o "cromatismo" a base de diferenciação entre negros segundo o tom mais claro ou mais escuro da pele "negro" tornou-se uma cor política a ser afirmada com orgulho contra racismos fundados na cor. Os ativistas africanos-caribenhos e sul-asiáticos na Grã-Bretanha tomaram o termo emprestado ao movimento do Poder Negro para estimular uma rejeição ao cromatismo entre aqueles definidos como "pessoas de cor" na Grã-Bretanha.
Classe foi um importante elemento constitutivo no surgimento do conceito de "negro" como cor política. O projeto é mais bem compreendido como parte da Nova Esquerda (New Left) Britânica. Inúmeras organizações ativas nesse movimento político definiam a si mesmas como organizações de trabalhadores; por exemplo, a Associação dos Trabalhadores Indianos e a Aliança das Pessoas Negras. Publicações políticas importantes do período, como Race Today e Race and Class, tratavam da articulação entre racismo e relações de classe. A revista Race and Class ainda estava forte na década de 1990 como importante revista comprometida com a resistência aos racismos e desigualdades de classe globais. O novo sujeito produzido pela política do "negro" transformou a política de classe ao interrogar discursos políticos que afirmavam a primazia da classe.
A política da solidariedade entre ativistas africanos-caribenhos e sul-asiáticos também foi influenciada pela memória das recentes lutas anticoloniais e a descolonização na África, Ásia e Caribe. Alguns também estavam envolvidos na agitação contra a guerra do Vietnã, nas campanhas pelo desarmamento nuclear e em outros movimentos de protesto semelhantes. O discurso da unidade afro-asiática na Grã-Bretanha atendia ao chamado dos movimentos de libertação anticoloniais pela unidade entre os colonizados. Além disso, como argumenta Mercer1 1 MERCER, K. We/come to the Jungle. London, Routledge, 1994[ STANDARDIZEDENDPARAG] , o sinal "negro" era mobilizado também como deslocamento das categorias "imigrante" e "minoria étnica" que, através dos anos 60 e 70, passaram a denotar redefinições racializadas de pertencimento e subjetividade. A fusão dessas varias influências na formação de um projeto voltado ao tratamento das condições da experiência pós-colonial no coração da metrópole britânica significava que o conceito de "negro" estava associado a significados distintos e um tanto diferentes na Grã-Bretanha por comparação com os EUA.
O uso britânico do termo "negro" foi criticado por comentadores como Hazareesingh e Modood.2 2 HAZAREESINGH, S. Racism and cultural identity: an Indian perspective. Dragon's Teeth 24, 1986; Modood, T. "Black" racial equality and Asian identity. New Community 14(3), 1988. Argumentam eles que o "negro" na ideologia do Poder Negro se referia especificamente à experiência histórica dos povos de ascendência africana sub-sahariana, e pretendia criar uma identidade política e cultural positiva entre os norte-americanos negros. Quando utilizado em relação aos sul-asiáticos o conceito é de fato esvaziado daqueles significados culturais específicos associados com expressões como "música negra". O conceito pode incorporar os sul-asiáticos apenas num sentido político, e eles, portanto, concluem que nega a identidade cultural asiática. O argumento tem claramente alguma força. É verdade, como assinalamos antes, que a mobilização por parte do movimento do Poder Negro do termo "negro" era uma tentativa de reivindicar uma herança africana que havia sido negada aos norte-americanos negros pelo racismo. Mas, como projeto político historicamente específico localizado na dinâmica sócio-política e econômica nos EUA, a ideologia do Poder Negro não reivindicava simplesmente um passado ancestral pré-determinado. No próprio processo, também construía uma versão particular dessa herança.
Como os processos culturais são dinâmicos, e o processo de reivindicação é também mediado, o termo "negro" não precisa ser construído em termos essencialistas. Pode ter diferentes significados políticos e culturais em contextos diferentes. Não se pode considerar que seu significado específico na Grã-Bretanha do pós-guerra tenha negado diferenças culturais entre povos africanos, caribenhos e sul-asiáticos quando a diferença cultural não era o princípio organizador dentro desse discurso ou prática política. As lutas políticas concretas em que o novo significado se fundava reconhecia diferenças culturais, mas buscava realizar a unidade política contra o racismo. Em qualquer caso, o problema da diferença cultural não pode ser posto em termos da diferença entre culturas do sul da Ásia e da África e Caribe. Há, por exemplo, muitas diferenças entre as culturas caribenha e africana (que também incluem as culturas de pessoas de ascendência sul-asiática). Culturas nas diásporas sempre têm sua própria especificidade. Em outras palavras, mesmo quando o uso do termo "negro" for limitado à África sub-sahariana e suas diásporas, pode-se dizer, dentro dos parâmetros postos pelos críticos, que ele nega as especificidades culturais desses diversos grupos.
Uma segunda crítica do modo como "negro" tem sido empregado na Grã-Bretanha é que o conceito carece de sentido, dado que muitos sul-asiáticos não se definem como negros e muitos africanos e caribenhos não os consideram como tais. Essa afirmação gira em parte em torno do critério numérico, mas sem fornecer a evidência numérica em que se apóia. Em minha própria pesquisa encontrei que os sul-asiáticos se descrevem com freqüência como "kale" (negro) em discussões sobre racismo. Mas como o ser social total dos sul-asiáticos e dos africanos-caribenhos não é constituído apenas pela experiência do racismo, eles têm muitas outras identificações baseadas em, por exemplo, religião, língua e filiação política. Além disso, como mostram muitas campanhas e manifestações, o conceito de negro foi mobilizado como parte de um conjunto de princípios e idéias constitutivas para promover a ação coletiva. Como movimento social, o ativismo negro tinha como alvo gerar solidariedade; ele não necessariamente supunha que todos os membros das diversas comunidades negras inevitavelmente se identificariam com o conceito em seu uso britânico.
Outro tópico de controvérsia se centra na distribuição de recursos pelo estado para diferentes categorias de consumidores. Argumenta-se que o termo "negro" serve para ocultar as necessidades culturais de outros grupos que não aqueles de origem africano-caribenha. Essa crítica particular cheira muitas vezes a "etnicismo". Etnicismo, eu diria, define a experiência de grupos racializados principalmente em termos "culturais": isto é, postula "diferença étnica" como modalidade principal em torno da qual a vida social é constituída e experimentada. Necessidades culturais são definidas em termos amplos como independentes de outras experiências sociais centradas em classe, gênero, raça ou sexualidade. Isso significa que se supõe que um grupo identificado como culturalmente diferente é internamente homogêneo, quando esse, patentemente, não é o caso. As "necessidades de moradia" de um asiático da classe trabalhadora vivendo em condições de superpopulação num conjunto residencial, por exemplo, não podem ser as mesmas de um asiático de classe média vivendo numa casa semi-isolada no subúrbio. Em outras palavras, discursos etnicistas procuram impor noções estereotipadas de "necessidade cultural comum" sobre grupos heterogêneos com aspirações e interesses sociais diversos. Freqüentemente deixam de tratar da relação entre a "diferença" e as relações sociais de poder em que ela pode estar inscrita. É claro que é importante que o estado seja sensível à pluralidade de necessidades entre seus cidadãos. Mas precisamos estar atentos à maneira como as "necessidades" são construídas e representadas em vários discursos.
Há outra limitação na crítica etnicista do uso do termo "negro" pelo estado local. O etnicismo não parece diferenciar entre "negro" como termo adotado por grupos subordinados para simbolizar resistência contra a opressão e a apropriação do mesmo termo por algumas autoridades locais como base para a formulação de políticas de alocação de recursos.3 3 SIVANADAN, A. Communities of Resistance: Writings on Black Struggles for Socialism. London, Verso, 1990; GILROY, P. There Ain't No Black in the Union Jack. London, Hutchinson, 1987; CAIN, H. and YUVAL-DAVIS, N. The "Equal Opportunity Community" and the antiracist struggle. Critical Social Policy 29, 10(2), 1990. O termo tem significados diferentes nos dois contextos e indica resultados sociais e políticos potencialmente diferentes, mas o etnicismo parece confundir esses diferentes significados. Além disso, certos políticos podem mobilizar o discurso da "diferença étnica" como meio de criar sua própria base de poder, e não de dar poder a aqueles cujas "necessidades" supostamente seriam mais bem atendidas pela eliminação do termo "negro". A questão é que a substituição de "negro" por algum outro descritor politicamente neutro não assegurará uma distribuição mais eqüitativa dos recursos. Pode-se argumentar que foi uma marca de sucesso da política do "negro" como cor política o fato de que o signo tenha sido apropriado pelo discurso do estado. Uma vez que isso aconteceu, "negro" assumiu novos significados. Enquanto que anteriormente servira para gerar solidariedade entre grupos de ascendência africana-caribenha e sul-asiática em torno de problemas políticos específicos como imigração ou policiamento, agora se tornava um lugar de conflito e dissensão, à medida que membros desses grupos competiam por empregos no setor estatal e por subvenções, serviços e outros recursos. Projetos negros de auto-ajuda que tinham sido o exemplo da primeira política negra do pós-guerra tornavam-se agora dependentes do setor estatal. Durante os anos 1980, quando o thatcherismo na Grã-Bretanha começou a exercer maior impacto sobre os orçamentos governamentais locais, muitos projetos comunitários perderam seus recursos. Pelo fim da década de 80, quando os movimentos de esquerda em geral começaram a romper-se e fragmentar-se, o mesmo aconteceu com o projeto constituído em torno do "negro" como cor política.
Que tipo de terminologia foi proposta para substituir "negro"? Escrevendo a partir de perspectivas um tanto diferentes, Hazareesingh e Modood4 4 HAZAREESINGH, S. Racism and cultural identity... Op. cit.; e MODOOD, T. "Black" racial equality... Op. cit. chegam a conclusões semelhantes. Hazareesingh sugere que o uso de "negro" deve ser reservado para pessoas de ascendência africana e que as pessoas do subcontinente sul-asiático devem ser subsumidas sob o conceito de "indianos", com base na "cultura compartilhada no sentido histórico". Mas há uma imensa diversidade de culturas no subcontinente que surgiram e se transformaram em circunstâncias materiais e políticas variadas. Além disso, essas culturas se apóiam em diferenças e divisões de classe, casta, religião, região e língua. Em que sentido, então, pode-se falar de uma cultura indiana comum? A construção de Hazareesingh de uma comunalidade em termos de uma experiência compartilhada do imperialismo e do racismo é vulnerável à mesma crítica que ele dirige contra aqueles que defendem "negro" como cor política. Também ele privilegia processos históricos e contemporâneos de dominação, e o papel do estado na mediação desses processos, como centralmente importantes na estruturação da experiência das pessoas. Sua idéia de uma cultura indiana comum pode ser vista por muitos sul-asiáticos como "uma tentativa de por sua experiência numa camisa de força". Dada a posição do moderno estado da Índia em relação a outros países do subcontinente asiático, o conceito de Hazareesingh de "indiano" pode ser considerado por alguns como se reforçasse um projeto hegemônico naquela região. Como se reconheceriam nessa definição paquistaneses ou pessoas de Bangladesh, dada a história recente da divisão?
De modo diferente de Hazareesingh, Modood emprega o termo "asiático" em lugar de "negro" que, afirma, "fica curto para a maioria das pessoas que identifica como negras", em vez de sul-asiático que descarta como termo acadêmico. Deixando de lado o fato de que a Ásia cobre uma parte muito maior do globo do que o subcontinente do Sul da Ásia, é a definição de "asiático" que é particularmente problemática: "o que quero indicar por uma identidade "asiática", afirma, "é alguma participação na herança das civilizações do antigo Hindustão anterior à conquista britânica".5 5 MODOOD, T. "Black" racial equality... Op. cit., p.97. Primeiro, o termo Hindustão, usado pelos Mughals se referia em termos gerais aos estados do norte da Índia. O que é mais importante, Modood parece atribuir uma identidade unificada à Índia pré-colonial que, por implicação, foi destruída pelo Raj britânico. A evidência histórica mostra, contudo, que a Índia pré-colonial era uma entidade heterogênea, e que as pessoas provavelmente se definiam mais em termos de sua filiação regional, lingüística ou religiosa do que como membros do Hindustão. De fato, pode-se argumentar que a "identidade indiana" como conjunto de identificações com um estado-nação foi o resultado da resistência e luta contra o colonialismo e não algo que existiu antes desse período.
O que quero destacar com esta incursão no debate em torno do uso do termo "negro" na Grã-Bretanha é como a "diferença" é construída de maneira diferente dentro desses discursos. Isto é, o uso de "negro", "indiano" ou "asiático" é determinado não tanto pela natureza de seu referente como por sua função semiótica dentro de diferentes discursos. Esses vários significados assinalam diferentes estratégias e resultados políticos. Mobilizam diferentes conjuntos de identidades culturais ou políticas, e colocam limites ao estabelecimento de fronteiras da "comunidade". Esse debate teve um certo eco dentro do feminismo. É contra esse pano de fundo que agora me volto para a questão da "diferença" dentro do feminismo.
A irmandade (sisterhood) é global?
Em 1985 participei da Conferência Internacional de Mulheres em Nairobi. Ali, mais de 10 mil mulheres de mais de 150 países se reuniram para tratar de problemas de nossa subordinação universal como "segundo sexo", mas o aspecto mais notável dessa conferência era a heterogeneidade de nossa condição social. As questões levantadas pelos diferentes grupos de mulheres presentes à conferência, especialmente as do Terceiro Mundo, serviram para sublinhar o fato de que os problemas que afetam as mulheres não podem ser analisados isoladamente do contexto de desigualdade nacional e internacional.6 6 BRAH, A. Race, class and gender: which way the trinity?. British Journal of Sociology of Education 9(1), 1988; MOHANTY, C. T. Under Westem eyes: feminist scholarships and colonial discourses. Feminist Review 30, 1988.
Nosso gênero é constituído e representado de maneira diferente segundo nossa localização dentro de relações globais de poder. Nossa inserção nessas relações globais de poder se realiza através de uma miríade de processos econômicos, políticos e ideológicos. Dentro dessas estruturas de relações sociais não existimos simplesmente como mulheres, mas como categorias diferenciadas, tais como "mulheres da classe trabalhadora", "mulheres camponesas" ou "mulheres imigrantes". Cada descrição está referida a uma condição social específica. Vidas reais são forjadas a partir de articulações complexas dessas dimensões. É agora axiomático na teoria e prática feministas que "mulher" não é uma categoria unitária. Mas isso não significa que a própria categoria careça de sentido. O signo "mulher" tem sua própria especificidade constituída dentro e através de configurações historicamente específicas de relações de gênero. Seu fluxo semiótico assume significados específicos em discursos de diferentes "feminilidades" onde vem a simbolizar trajetórias, circunstâncias materiais e experiências culturais históricas particulares. Diferença nesse sentido é uma diferença de condições sociais. Aqui o foco analítico está colocado na construção social de diferentes categorias de mulheres dentro dos processos estruturais e ideológicos mais amplos. Não se afirma que uma categoria individual é internamente homogênea. Mulheres da classe trabalhadora, por exemplo, compreende grupos muito diferentes de pessoas tanto dentro quanto entre diferentes formações sociais. A posição de classe assinala certas comunalidades de resultados sociais, mas a classe se articula com outros eixos de diferenciação como o racismo, o heterossexismo ou a casta no delineamento de formas variáveis de oportunidades de vida para categorias específicas de mulheres.
O objetivo principal do feminismo tem sido mudar as relações sociais de poder imbricadas no gênero. Como as desigualdades de gênero penetram em todas as esferas da vida, as estratégias feministas envolvem um enfrentamento da posição subordinada das mulheres tanto dentro das instituições do estado como da sociedade civil. A força por trás da teoria e da prática feminista no período do pós-guerra tem sido seu compromisso de erradicar desigualdades derivadas da noção de diferença sexual inerente a teorias biologicamente deterministas, que explicam a posição social das mulheres como resultado de diferenças inatas. A despeito de evidência de que as "diferenças dos sexos" no comportamento cognitivo entre crianças são pequenas e a semelhança psicológica entre homens e mulheres é muito grande, a pesquisa para estabelecer diferenças inatas prossegue.7 7 ROSE, S., KAMIN, J. and LEWONTIN, R. C. Not in Our Genes. Harmondsworth, Pelican, 1984; SEGAL, L. Slow Motion: Changing Masculinities. Changing Men. London, Virago, 1990. As feministas, é claro, não ignoram a biologia das mulheres, mas questionam ideologias que constroem e representam a subordinação das mulheres como resultado de suas capacidades biológicas.
O modo como questões de biologia são tratadas varia nos diferentes feminismos. É problemático estabelecer fronteiras claras entre feminismos, até porque há um acordo em muitas áreas fundamentais. A seguinte "tipologia de manual", portanto, pretende simplesmente destacar certas diferenças maiores que continuam objeto de contestação. Segundo tais tipologias, análises feministas radicais podem tender a identificar a subordinação biologicamente fundada das mulheres como base fundamental da desigualdade de gênero. As relações de poder entre homens e mulheres são vistas como a principal dinâmica da opressão das mulheres, levando às vezes quase à exclusão de outros determinantes como classe e racismo. Perspectivas feministas "radicais" parecem representar as capacidades reprodutivas das mulheres como indicadoras de certas qualidades psicológicas que são única e universalmente femininas. Supõe-se que essas qualidades tenham sido enfraquecidas através da dominação patriarcal e, portanto, precisem ser redescobertas e reivindicadas. Como conseqüência, pode haver uma celebração da "diferença sexual" na forma de atributos e qualidades presumivelmente exclusivamente femininas. Já se disse que, ainda que repudiando o determinismo biológico implicado em discursos patriarcais, algumas versões do feminismo "radical", por sua vez, constroem uma noção trans-histórica da feminilidade essencial que precisaria ser resgatada e recuperada para além das relações patriarcais.8 8 SEGAL, L. Is the Future Pemale?. London, Virago, 1987; WEEDON, C. Feminist Practice and Poststructuralist Theory. Oxford, Basil Blackwell, 1987; SPELMAN, E. V. Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought. London, The Women's Press, 1988.
Uma premissa central do feminismo "socialista", por outro lado, é que a natureza humana não é essencial, mas socialmente produzida. O significado de ser mulher biológica, social, cultural e psiquicamente é considerado uma variável histórica. O feminismo "socialista" montou uma poderosa crítica daquelas perspectivas materialistas que priorizam a classe, negligenciam as conseqüências sociais da divisão sexual do trabalho, privilegiam as heterossexualidades e dedicam escassa atenção aos mecanismos sociais que impedem as mulheres de atingir igualdade econômica, política e social. Essa linha do feminismo se distancia da suposta ênfase feminista "radical" na consideração das relações de poder entre os sexos como determinante quase exclusivo da subordinação das mulheres.
Na década de 1990, o debate mudou radicalmente, e essas "tipologias" agora adquirem um interesse "histórico". Desde o fim do "socialismo de estado" na antiga União Soviética e na Europa Oriental, "socialismo" passou a significar política autoritária e antidemocrática. O Fórum das Feministas Socialistas Européias, por exemplo, mudou seu nome para Fórum Europeu das Feministas de Esquerda. Essa mudança na nomenclatura não aconteceu porque os problemas políticos que costumavam ser debatidos sob o signo do socialismo tenham se tornado irrelevantes. "Socialismo" agora passou a ser associado, na Europa Oriental e nos estados membros da antiga União Soviética, às práticas desacreditadas dos regimes anteriores, e as mulheres dessas partes da Europa achavam que não seriam capazes de mobilizar apoio com "socialismo" no título. É importante destacar que a mudança não assinala uma mera abordagem pragmática, mas uma resposta estratégica a novas circunstâncias políticas. As alterações políticas de longo-prazo que essas mudanças implicam são ainda difíceis de prever.
Convém lembrar que, até recentemente, perspectivas feministas ocidentais, como um todo, deram pouca atenção aos processos de racialização do gênero, classe e sexualidade. Processos de racialização são, é claro, historicamente específicos, e diferentes grupos foram racializados de maneira diferente em circunstâncias variadas, e na base de diferentes significantes de "diferença". Cada racismo tem uma história particular. Surgiu no contexto de um conjunto específico de circunstâncias econômicas, políticas e culturais, foi produzido e reproduzido através de mecanismos específicos e assumiu diferentes formas em diferentes situações. O racismo antinegro, o racismo antiirlandês, o racismo anti-semita, o racismo antiárabe, diferentes variedades de orientalismos: todos têm suas características distintivas. Já mostrei em outro lugar como as histórias específicas desses vários racismos os colocam em relações particulares entre si. Ali explorei alguns aspectos da racialização de grupos irlandeses e negros na Grã-Bretanha. Um segundo exemplo, de grupos africanos-caribenhos e sul-asiáticos, pode esclarecer mais esse ponto.
Essas comunidades desenvolveram diferentes respostas ao racismo porque suas experiências dele, embora de muitas maneiras semelhante, não foi idêntica.9 9 BRAH, A. and DEEM, R. Towards anti-sexist and anti-racist schooling. Critical Social Policy 16, 1986. Políticas estatais tiveram impactos diferentes nessas comunidades. Comunidades africanas-caribenhas mobilizaram-se muito mais em torno de sua experiência coletiva do sistema de justiça criminal, particularmente a polícia e os tribunais, enquanto que os grupos asiáticos se envolveram de maneira mais ativa na defesa das comunidades contra ataques racistas, assédio racial em conjuntos habitacionais e na organização de campanhas contra deportações e outros problemas derivados dos efeitos das leis de imigração. As representações estereotipadas das comunidades africanas-caribenhas e sul-asiáticas têm sido substancialmente diferentes. Os discursos de gênero dos "nigger" e dos "paki" na Grã-Bretanha do pós-guerra representam ideologias distintas. Mas eles são duas linhas de um racismo comum estruturado em torno da cor/fenótipo/cultura como significantes de superioridade e inferioridade na Grã-Bretanha pós-colonial. Isso significa que grupos africanos-caribenhos, sul-asiáticos e brancos se situam relacionalmente dentro dessas estruturas de representação.
Há uma tendência na Grã-Bretanha de considerar o racismo como "algo que tem a ver com a presença de pessoas negras". Mas é importante salientar que tanto negros como brancos experimentam seu gênero, classe e sexualidade através da "raça". A racialização da subjetividade branca não é muitas vezes manifestamente clara para os grupos brancos, porque "branco" é um significante de dominância, mas isso não torna o processo de racialização menos significativo. É necessário, portanto, analisar que nos constroem como, digamos, "mulher branca" ou "mulher negra", como "homem branco" ou "homem negro". Tal desconstrução é necessária se quisermos decifrar como e por que os significados dessas palavras mudam de simples descrições a categorias hierarquicamente organizadas em certas circunstâncias econômicas, políticas e culturais.
Feminismo negro, feminismo branco?
Durante a década de 1970, houve pouco envolvimento sério e continuado das principais correntes acadêmicas com questões tais como a exploração de gênero no trabalho na metrópole britânica pós-colonial, o racismo nas políticas do estado e nas práticas culturais, a radicalização da subjetividade negra e branca no contexto específico de um período que se seguiu à perda do império, e as particularidades da opressão das mulheres negras na teoria e na prática feministas. Isso teve um papel importante na formação de organizações feministas negras separadas do Movimento de Liberação das Mulheres. Essas organizações surgiram contra o pano de fundo de uma crise econômica e política que se aprofundava e de um crescente entrincheiramento do racismo. A década foi um período em que o powelismo dos anos 60 inundou o tecido social, e foi gradualmente consolidado e transmutado no thatcherismo dos 80. Durante os anos 70, as comunidades negras estavam envolvidas em grande variedade de atividades políticas. Houve grandes greves industriais, diversas lideradas por mulheres. O movimento Negro de Solidariedade Sindical foi formado para lidar com o racismo no emprego e nos sindicatos. Houve campanhas massivas contra o controle da imigração, a violência fascista, ataques racistas contra pessoas e propriedades, modos de policiamento que resultaram na perseguição de pessoas negras e contra a criminalização das comunidades negras. Houve muitos projetos de auto-ajuda ocupados em atividades educacionais, de bem-estar e culturais. Mulheres negras estavam envolvidas em todas essas atividades, mas a formação de grupos autônomos de mulheres negras no fim da década de 70 injetou uma nova dimensão na cena política.
As prioridades específicas das organizações locais de mulheres negras, algumas das quais se uniram para formar uma entidade nacional a Organização das Mulheres de Ascendência Asiática e Africana (OWAAD) variavam em certa medida segundo as exigências do contexto local. Mas o objetivo maior era enfrentar as formas específicas de opressão diante das diferentes categorias de mulheres negras. O compromisso de forjar a unidade entre mulheres africanas, caribenhas e asiáticas demandava tentativas contínuas de analisar, compreender e trabalhar com o que era comum, mas também com a heterogeneidade de experiências. Pedia um questionamento do papel do colonialismo e do imperialismo e dos processos econômicos, políticos e ideológicos contemporâneos na sustentação de divisões sociais particulares dentro desses grupos. Requeria que as mulheres negras fossem sensíveis entre si às especificidades culturais para construírem estratégias políticas comuns para confrontar práticas patriarcais, racismo e desigualdade de classe. Não era tarefa fácil e o fato de que o projeto tenha se desenvolvido por muitos anos e alguns dos grupos locais tenham sobrevivido ao impacto do etnicismo e continuem ativos ainda hoje10 10 BRIXTON BLACK WOMEN'S GROUP. Black women organising autonomously. Feminist Review 17, 1984; BRYAN, B., DADSIE, S. and SCAFE, S. Heart olthe Race. London, Virago Press, 1985. é testemunho do compromisso político e da visão das mulheres nele envolvidas.
O fim da OWAAD como organização nacional no início da década de 80 foi precipitado por diversos fatores. Muitas dessas tendências divisivas ocorreram paralelamente no movimento das mulheres como um todo. As organizações filiadas à OWAAD compartilhavam seus objetivos amplos, mas havia diferenças políticas entre as mulheres em várias questões. Havia acordo geral de que o racismo era crucial na estruturação de nossa opressão na Grã-Bretanha, mas diferíamos em nossas análises do racismo e de seus laços com classe e outros modos de desigualdade. Para algumas mulheres, o racismo era uma estrutura autônoma de opressão e tinha que ser atacado como tal; para outras, estava inextricavelmente conectado com classe e outros eixos de divisão social. Havia também diferenças de perspectivas entre feministas e não feministas na OWAAD. Para as últimas, uma ênfase no sexismo era uma diversão da luta contra o racismo. A desvalorização das culturas negras pelos ataques do racismo significava que para algumas mulheres a prioridade era "reivindicar" esses sítios culturais e situar a si mesmas "como mulheres" dentro deles. Conquanto esse fosse um projeto importante, havia, às vezes, mais que uma sugestão de idealização de um passado perdido. Outras mulheres diziam que, embora a afirmação da identidade cultural fosse crucial, era igualmente importante tratar das práticas culturais em suas formas opressivas. O problema da violência masculina contra mulheres e crianças, a desigual divisão sexual do trabalho em casa, questões de dote e de casamentos forçados, a clitoridectomia, o heterossexismo e a supressão das sexualidades lésbicas: todas eram questões que demandavam atenção imediata. Embora a maioria das mulheres da OWAAD reconhecesse a importância dessas questões, havia grandes diferenças em relação às prioridades e estratégias políticas para enfrenta-las.
Ao lado dessas tendências, começava a surgir dentro do movimento das mulheres como um todo uma ênfase na política da identidade. Em lugar de embarcar na tarefa complexa, mas necessária, de identificar as especificidades de opressões particulares, entendendo suas interconexões com outras formas de opressão, e construir uma política de solidariedade, algumas mulheres começavam a diferenciar essas especificidades em hierarquias de opressão. Supunha-se que o mero ato de nomear-se como membro de um grupo oprimido conferisse autoridade moral. Opressões múltiplas passaram a ser vistas não em termos de seus padrões de articulação, mas como elementos separados que podiam ser adicionados de maneira linear, de tal modo que, quanto mais opressões uma mulher pudesse listar, maior sua reivindicação a ocupar uma posição moral mais elevada. Afirmações sobre a autenticidade da experiência pessoal podiam ser apresentadas como se fossem uma diretriz não problemática para o entendimento de processos de subordinação e dominação. Declarações farisaicas de correção política passaram a substituir a análise política.11 11 ARDILL, S. and O'SULLIVAN, S. Upsetting an applecart: difference, desire and lesbian sadomasochism. Feminist Review 23, 1986; ADAMS, M. L. Identity politics. Feminist Review 31, 1989.
A despeito da fragmentação do movimento das mulheres, as mulheres negras na Grã-Bretanha continuaram a levantar questões críticas sobre a teoria e a prática feministas. Como resultado de nossa posição dentro de diásporas formadas pela história da escravidão, o colonialismo e o imperialismo, feministas negras têm argumentado de maneira consistente contra o paroquialismo, e salientado a necessidade de um feminismo sensível às relações sociais internacionais de poder.12 12 Feminist Review, 1984; CARBY, H. Schooling in Babylon. Centre for Contemporary Cultural Studies, The Empire Strikes Back, London, Hutchinson, 1982; PARMAR, P. Gender, race and cIass: Asian women in resistance. Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, 1982; BRAH, A. and MINHAS, R. Structural racism or cultural difference: schooling for Asian girls. In: WEINER, G. (ed.) Just a Bunch of Girls. Milton Keynes, Open University Press, 1985; BRAH, A. Journey to Nairobi; In: GREWAL, S., KAY, J., LANDOR, L., LEWIS, G. and PARMAR, P. Charting the Journey: Writings by Black and Third World Women. London, Sheba Press, 1987; PHOENIX, A. Theories of gender and black families. In: WEINER, G. and AMOT, M. (eds.) Gender under Scrutiny. Milton Keynes, Open University Press, 1987; GREWAL, S. et aIii. (eds.) Charting the Journey... Op. cit.; MAMA, A. Violence against black women: gender, race, and state responses. Feminist Review 32, 1989; LEWIS, G. Audre Lorde: vignettes and mental conversations. Feminist Review 34, 1990. O artigo de Hazel Carby "White women listen" [Escutem mulheres brancas], por exemplo, apresenta uma crítica de conceitos-chave feministas como "patriarcado", "família" e "reprodução". Critica perspectivas feministas que usam noções de "resíduos feudais" e "tradicionalismo" para criar escalas de "liberdades civilizadas", com o "Terceiro Mundo" num extremo da escala e o "Primeiro Mundo" supostamente progressista no outro. Fornece diversas ilustrações de como um certo tipo de feminismo ocidental pode servir para reproduzir, mais que para enfrentar, as categorias através das quais "o ocidente" constrói e representa a si mesmo como superior a seus "outros".
Essas críticas geraram alguma auto-reflexão por parte de escritoras feministas brancas. Numa tentativa de reavaliar sua obra anterior, Barret e McIntosh, por exemplo, reconheceram as limitações do conceito de patriarcado como dominação masculina não ambígua e invariável, não diferenciada por classe ou racismo. Optaram pelo uso de "patriarcal" significando "relações sociais particulares que combinam uma dimensão pública de poder, exploração ou status com uma dimensão de servilismo pessoal".13 13 BARRETT, M. and MCINTOSH, M. Ethnocentrism and socialist-feminist theory. Feminist Review 20, 1985, p.39[ STANDARDIZEDENDPARAG] Mas deixaram de especificar como e por que o conceito de "patriarcal" seria analiticamente superior ao de "patriarcado" no estudo das interconexões entre gênero, classe e racismo. A mera substituição do conceito de patriarcado por relações patriarcais não pode em si mesmo dar conta das críticas de a-historicismo, universalismo ou essencialismo que foram feitas ao primeiro, embora, como diz Walby14 14 WALBY, S. Theorizing Patriarchy. Oxford, Basil Blackwell, 1990. , seja possível chegar a argumentos historicizados de patriarcado. Como resposta a tais re-conceituações de patriarcado, Joan Acker sugere que seria mais apropriado deslocar "o objeto teórico do patriarcado ao gênero, que podemos definir brevemente como diferenciações estruturais, relacionais e simbólicas entre mulheres e homens".15 15 ACKER, J. The problem with patriarchy. Sociology 23(2), 1989, p.238. Ela é cautelosa em relação ao deslocamento, contudo, pois "gênero", segundo ela, não tem o gume político crítico de "patriarcado" e poderia ser cooptado e neutralizado com maior facilidade dentro da teoria "estabelecida". Vale lembrar que todo esse debate foi geralmente situado dentro dos parâmetros da oposição binária masculino/feminino e não trata da indeterminação do "sexo" enquanto categoria.16 16 BUTLER, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion olldentity, New York, Routledge, 1990.
Prefiro reter o conceito de "patriarcal" sem necessariamente subscrever o conceito de "patriarcado" historicizado ou não. Relações patriarcais são uma forma específica de relação de gênero em que as mulheres estão numa posição subordinada. Em teoria, pelo menos, deveria ser possível imaginar um contexto social em que relações de gênero não estejam associadas à desigualdade. Além disso, tenho sérias reservas sobre a utilidade analítica ou política de manter fronteiras de sistema entre "patriarcado" e a particular formação socioeconômica e política (por exemplo, o capitalismo ou o socialismo de estado) de que ela é parte. Seria muito mais útil compreender como relações patriarcais se articulam com outras formas de relações sociais num contexto histórico determinado. Estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como "variáveis independentes" porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra é constituída pela outra e é constitutiva dela.
Reconhecendo a crítica feminista negra, Barret e McIntosh17 17 BARRETT, M. and MCINTOSH, M. Ethnocentrism... Op. cit. destacam a necessidade de analisar a construção ideológica da feminilidade branca através do racismo. Isso, em minha opinião, é essencial, pois ainda há uma tendência a tratar questões de desigualdade através do foco nas vítimas da desigualdade. Discussões sobre o feminismo e o racismo muitas vezes se centram na opressão das mulheres negras e não exploram como o gênero tanto das mulheres negras como das brancas é construído através da classe e do racismo. Isso significa que a "posição privilegiada" das mulheres brancas em discursos racializados (mesmo quando elas compartilham uma posição de classe com mulheres negras) deixa de ser adequadamente teorizada, e os processos de dominação permanecem invisíveis. A representação das mulheres brancas como "guardiãs morais de uma raça superior", por exemplo, serve para homogeneizar a sexualidade das mulheres brancas ao mesmo tempo em que as fraturam através da classe, na medida em que a mulher branca de classe trabalhadora, ainda que também apresentada como "portadora da raça", é simultaneamente construída como tendente à "degeneração" por causa de sua situação de classe. Vemos aqui como contradições de classe podem ser trabalhadas e "resolvidas" ideologicamente dentro da estruturação racializada do gênero.
O artigo de Barret e McIntosh gerou debate considerável.18 18 Ver as contribuições de RAMAZANOGLU, Kazi, Lees e SAFIA-MIRZA. Feminist Review, 1986; BHAVNANI, K. K. and COULSON, M. Transforming socialist feminism: the challenge ofracism. Feminist Review 23, 1986. Embora reconhecendo a importância da reavaliação de uma parte de sua obra por duas importantes feministas brancas, as críticas argumentam que seus métodos de re-exame deixaram de criar uma possibilidade de transformação radical da análise anterior, deixando que as características "raciais" na reprodução social continuem sem ser teorizadas. Esse debate feminista contribuiu para o debate mais amplo sobre se as divisões sociais associadas à etnia e ao racismo deveriam ser vistas como absolutamente autônomas em relação à classe social, como redutíveis à classe social ou como tendo origens históricas, mas articulando-se agora com as divisões de classe na sociedade capitalista.
Eu diria que o racismo não é nem redutível à classe social ou ao gênero, nem inteiramente autônomo. Racismos têm origem histórica diversa, mas se articulam com estruturas patriarcais de classe de maneiras específicas, em condições históricas dadas. Os racismos podem ter eficácia independente, mas sugerir isso não é o mesmo que dizer, como Caroline Ramazanoglu, que o racismo é uma "forma independente de dominação".19 19 RAMAZANOGLU, C. Feminism and the Contradictions of Oppression. London, Routledge, 1989. O conceito de articulação sugere relações de conexão e eficácia através das quais, como diz Hall "as coisas são relacionadas tanto por suas diferenças como por suas semelhanças".20 20 HALL, S. Race, articulation and societies structured in dominance. In: Sociological Theories: Race and Colonialism. Paris, UNESCO, 1980, p.328. De maneira semelhante, Laclau e Mouffe21 21 LACLAU, E. and MOUFFE, C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London, Verso, 1985. notam que articulação é uma prática e não o nome de um dado complexo relacional; isto é, articulação não é a simples junção de duas ou mais entidades discretas. Melhor, é um movimento transformador de configurações relacionais. A procura por grandes teorias que especifiquem as interconexões entre racismo, gênero e classe foi bem menos do que produtiva. Melhor construí-las como relações historicamente contingentes e específicas a determinado contexto. Daí que podemos focalizar um dado contexto e diferenciar entre a demarcação de uma categoria como objeto de discurso social, como categoria analítica e como tema de mobilização política, sem fazer suposições sobre sua permanência ou estabilidade ao longo do tempo e do espaço. Isso significa que feminismo "branco" ou feminismo "negro" na Grã-Bretanha não são categorias essencialistas, mas antes campos de contestação inscritos dentro de processos e práticas discursivas e materiais num terreno pós-colonial. Representam lutas sobre esquemas políticos de análise; os significados de conceitos teóricos; as relações entre teoria, prática e experiências subjetivas, e sobre prioridades e modos de mobilização política. Mas não devem, em minha opinião, ser entendidas como construindo as mulheres "brancas" e "negras" como categorias "essencialmente" fixas em oposição.
Contribuições mais recentes ao debate formulam argumentos um tanto diferentes e seu objeto de crítica é também diferente na medida em que interrogam o feminismo negro e/ou anti-racista. Um argumento é que, longe de facilitar a mobilização política, discursos feministas negros/anti-racistas do fim da década de 1970 e da década de 1980 na realidade impediram o ativismo político. Knowles e Mercer, por exemplo, afirmam que a ênfase de Carby e Bourne na inscrição do racismo e da desigualdade de gênero dentro de processos de capitalismo, colonialismo e sistemas sociais patriarcais produziu argumentos funcionalistas que o sexismo e o racismo eram inerentes a esses sistemas e serviam às necessidades de perpetuação desses sistemas. Acreditam que essa abordagem demandava nada menos que uma luta total contra esses "ismos", e portanto prejudicava respostas políticas mais localizadas e em menor escala. Mas sabemos que as décadas de 70 e 80 testemunharam uma ampla variedade de atividade política tanto ao nível local como ao nacional. Seu próprio método para lidar com o que supõem serem as limitações de uma ênfase na macro-análise é sugerir que o racismo e o sexismo devem ser "vistos como uma série de efeitos que não têm uma única causa".22 22 KNOWLES, C. and MERCER, S. Feminism and Anti-Racism. In: DONALD, J. and RATTANSI, A. (eds.) "Race", Culture and Difference. London, Sage, 1992, p.110. Eu aceitaria os argumentos de que o nível de abstração em que categorias como "capitalismo" e "relações patriarcais" são delineadas não fornece diretrizes claras para uma estratégia e ação concretas, e também que racismo e sexismo não são fenômenos monocausais. Mas não estou segura de que tratar racismo e sexismo como "uma série de efeitos" forneça diretrizes mais claras para uma resposta política. O mesmo "efeito" pode ser interpretado a partir de diversas posições políticas, e levar a estratégias de ação bem diferentes. Assumir uma posição política específica significa que se está fazendo certas suposições sobre a natureza dos vários processos que sublinham um fenômeno social, de que um evento particular pode ser um efeito. Um foco apenas nos "efeitos" pode tornar invisível a operação de tais processos ideológicos e materiais, assim dificultando nossa compreensão das complexas bases das desigualdades. Ainda que cruciais na mobilização de grupos específicos, as lutas sobre questões isoladas como fins em si mesmas podem limitar enfrentamentos mais amplos às desigualdades sociais. A linguagem dos "efeitos", de qualquer modo, não escapa de um subtexto implícito de "causas".
Compartilho a reserva de Knowles e Mercer sobre as perspectivas analíticas e políticas em que a desigualdade social passa a ser personificada nos corpos dos grupos sociais dominantes os brancos, homens ou heterossexuais em relação ao racismo, sexismo ou heterossexismo mas não podemos ignorar as relações sociais de poder que inscrevem tal diferenciação. Membros dos grupos dominantes de fato ocupam posições "privilegiadas" dentro de práticas políticas e materiais que se ocupam dessas divisões sociais, embora a precisa interconexão desse poder em instituições específicas ou em relações interpessoais não possa ser estipulada de antemão, possa ser contraditória, e possa ser contestada.
Uma crítica ligeiramente diferente do feminismo negro contesta sua validez sugerindo que ele representaria tão somente os interesses das mulheres negras.23 23 TANG MAIN, G. Black women, sexism and racism: black or antiracist?. Feminist Review 37, 1990. Por implicação, o feminismo negro é construído como sectário em comparação com o feminismo radical ou o socialista. Essa comparação é problemática, pois constrói o feminismo negro fora do feminismo radical ou do socialista. Na prática, a categoria "feminismo negro" na Grã-Bretanha só tem sentido diante da categoria "feminismo branco". Se, como argumentei antes, essas duas categorias são contingentes e não essencialistas, então não se pode perguntar, como faz Tang Main, se o "feminismo negro" está aberto a todas as mulheres sem perguntar simultaneamente a mesma coisa ao "feminismo branco". A caracterização que Tang Main faz do feminismo radical e do socialista como "abertos a todas as mulheres" não resiste à evidência massiva que mostra que, pelo menos na Grã-Bretanha e nos EUA, esses feminismos deixaram de dar conta adequadamente do racismo e da experiência de grupos racializados de mulheres. A ideologia do "aberto para todas" pode de fato legitimar todos os tipos de exclusão de facto. O feminismo socialista, por exemplo, não pode realmente incluir mulheres sujeitas ao racismo a menos que seja um feminismo socialista anti-racista, ou mulheres lésbicas a menos que seja simultaneamente não heterossexista, ou mulheres de castas baixas a menos que seja contra as castas. Mas essas questões não podem ser postas em abstrato, nem podem ser resolvidas de uma vez por todas, mas apenas através do desenvolvimento de lutas políticas.
Por razões semelhantes, a crítica da categoria "negro" por Floya Anthias e Nira Yuval-Davis na base de que ela deixou de tratar da diversidade de exclusões e subordinações étnicas parece equivocada. As fronteiras de um círculo de pessoas formado em torno de preocupações específicas dependem da natureza das preocupações e sua importância e significação na vida dessas pessoas. O feminismo negro construiu uma base em termos da experiência de gênero do racismo antinegro. Grupos étnicos brancos que não estiveram sujeitos a essa forma de racismo não poderiam, portanto, fazer parte dessa base. Isso não significa que suas experiências do anti-semitismo, digamos, sejam menos importantes. O racismo antinegro e o anti-semitismo não podem ser subsumidos um no outro. Isso fica patentemente claro se compararmos a experiência de uma judia branca e de uma judia negra. A judia negra está diante de dois discursos racializados. Anthias e Yuval-Davis fazem algumas observações incisivas sobre etnia como uma categoria de diferenciação social, mas sua afirmação de que "o feminismo negro pode ser uma categoria ampla ou estreita demais para lutas feministas específicas"24 24 ANTHIAS, F. and YUVAL-DAVIS, N. Contextualising feminism. Feminist Review 15, 1982, p.63. é problemática, pois o surgimento do movimento das mulheres negras como resposta historicamente específica é um testemunho de que a organização em torno da categoria "mulheres negras" é possível.
Vale repetir que o feminismo negro foi constituído em articulação com diversos movimentos: o projeto da "Unidade Afro-Asiática" em torno do signo "negro"; política de classe; movimentos anticoloniais; movimentos feministas globais; e políticas gay e lésbica. Múltiplas localizações marcaram a formação de novas subjetividades e identidades diaspóricas; e ele produziu um novo sujeito político poderoso. Como a maioria dos sujeitos políticos, este também carregava sua própria contradição dentro e fora da multiplicidade. Como vimos antes, sua aparente coerência foi perturbada pelo debate e contestação internos. Mas foi um dos sujeitos políticos mais habilitadores do período. A figuração do "negro" por parte do feminismo negro como aconteceu em geral com a política do "negro" afastou esse significante de possíveis conotações essencialistas e subverteu a própria lógica de suas codificações raciais. Ao mesmo tempo, enfraqueceu discursos neutros em relação ao gênero sobre o "negro", afirmando as especificidades das experiências das mulheres negras. Na medida em que mulheres negras compreendiam uma categoria altamente diferenciada em termos de classe, etnia e religião, e incluíam mulheres que tinham migrado da África, do subcontinente asiático e do Caribe, tanto como aquelas nascidas na Grã-Bretanha, o negro do "feminismo negro" inscrevia uma multiplicidade de experiências ainda que articulasse uma posição particular de sujeito feminista. Além disso, ao trazer para o primeiro plano uma ampla gama de experiências diaspóricas em sua especificidade tanto local quanto global, o feminismo negro representava a vida negra em toda sua plenitude, criatividade e complexidade.
O feminismo negro escancarou discursos que afirmavam a primazia, digamos, da classe ou do gênero sobre os demais eixos de diferenciação, e interrogava as construções de tais significantes privilegiados enquanto núcleos autônomos unificados. A questão é que o feminismo negro não só representava um sério desafio aos racismos centrados na cor, mas sua significação ultrapassa esse desafio. O sujeito político do feminismo negro descentra o sujeito unitário e masculinista do discurso eurocêntrico, e também a versão masculinista do "negro" como cor política, ao mesmo em que perturba seriamente qualquer noção de "mulher" como categoria unitária. Isso quer dizer que, embora constituído em torno da problemática da "raça", o feminismo negro desafia performativamente os limites de sua constituição.
O feminismo negro não impediu coalizões através de outras fronteiras, e as mulheres negras trabalharam com mulheres brancas e com homens, e com outras categorias de pessoas num amplo espectro de opiniões políticas em questões de interesse comum. Reconheço plenamente que a categoria "negro" como cor política não tem mais a força que costumava ter. Como parte do projeto da esquerda, sofreu dificuldades semelhantes às da esquerda britânica como um todo. A política da nova direita que atingiu sua apoteose durante os anos Thatcher, o fim do socialismo de estado na Europa Oriental, a formação da União Européia, a reestruturação econômica, o surgimento de movimentos políticos religiosos, o ressurgimento de novas formas de cultura jovem, etc., tudo isso teve impacto significativo em todos os aspectos da vida. Essas mudanças pedem novas configurações de solidariedade. A questão, contudo, é que quaisquer alternativas à categoria política "negro", como "mulheres de cor" ou outro termo ainda não utilizado, não podem ser planejadas em abstrato ou decididas por antecipação. Elas só podem surgir através de novos modos de contestação num novo clima econômico e político.
Minha proposta de que os feminismos "negro" e "branco" sejam tratados como práticas discursivas não essencialistas e historicamente contingentes implica que mulheres negras e brancas podem trabalhar em conjunto pela criação de teoria e prática feministas não-racistas. A questão-chave, então, não diz respeito à "diferença" em si, mas a quem define a diferença, como diferentes categorias de mulheres são representadas dentro dos discursos da "diferença" e se a "diferença" diferencia lateral ou hierarquicamente. Precisamos de maior clareza conceitual na análise da diferença.
Diferença: qual diferença?
É axiomático que o conceito de "diferença" está associado a uma variedade de significados em diferentes discursos. Mas como devemos compreender a "diferença"? No esquema analítico que estou tentando formular aqui, a questão não é privilegiar o nível macro ou micro de análise, mas como articular discursos e práticas inscreve relações sociais, posições de sujeito e subjetividades. O problema interessante então é como os níveis micro e macro são inerentes às inscrições acima. Como a diferença designa o "outro"? Quem define a diferença? Quais são as normas presumidas a partir das quais um grupo é marcado como diferente? Qual é a natureza das atribuições que são levadas em conta para caracterizar um grupo como diferente? Como as fronteiras da diferença são constituídas, mantidas ou dissipadas? Como a diferença é interiorizada nas paisagens da psique? Como são os vários grupos representados em diferentes discursos da diferença? A diferença diferencia lateral ou hierarquicamente? Questões como essas levantam uma problemática mais geral sobre a diferença como categoria analítica. Eu sugeriria quatro maneiras como a diferença pode ser conceituada: diferença como experiência, diferença como relação social, diferença como subjetividade e diferença como identidade.
Diferença como experiência
Experiência é um conceito-chave no feminismo. Movimentos de mulheres têm tido como alvo dar uma voz coletiva às experiências pessoais das mulheres com forças sociais e psíquicas que constituem a "fêmea" em "mulher". O cotidiano das relações sociais de gênero desde o trabalho doméstico e o cuidado das crianças, emprego mal pago e dependência econômica até a violência sexual e a exclusão das mulheres de centros-chave de poder político e cultural ganhou um novo significado através do feminismo à medida que deixou o domínio do "tido como certo" para ser interrogado e enfrentado. O pessoal, com suas qualidades profundamente concretas, mas fugidias, e suas múltiplas contradições, adquiriu novos significados no slogan "o pessoal é político", quando grupos de conscientização forneceram os fóruns para explorar experiências individuais, sentimentos pessoais e a própria compreensão das mulheres sobre suas vidas diárias. Como notou Teresa de Lauretis, esse original insight feminista proclamou "uma relação, por complexa que possa ser, entre socialidade e subjetividade, entre linguagem e consciência, ou entre instituições e indivíduos...".25 25 DE LAURETIS, T. (ed.) Feminist Studies/Critical Studies. Bloomington, Indiana University Press, 1986, p.5.
Que há consideráveis limitações ao método da conscientização como estratégia para a ação coletiva não está em questão. O que importa é que a conscientização trouxe para o primeiro plano um dos mais poderosos insights do feminismo, que é que a experiência não reflete de maneira transparente uma realidade pré-determinada, mas é uma construção cultural. De fato, "experiência" é um processo de significação que é a condição mesma para a constituição daquilo a que chamamos "realidade". Donde a necessidade de re-enfatizar uma noção de experiência não como diretriz imediata para a "verdade" mas como uma prática de atribuir sentido, tanto simbólica como narrativamente: como uma luta sobre condições materiais e significado.
Contra a idéia de um "sujeito da experiência" já plenamente constituído a quem as "experiências acontecem", a experiência é o lugar da formação do sujeito. Essa noção muitas vezes falta nas discussões sobre diferenças entre pessoas onde a diferença e a experiência são usadas principalmente como "termos de senso comum".26 26 BARRET, M. The concept of difference. Feminist Review 26, 1987. Não é de surpreender que tais discussões fracassem ou resultem em "diálogos de surdos" quando lidam com as contradições da subjetividade e da identidade. Por exemplo, como lidar com o racismo de uma feminista, a homofobia de alguém sujeito ao racismo, ou até o racismo de um grupo racializado em relação a outro grupo racializado, cada um supostamente falando a partir do ponto de vista de sua experiência, se toda experiência refletisse de maneira transparente uma dada "verdade"? De fato, como pode um projeto como o feminismo ou o anti-racismo, ou um movimento de classe, como pode mobilizar-se como força política pela mudança se não tiver começado interrogando os valores e normas "tidos como certos" que podem legitimar a dominação e a desigualdade naturalizando "diferenças" particulares? A atenção a esse ponto revela a experiência como um lugar de contestação: um espaço discursivo onde posições de sujeito e subjetividades diferentes e diferenciais são inscritas, reiteradas ou repudiadas. É essencial então enfrentar as questões de que matrizes ideológicas ou campos de significação e representação estão em jogo na formação de sujeitos diferentes, e quais são os processos econômicos, políticos e culturais que inscrevem experiências historicamente variáveis. Como diz Joan Scott, "a experiência é sempre uma interpretação e, ao mesmo tempo, precisa de interpretação".27 27 SCOTT, J. W. Experience. In: BUTLER, J. and SCOTT, J. W. (eds.) Feminists Theorize the Political. New York, Routledge, 1992, p.37.
Pensar a experiência e a formação do sujeito como processos é reformular a questão da "agência". O "eu" e o "nós" que agem não desaparecem, mas o que desaparece é a noção de que essas categorias são entidades unificadas, fixas e já existentes, e não modalidades de múltipla localidade, continuamente marcadas por práticas culturais e políticas cotidianas.
Como sugeri no último capítulo, é útil distinguir a diferença como marcador de distintividade de nossas "histórias" coletivas da diferença como experiência pessoal inscrevendo a biografia individual. Esses conjuntos de "diferenças" articulam constantemente, mas não podem ser "lidas" uma a partir da outra. O significado atribuído a um dado evento varia enormemente de um indivíduo para outro. Quando falamos da constituição do indivíduo em sujeito através de múltiplos campos de significação estamos invocando inscrição e atribuição como processos simultâneos através dos quais o sujeito adquire significado em relações socioeconômicas e culturais no mesmo momento em que atribui significado dando sentido a essas relações na vida cotidiana. Em outras palavras, como uma pessoa percebe ou concebe um evento varia segundo como "ela" é culturalmente construída: a miríade de maneiras imprevisíveis em que tais construções podem se configurar no fluxo de sua psique; e, invariavelmente, em relação ao repertório político dos discursos culturais à sua disposição. "Histórias" coletivas são também, é claro, culturalmente construídas no processo de atribuir significado ao cotidiano das relações sociais. Mas, enquanto as biografias pessoais e histórias de grupo são mutuamente imanentes, elas são relacionalmente irredutíveis. O mesmo contexto pode produzir várias "histórias" coletivas diferentes, diferenciando e ligando biografias através de especificidades contingentes. Por sua vez, a articulação das práticas culturais dos sujeitos assim constituídos marca "histórias" coletivas contingentes com novos significados variáveis.
Diferença como relação social
O conceito de "diferença como relação social" se refere à maneira como a diferença é constituída e organizada em relações sistemáticas através de discursos econômicos, culturais e políticos e práticas institucionais. Isso quer dizer que destaca a sistematicidade através das contingências. Um grupo geralmente mobiliza o conceito de diferença neste sentido quando trata das genealogias históricas de sua experiência coletiva. De fato, diferença e comunalidade são signos relacionais, entretecendo narrativas de diferença com aquelas de um passado e destinos coletivos compartilhados. Em outras palavras, o conceito de "diferença como relação social" sublinha a articulação historicamente variável de micro e macro regimes de poder, dentro dos quais modos de diferenciação tais como gênero, classe ou racismo são instituídos em termos de formações estruturadas. A categoria "classe trabalhadora", por exemplo, destaca o posicionamento em estruturas de relações de classe. Mas dizer isso não é apontar simplesmente para a designação de uma situação subordinada dentro de estruturas socioeconômicas e políticas de poder, mas também sublinhar sistemas de significação e representação que constroem a classe como categoria cultural.
A diferença como relação social pode ser entendida como as trajetórias históricas e contemporâneas das circunstâncias materiais e práticas culturais que produzem as condições para a construção das identidades de grupo. O conceito se refere ao entretecido de narrativas coletivas compartilhadas dentro de sentimentos de comunidade, seja ou não essa "comunidade" constituída em encontros face a face ou imaginada, no sentido sugerido por Benedict Anderson.28 28 ANDERSON, B. Imagined Communities. London, Verso, 1983. É o eco da "diferença como relação social" que reverbera quando legados da escravidão, do colonialismo ou do imperialismo são invocados; ou quando a atenção se volta para a "nova" divisão internacional do trabalho e o posicionamento diferencial de diferentes grupos dentro de seus sistemas de produção, troca e consumo, em contínua evolução, que resultam em desigualdades massivas dentro e entre várias partes do globo. Mas isso não significa que o conceito de relação social opera em algum "nível mais alto de abstração" quando referencia o contexto "macro" por oposição ao "micro". Os efeitos das relações sociais não estão confinados às operações aparentemente distantes das economias, da política ou das instituições culturais nacionais ou globais, mas também estão presentes nas arenas altamente localizadas do local de trabalho, da casa (que, em alguns casos, como os trabalhadores domésticos ou executivos muito bem pagos, "trabalhando em casa, se torna tanto uma unidade de trabalho ainda que com remunerações diferentes quanto de residência), tanto quanto nos interstícios da mente onde a intersubjetividade é produzida e contestada. Todas essas esferas sempre foram interligadas, mas se articulam de maneira única no momento histórico presente. Como argumenta Donna Haraway:
Lar, local de trabalho, mercado, arena pública, o próprio corpo todos podem ser dispersos e interligados de maneiras quase infinitas, polimorfas, com amplas conseqüências para as mulheres e outros conseqüências que são elas mesmas diferentes para pessoas diferentes e que tornam fortes movimentos internacionais difíceis de imaginar e essenciais para a sobrevivência... Tecnologias de comunicação e biotecnologias são as ferramentas cruciais que refazem nossos corpos. Essas ferramentas incorporam e reforçam novas relações sociais para as mulheres em todo o mundo... A fronteira é permeável entre ferramenta e mito, instrumento e conceito, sistemas históricos de relações sociais e anatomias históricas de corpos possíveis, inclusive objetos de conhecimento.29 29 HARAWAY, D. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London, Free Association Books, 1991, pp.164-5.
Relações sociais, então, são constituídas e operam em todos os lugares de uma formação social. Isso significa que, na prática, a experiência como relação social e como o cotidiano da experiência vivida não habitam espaços mutuamente exclusivos. Por exemplo, se falamos das "mulheres norte-africanas na França", estamos nos referindo, por um lado, a relações sociais de gênero na França pós-colonial. Por outro lado, também fazemos uma declaração sobre a experiência cotidiana dessa pós-colonialidade por parte dessas mulheres, embora não possamos especificar, de antemão, a particularidade das vidas dessas mulheres individuais ou como elas interpretam e definem essa experiência. Em ambos os casos, a grande questão é saber como a diferença é definida. Atuam as percepções da diferença como meio de afirmar a diversidade ou como mecanismo de práticas excludentes e discriminatórias? Legitimam os discursos da diferença políticas de estado progressistas ou opressivas? De que modo são representadas diferentes categorias de mulheres em tais discursos? Como respondem as próprias mulheres a essas representações?
Quando entendida dessa maneira, a idéia de diferença como relação social pode não ser vista como privilegiando o "estrutural" como centro de comando de uma formação social, em favor de uma perspectiva que põe em primeiro plano a articulação dos diferentes elementos.
Diferença como subjetividade
Questões de diferença foram centrais para o debate teórico em torno da subjetividade. Boa parte do debate contemporâneo é levada em várias críticas às concepções humanistas do sujeito: como "ponto de origem" unificado, unitário, racional e racionalista; como centrado na consciência; e, em termos da idéia do "Homem" universal como incorporação de uma essência histórica. Essas críticas surgiram de diversas direções diferentes. No período do pós-segunda guerra, os projetos do pós-estruturalismo, do feminismo, do anticolonialismo, do antiimperialismo e do anti-racismo, todos eles, de uma forma ou de outra, problematizaram seriamente a universalização das afirmações de verdade reivindicadas pelas grandes narrativas da história que colocam o "Homem" europeu em seu centro. Mas embora esses projetos se sobrepusessem em alguns aspectos, a problemática de que trataram não era idêntica. Nem se referiram sempre uns aos outros. De fato, uma fonte de controvérsia entre eles é a relativa falta de atenção ou, em alguns casos, uma amnésia quase total por parte de um projeto em relação a questões centrais para o outro. Por exemplo, poucos dos primeiros textos canônicos do pós-estruturalismo tratam de problemas de colonização ou descolonização, ou das questões do racismo de maneira sistemática, a despeito da menção regular à "crise do ocidente". Daí a importância de sérias críticas do discurso sobre o Homem Europeu que surgiram das lutas anticoloniais de independência, quando mulheres, homens e crianças expressavam seu desafio na África, na Ásia e no Caribe, e em outras partes do mundo. Fanon exemplifica um momento dessa crítica quando exorta seus leitores a:
Deixar essa Europa que nunca acaba de falar do Homem, mas mata homens onde quer que os encontre, na esquina de cada uma de suas próprias ruas, em todas as esquinas do globo... Essa mesma Europa onde eles nunca acabam de falar do Homem, e onde nunca pararam de proclamar que estavam ansiosos pelo bem estar do Homem: hoje sabemos com que sofrimento a humanidade pagou por cada um de seus triunfos da mente.30 30 FANON, F. The Wretched ofthe Earth. London, Penguin, 1967, p.251.
Críticas semelhantes vieram à tona em movimentos anti-racistas de resistência e dentro do que é às vezes chamado de teoria do "discurso colonial". Essas correntes na política e na teoria intersectam com outras dentro do feminismo, dos movimentos pacifistas, das campanhas ambientais e de outros projetos semelhantes. Em conjunto, sublinham a noção de que o sujeito não existe sempre como um dado, mas é produzido no discurso. No entanto, por mais habilitador que tenha sido esse insight sobre a produção do sujeito, ele não poderia dar conta por si só das operações não-logocêntricas da subjetividade. Como Henriques et alii colocaram o problema, como evitar, por um lado:
uma espécie de determinismo do discurso que implica que as pessoas são mecanicamente situadas nos discursos, visão que não deixa espaço para explicar nem as possibilidades de mudança nem da resistência individual à mudança, e que despreza a questão da motivação em sua totalidade [e, por outro lado, a noção] de um sujeito dado de antemão que opta por uma posição particular de sujeito?31 31 HENRIQUES, J., HOLLOWAY, W., URWIN, C., VENN, C. and WALKERDINE, V. Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity. London, Methuen, 1984, p.204.
Tal situação levou feministas e outros a re-visitar a psicanálise (especialmente suas variantes pós-estruturalistas e relacionadas ao objeto), e a repensar sua relação com teorias da "desconstrução" e da "micro-política do poder". Houve um reconhecimento crescente de que as emoções, sentimentos, desejos e fantasias mais íntimas da pessoa, com suas múltiplas contradições, não poderiam ser compreendidas puramente em termos dos imperativos das instituições sociais. As novas leituras foram essenciais para um entendimento mais complexo da vida psíquica. A psicanálise perturba noções de um eu unitário, centrado e racional por sua ênfase num mundo interior permeado pelo desejo e pela fantasia. Esse mundo interior é tratado como o lugar do inconsciente com seus efeitos imprevisíveis sobre o pensamento e outros aspectos da subjetividade. Ao mesmo tempo, a psicanálise facilita a compreensão das maneiras como o sujeito-em-processo é marcado por um senso de coerência e continuidade, um senso do núcleo a que ela ou ele chama de "eu".
Jane Flax argumenta que, a despeito das muitas limitações que foram submetidas a considerável debate, há muitas ambigüidades no pensamento de Freud que o tornaram sujeito a diferentes leituras. As ambigüidades nas teorias da libido e do inconsciente, por exemplo, fizeram com que as fronteiras entre ego, superego e id, ou entre o psíquico, o somático e o cultural, fossem compreendidas como não fixas e permeáveis. O dualismo mente/corpo é problematizado quando o instinto ou pulsão é conceituado simultaneamente como psíquico, somático e cultural, quando uma necessidade, vontade ou desejo não é nunca puramente uma sensação corporal, mas é constituída e regulada dentro do espaço cultural. A conceituação de Freud da mente como não unitária, conflituosa, dinâmica, incorporada e constituída de modos que não podem ser "sintetizadas" ou organizadas numa organização permanente e hierárquica de funções ou controle"32 32 FLAX, J. Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West. Oxford, University of California Press, 1990, p.60. solapa conceitos tanto racionalistas quanto empiricistas da mente e do conhecimento.
Nesse tipo de apropriação pós-estrutralista/feminista de Freud, os elementos constitutivos da mente ego, superego e id surgem como conceitos relacionais constituídos em e através da experiência "interior" e "exterior". Donde o sujeito é entendido como descentrado e heterogêneo em suas qualidades e dinâmica. A subjetividade então não é nem unificada nem fixada, mas fragmentada e constantemente em processo. Para as feministas, tal entendimento se tornou especialmente atraente, pois elas problematizam a "diferença sexual": a diferença sexual é algo a ser explicado e não suposto. Algumas se voltaram para a releitura que Lacan faz de Freud para um entendimento não redutivo da subjetividade. Outras acharam o re-trabalhar sobre as linhas de relação ao objeto do esquema de Freud mais útil para desenvolver projetos feministas. Argumentos convincentes foram construídos em favor da importância da psicanálise para o feminismo, contra os críticos que supõem que a noção de uma identidade fragmentada constantemente em processo se choca com o projeto feminista de construir uma consciência opositora através da ação coletiva. E algumas feministas continuam céticas sobre a psicanálise como um todo. O debate continua aceso.33 33 cf. DE LAURETIS, T. Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington, Indiana University Press, 1984; HENRIQUES, J. et alii. Changing the Subject... Op. cit.; ROSE, J. Sexuality in the Field of Vision. London, Verso, 1986; WEEDON, C. Feminist Practice... Op. cit.; Penley, C. The Future of an Il/usion: Film, Feminism and Psychoanalysis. London, Routledge, 1989; FLAX, J. Thinking Fragments... Op. cit.; MINSKY, R. ''The trouble is it's ahistorical": the problem of the unconscious in modem feminist theory. Feminist Review 36, 1990.
Tal argumentação é essencial e produtiva dadas as muitas dificuldades e problemas que continuam a cercar a meta-narrativa da psicanálise que os protagonistas do debate procuram confrontar à sua maneira. Os efeitos psíquicos do racismo, por exemplo, apenas raramente aparecem nessas discussões embora o discurso da "raça" tenha sido um elemento central na constituição da categoria "ocidente". Sem considerar a obra de Fanon, o envolvimento com a problemática da racialização da subjetividade é ainda limitado. Como seriam perturbadas as formulações psicanalíticas tratando do racismo? Hortense Spillers34 34 SPILLERS, H. J. Mama's Baby, Papa's May Be: An American Grammar Book. Diacritics, Summer 1987; e The Permanent Obliquity of an In(pha)llibly Straight: In the Time ofthe Daughters and Fathers. In: WALL, C. A. (ed.) Changing Our Own Words: Essays on Criticism, Theory, and Writing by Black Women. Rutgers University Press, 1989. interroga a psicanálise mesmo que a use em suas análises. Sua ambivalência é instrutiva quando diz:
Começo este texto, de fato, como tentativa de uma interrogação engrenada de que só estou persuadida pela metade. É a paisagem freudiana um texto aplicável (para não dizer apropriado) às situações sociais e históricas que não replicam momentos de suas próprias origens e movimentos? A prestigiosa doença/complexo edipiano, que aparentemente subsume o mito de Electra, se envolve na família nuclear "heterossexual" que dispersa seus frutos verticalmente. Não só "um homem, uma mulher" mas esses dois a lei num lugar específico dos meios econômicos e culturais. Mas como esse modelo, ou basta esse modelo para pessoas e comunidades ocupadas ou cativas (dos escravos africanos nas Américas) em que os direitos e ritos das funções de gênero foram explodidos historicamente em neutralidades sexuais?35 35 SPILLERS, H. J. The Permanent Obliquity... Op. cit., pp.128-9 (ênfase adicional).
Seu discurso sublinha a questão levantada por Dalal36 36 DALAL, F. The racism of Jung. Race and Class 24(3), 1988. em relação ao que ela classifica como a cumplicidade do paradigma junguiano com discursos racializados. Ele destaca a importância e a necessidade de dar maior atenção a como a subjetividade é conceituada em culturas outras que a ocidental e ao tráfico transcultural das idéias.
Ao longo dos anos, houve tentativas de combinar diferentes abordagens no estudo da subjetividade. Teresa de Lauretis, por exemplo, sugere que a semiótica e a psicanálise podem ser mobilizadas conjuntamente para fazer avançar nosso entendimento da subjetividade. Ela argumenta a favor de "situar a subjetividade no espaço contornado pelos discursos da semiótica e da psicanálise, não na primeira nem na última, mas antes em sua intersecção discursiva".37 37 DE LAURETIS, T. Alice Doesn't... Op. cit., p.168. O objetivo é explorar a relação entre mudança pessoal e mudança social sem recurso a explicações redutivas de determinação simples.
Em outras palavras, precisamos molduras conceituais que possam tratar plenamente a questão de que os processos de formação da subjetividade são ao mesmo tempo sociais e subjetivos; que podem nos ajudar a entender os investimentos psíquicos que fazemos ao assumir posições específicas de sujeito que são socialmente produzidas.
Diferença como identidade
Nossas lutas sobre significado são também nossas lutas sobre diferentes modos de ser: diferentes identidades.38 38 MINH-HA, T. T. Woman, Native, Other: Writing Post Coloniality and Feminism. Indianapolis, Indiana University Press, 1989. Questões de identidade estão intimamente ligadas a questões de experiência, subjetividade e relações sociais. Identidades são inscritas através de experiências culturalmente construídas em relações sociais. A subjetividade o lugar do processo de dar sentido a nossas relações com o mundo é a modalidade em que a natureza precária e contraditória do sujeito-em-processo ganha significado ou é experimentada como identidade. As identidades são marcadas pela multiplicidade de posições de sujeito que constituem o sujeito. Portanto, a identidade não é fixa nem singular; ela é uma multiplicidade relacional em constante mudança. Mas no curso desse fluxo, as identidades assumem padrões específicos, como num caleidoscópio, diante de conjuntos particulares de circunstâncias pessoais, sociais e históricas. De fato, a identidade pode ser entendida como o próprio processo pelo qual a multiplicidade, contradição e instabilidade da subjetividade é significada como tendo coerência, continuidade, estabilidade; como tendo um núcleo um núcleo em constante mudança, mas de qualquer maneira um núcleo que a qualquer momento é enunciado como o "eu".
Como vimos, a relação entre a biografia pessoal e a história coletiva é complexa e contraditória. Enquanto as identidades pessoais sempre se articulam com a experiência coletiva de um grupo, a especificidade da experiência de vida de uma pessoa esboçada nas minúcias diárias de relações sociais vividas produz trajetórias que não simplesmente espelham a experiência do grupo. De maneira semelhante, identidades coletivas não são redutíveis à soma das experiências individuais. Identidade coletiva é o processo de significação pelo qual experiências comuns em torno de eixos específicos de diferenciação classe, casta ou religião são investidas de significados particulares. Nesse sentido, uma dada identidade coletiva parcialmente apaga traços de outras identidades, mas também carrega outros traços delas. Isso quer dizer que uma consciência expandida de uma construção de identidade num dado momento sempre requer uma supressão parcial da memória ou senso subjetivo da heterogeneidade interna de um grupo. Mas isso de nenhuma maneira é o mesmo que dizer que as relações de poder que são parte da heterogeneidade desaparecem. A eventual mudança (se houver) dos padrões de relações sociais seria contingente em relação ao poder dos desafios políticos que discursos e práticas específicos são capazes de efetuar.
A supressão parcial do sentido de uma identidade pela asserção de outra não significa, contudo, que diferentes "identidades" não possam "co-existir". Mas se a identidade é um processo, então é problemático falar de uma identidade existente como se ela estivesse sempre já constituída. É mais apropriado falar de discursos, matrizes de significado e memórias históricas que, uma vez em circulação, podem formar a base de identificação num dado contexto econômico, cultural e político. Mas a identidade que é proclamada é uma re-feitura, uma construção contexto-específica. A proclamação de uma identidade coletiva específica é um processo político por oposição à identidade como processo na e da subjetividade. O processo político da proclamação de uma identidade coletiva específica envolve a criação de uma identidade coletiva a partir de uma miríade de fragmentos (como colagens) da mente. O processo bem pode gerar considerável disjunção psíquica e emocional no domínio da subjetividade, mesmo que aumente o poder em termos da política de grupo.
Em outras palavras, a mobilização política diz respeito centralmente a tentativas de re-inscrever a subjetividade através de apelos à experiência coletiva. Paradoxalmente, a comunalidade que é evocada pode ser tornada significativa apenas em articulação com um discurso de diferença. As maneiras precisas como o discurso de comunalidade/diferença é invocado, e com quais efeitos para diferentes segmentos do grupo-alvo que procura mobilizar (ou até para os que constrói como fora do grupo) variam enormemente. Mas essencialmente tais discursos são apresentações de alguma visão re-memória, re-lembrança, re-trabalho, re-construção da história coletiva e, como tais, esses discursos de identidade (invoquem eles noções de "cultura", ou idéias de "circunstâncias econômicas e políticas compartilhadas) são articulações da subjetividade no que chamei de "diferença como relação social".
Toda formação discursiva é um lugar de poder, e não há nenhum lugar de poder onde a dominação, subordinação, solidariedade e filiação baseadas em princípios igualitários, ou as condições de afinidade, convivialidade e sociabilidade sejam produzidas e asseguradas de uma vez por todas. Antes, o poder é constituído performativamente em práticas econômicas, políticas e culturais, e através delas. As subjetividades de dominantes e dominados são produzidas nos interstícios desses múltiplos lugares de poder que se intersectam. A precisa interação desse poder em instituições e relações interpessoais específicas é difícil de prever. Mas se a prática é produtiva de poder, então a prática é também um meio de enfrentar as práticas opressivas do poder. Essa, em verdade, é a implicação do insight foucaultiano de que o discurso é prática. De modo semelhante, uma imagem visual também é uma prática. A imagem visual também produz poder, donde a importância de entender o movimento do poder nas tecnologias do olho artes visuais como a pintura e a escultura, prática do cinema e dança, e os efeitos visuais das tecnologias da comunicação. O mesmo vale para o registro auditivo música e outros sons produzem poder. De fato, o corpo inteiro, em sua fisicalidade, mentalidade e espiritualidade é produtivo de poder, e é dentro desse espaço relacional que desaparece o dualismo mente/corpo. Uma "identidade" particular ganha forma na prática política a partir da relacionalidade fragmentária da subjetividade e se dissolve para surgir como um traço em outra formação de identidade. Como destaquei ao longo do texto, o sujeito pode ser o efeito de discursos, instituições e práticas, mas a qualquer momento o sujeito-em-processo experimenta a si mesmo como o "eu", e tanto consciente como inconscientemente desempenha novamente posições em que está situado e investido, e novamente lhes dá significado.
O conceito de diferença, então, se refere à variedade de maneiras como discursos específicos da diferença são constituídos, contestados, reproduzidos e resignificados. Algumas construções da diferença, como o racismo, postulam fronteiras fixas e imutáveis entre grupos tidos como inerentemente diferentes. Outras construções podem apresentar a diferença como relacional, contingente e variável. Em outras palavras, a diferença não é sempre um marcador de hierarquia e opressão. Portanto, é uma questão contextualmente contingente saber se a diferença resulta em desigualdade, exploração e opressão ou em igualitarismo, diversidade e formas democráticas de agência política.
Stuart Hall concebe a etnia como uma modalidade potencial da diferença marcando a especificidade da experiência histórica, política e cultural coletiva que possivelmente poderia interrogar e desafiar construções essencialistas de fronteiras de grupos. Sugere que deveria ser possível recuperar a etnia de discursos nacionalistas racializados:
O fato de que essa fundamentação da etnia na diferença tenha sido disposto, no discurso do racismo, como meio de negar as realidades do racismo e da repressão não significa que possamos permitir que o termo seja permanentemente colonizado. Essa apropriação terá que ser contestada, o termo, desarticulado de sua posição no discurso do "multi-culturalismo" e transcodificado, da mesma forma como anteriormente tivemos que recuperar o termo "negro" de seu lugar num sistema de equivalências negativas.39 39 HALL, S. New Ethnicities. In: DONALD, J. and RATTANSI, A. (eds.) "Race", Culture and Difference. Op. cit.
Na prática, contudo, nem sempre é fácil desemaranhar esses diferentes movimentos do poder. Discursos nacionalistas podem servir a ambos os fins. Por exemplo, as etnias correm o risco de ser apropriadas como significantes de fronteiras permanentemente fixas. Donde a "inglesidade" de uma classe particular pode vir a representar a si mesma, via racismo, como "britanicidade" contra as etnias que subordina como a dos irlandeses, escoceses, galeses, britânicos negros, ou as etnias do mundo antes colonizado (embora, como observamos antes, etnias brancas/européias sejam subordinadas de maneira diferente das etnias "não brancas", "não européias"). Além disso, etnias sempre têm gênero e não há garantia de que sua recuperação não essencialista se oporá simultaneamente a práticas patriarcais a menos que essa tarefa seja tornada um objetivo consciente. De fato, não pode ser suposto que o processo de recuperação não virá a inscrever diferenças essencialistas. Isso pode ser especialmente problemático para as mulheres se os valores culturais que os grupos em questão escavam, reformulam e reconstroem forem aqueles que sublinham a subordinação das mulheres.
Embora eu tenha argumentado contra o essencialismo, é claro que não é fácil tratar desse problema. Em sua necessidade de criar novas identidades políticas, grupos dominados muitas vezes apelarão para laços de experiência cultural comum a fim de mobilizar seu público. Ao fazê-lo, podem afirmar uma diferença aparentemente essencial. Spivak e Fuss argumentaram a favor de tal "essencialismo estratégico".40 40 SPIVAK, G. C. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. London, Methuen, 1987; FUSS, D. Essentially Speaking. London, Routledge, 1989. Sugerem que o "risco" do essencialismo pode ser assumido se for enquadrado do ponto de vista das posições de sujeito dominado. Isso continuará problemático se o desafio a uma forma de opressão levar ao fortalecimento de outra. Parece imperativo que não compartimentalizemos opressões, mas em lugar disso formulemos estratégias para enfrentar todas elas na base de um entendimento de como se interconectam e articulam. Acredito que o esquema que esbocei pode ajudar-nos a faze-lo. É uma perspectiva que requer a contínua interrogação do essencialismo em todas as suas variedades.
- * Difference, Diversity, Differentiation. In: BRAH, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting Indentities Longon/New York, Routledge, 1996, capítulo 5, pp.95-127.
- 1 MERCER, K. We/come to the Jungle. London, Routledge, 1994[
- STANDARDIZEDENDPARAG]2 HAZAREESINGH, S. Racism and cultural identity: an Indian perspective. Dragon's Teeth 24, 1986;
- Modood, T. "Black" racial equality and Asian identity. New Community 14(3), 1988.
- 3 SIVANADAN, A. Communities of Resistance: Writings on Black Struggles for Socialism. London, Verso, 1990;
- GILROY, P. There Ain't No Black in the Union Jack London, Hutchinson, 1987;
- CAIN, H. and YUVAL-DAVIS, N. The "Equal Opportunity Community" and the antiracist struggle. Critical Social Policy 29, 10(2), 1990.
- 6 BRAH, A. Race, class and gender: which way the trinity?. British Journal of Sociology of Education 9(1), 1988;
- MOHANTY, C. T. Under Westem eyes: feminist scholarships and colonial discourses. Feminist Review 30, 1988.
- 7 ROSE, S., KAMIN, J. and LEWONTIN, R. C. Not in Our Genes. Harmondsworth, Pelican, 1984;
- SEGAL, L. Slow Motion: Changing Masculinities. Changing Men London, Virago, 1990.
- 8 SEGAL, L. Is the Future Pemale?. London, Virago, 1987;
- WEEDON, C. Feminist Practice and Poststructuralist Theory Oxford, Basil Blackwell, 1987;
- SPELMAN, E. V. Inessential Woman: Problems of Exclusion in Feminist Thought London, The Women's Press, 1988.
- 9 BRAH, A. and DEEM, R. Towards anti-sexist and anti-racist schooling. Critical Social Policy 16, 1986.
- 10 BRIXTON BLACK WOMEN'S GROUP. Black women organising autonomously. Feminist Review 17, 1984;
- BRYAN, B., DADSIE, S. and SCAFE, S. Heart olthe Race London, Virago Press, 1985.
- 11 ARDILL, S. and O'SULLIVAN, S. Upsetting an applecart: difference, desire and lesbian sadomasochism. Feminist Review 23, 1986;
- ADAMS, M. L. Identity politics. Feminist Review 31, 1989.
- 12Feminist Review, 1984; CARBY, H. Schooling in Babylon. Centre for Contemporary Cultural Studies, The Empire Strikes Back, London, Hutchinson, 1982;
- PARMAR, P. Gender, race and cIass: Asian women in resistance Centre for Contemporary Cultural Studies, University of Birmingham, 1982;
- BRAH, A. and MINHAS, R. Structural racism or cultural difference: schooling for Asian girls. In: WEINER, G. (ed.) Just a Bunch of Girls Milton Keynes, Open University Press, 1985;
- BRAH, A. Journey to Nairobi; In: GREWAL, S., KAY, J., LANDOR, L., LEWIS, G. and PARMAR, P. Charting the Journey: Writings by Black and Third World Women London, Sheba Press, 1987;
- PHOENIX, A. Theories of gender and black families. In: WEINER, G. and AMOT, M. (eds.) Gender under Scrutiny Milton Keynes, Open University Press, 1987;
- GREWAL, S. et aIii (eds.) Charting the Journey... Op. cit.; MAMA, A. Violence against black women: gender, race, and state responses. Feminist Review 32, 1989;
- LEWIS, G. Audre Lorde: vignettes and mental conversations. Feminist Review 34, 1990.
- 13 BARRETT, M. and MCINTOSH, M. Ethnocentrism and socialist-feminist theory. Feminist Review 20, 1985, p.39[
- STANDARDIZEDENDPARAG]14 WALBY, S. Theorizing Patriarchy. Oxford, Basil Blackwell, 1990.
- 15 ACKER, J. The problem with patriarchy. Sociology 23(2), 1989, p.238.
- 16 BUTLER, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion olldentity, New York, Routledge, 1990.
- 18 Ver as contribuições de RAMAZANOGLU, Kazi, Lees e SAFIA-MIRZA. Feminist Review, 1986;
- BHAVNANI, K. K. and COULSON, M. Transforming socialist feminism: the challenge ofracism. Feminist Review 23, 1986.
- 19 RAMAZANOGLU, C. Feminism and the Contradictions of Oppression. London, Routledge, 1989.
- 20 HALL, S. Race, articulation and societies structured in dominance. In: Sociological Theories: Race and Colonialism. Paris, UNESCO, 1980, p.328.
- 21 LACLAU, E. and MOUFFE, C. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London, Verso, 1985.
- 22 KNOWLES, C. and MERCER, S. Feminism and Anti-Racism. In: DONALD, J. and RATTANSI, A. (eds.) "Race", Culture and Difference. London, Sage, 1992, p.110.
- 23 TANG MAIN, G. Black women, sexism and racism: black or antiracist?. Feminist Review 37, 1990.
- 24 ANTHIAS, F. and YUVAL-DAVIS, N. Contextualising feminism. Feminist Review 15, 1982, p.63.
- 25 DE LAURETIS, T. (ed.) Feminist Studies/Critical Studies. Bloomington, Indiana University Press, 1986, p.5.
- 26 BARRET, M. The concept of difference. Feminist Review 26, 1987.
- 27 SCOTT, J. W. Experience. In: BUTLER, J. and SCOTT, J. W. (eds.) Feminists Theorize the Political. New York, Routledge, 1992, p.37.
- 28 ANDERSON, B. Imagined Communities. London, Verso, 1983.
- 29 HARAWAY, D. Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. London, Free Association Books, 1991, pp.164-5.
- 30 FANON, F. The Wretched ofthe Earth. London, Penguin, 1967, p.251.
- 31 HENRIQUES, J., HOLLOWAY, W., URWIN, C., VENN, C. and WALKERDINE, V. Changing the Subject: Psychology, Social Regulation and Subjectivity. London, Methuen, 1984, p.204.
- 32 FLAX, J. Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism and Postmodernism in the Contemporary West. Oxford, University of California Press, 1990, p.60.
- 33 cf. DE LAURETIS, T. Alice Doesn't: Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington, Indiana University Press, 1984;
- HENRIQUES, J. et alii Changing the Subject... Op. cit.; ROSE, J. Sexuality in the Field of Vision London, Verso, 1986;
- WEEDON, C. Feminist Practice... Op. cit.; Penley, C. The Future of an Il/usion: Film, Feminism and Psychoanalysis London, Routledge, 1989;
- FLAX, J. Thinking Fragments... Op. cit.; MINSKY, R. ''The trouble is it's ahistorical": the problem of the unconscious in modem feminist theory. Feminist Review 36, 1990.
- 34 SPILLERS, H. J. Mama's Baby, Papa's May Be: An American Grammar Book. Diacritics, Summer 1987;
- e The Permanent Obliquity of an In(pha)llibly Straight: In the Time ofthe Daughters and Fathers. In: WALL, C. A. (ed.) Changing Our Own Words: Essays on Criticism, Theory, and Writing by Black Women Rutgers University Press, 1989.
- 36 DALAL, F. The racism of Jung. Race and Class 24(3), 1988.
- 38 MINH-HA, T. T. Woman, Native, Other: Writing Post Coloniality and Feminism. Indianapolis, Indiana University Press, 1989.
- 40 SPIVAK, G. C. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. London, Methuen, 1987;
- FUSS, D. Essentially Speaking London, Routledge, 1989.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
09 Ago 2006 -
Data do Fascículo
Jun 2006