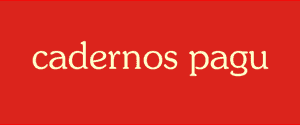RESENHAS
Guerra e amizade1 1 Resenha de SCHPUN. Mônica Raisa. Justa. Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2011.
Heloisa Pontes
Professora Livre-docente do Departamento de Antropologia da Unicamp e pesquisadora do Cnpq. helopontes@uol.com.br
Os sinais da catástrofe iminente estavam por toda parte. Dezessete mil judeus deixaram a Alemanha em 1933, após a ascensão de Hitler ao poder. Nos quatro anos seguintes, esse fluxo pouco se alterou. Ampliaram-se, porém, as medidas estatais draconianas, a insegurança, a passividade crispada da população, o silêncio das autoridades, o confinamento, os ataques antissemitas. Expulsos do funcionalismo público, cerceados no exercício profissional como juízes, advogados, médicos, professores, acuados pela violência e pela pauperização crescentes, os judeus alemães, em sua maioria, permaneceram no país. Um complexo conjunto de razões que não cabe aqui repertoriar - entre elas, o aumento das taxas impostas pelos nazistas para os que desejavam partir, a rarefação dos vistos, a aposta na cultura alemã - explica essa permanência.
Apesar do acirramento da violência (física e moral) e das medidas de exclusão social e econômica, três quartos dos judeus alemães ainda viviam na Alemanha quando o país foi palco de um horripilante pogrom. Iniciado em Berlim, na noite de nove de novembro de 1938, ele se espalhou rapidamente por outras cidades, com a anuência da polícia. Cerca de 7.500 lojas de propriedade de judeus foram saqueadas, as vitrines quebradas, as mercadorias e os equipamentos destruídos e jogados nas calçadas. Casas foram invadidas e depredadas. Livros foram incendiados. Mais de duzentas sinagogas foram destruídas pelo fogo, além de sedes de organizações comunitárias. Humilhados, espancados, obrigados a limpar as calçadas para retirar os objetos destroçados, os estilhaços e os vidros quebrados das vitrines e das janelas, os judeus tiveram ainda que arcar com as consequências do atentado. A comunidade judaica foi obrigada a pagar pelos danos econômicos sofridos. Muitos não resistiram. Morreram ou se suicidaram. O terror estava apenas começando.
Margarethe Levy só soube do ocorrido no dia seguinte, pelo relato da brasileira Aracy de Carvalho. Não que ela desconhecesse a situação terrível enfrentada pelos seus compatriotas judeus. Tanto a conhecia que estava em busca de um visto para imigrar. O que ela desconhecia era a sua extensão. A narrativa de Aracy atiçou a urgência da partida e pôs fim à ilusão partilhada por Margarethe e vários outros judeus de que Hamburgo fosse imune a esse tipo de barbárie. Vivida e concebida como uma cidade mais liberal e cosmopolita, em função da natureza portuária, Hamburgo abrigava consulados de diversos países. Num deles se encontrava a jovem e eficiente funcionária, Aracy de Carvalho. Ela estava a par da "Noite de Cristal", nome pelo qual ficou conhecido o pogrom cometido no país que havia elegido para morar com o filho pequeno e escapar dos constrangimentos que pesavam na época, no Brasil, sobre uma mulher separada. Mas o que ambas ainda não sabiam era que o incidente marcaria a radicalização da perseguição sistemática e burocratizada aos judeus alemães. Aracy talvez a pressentisse em função da inserção profissional: chefe do setor de passaporte do consulado brasileiro em Hamburgo. Margarethe Levy, no entanto, só teve clareza dos efeitos da nova investida quando os desdobramentos da política nazista alcançaram aqueles que ficaram na Alemanha e os que, como sua mãe, foram exterminados nos campos de concentração na Polônia durante a Guerra.
A amizade longa e duradoura entre Aracy de Carvalho e Margarethe Levy, ambas nascidas e falecidas nos mesmos anos (1908 e 2011) tornou-se conhecida em virtude da sensibilidade e competência historiográfica de Mônica Raisa Schpun. O título de seu último livro, Justa. Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil, publicado em 2011, sintetiza o percurso da fascinante pesquisa que ela empreendeu para reconstituir a história dessa amizade e, a um só tempo, dos deslocamentos e dos itinerários sociais dos judeus alemães que puderam imigrar para o Brasil com os vistos que receberam das mãos de Aracy. Não fossem os primeiros anos do Terceiro Reich (1933-1939), a política imigratória da Era Vargas - restritiva na letra de lei, mas sujeita aos mecanismos do favor, do apadrinhamento e da burla - , a proximidade da Guerra, e as duas jamais teriam se tornado amigas. Sem esse contexto ampliado em escala transatlântica - improvável em tempos normais se o termômetro forem a distância e a diferença dos universos socioculturais de ambas - o mais provável é que elas sequer teriam se conhecido. Como decorrência, Margarethe talvez tivesse sido empurrada para o mesmo destino da maioria dos judeus que permaneceram na Alemanha - por vontade própria ou pela impossibilidade de partir.
O primeiro encontro de ambas, no espaço frio e protocolar do consulado, foi experimentado com sinais trocados. Para Aracy era mais um pedido de visto que deveria encaminhar ao cônsul. Para Margarethe, a única saída para assegurar o futuro e preservar o que sobrara de seu patrimônio. A perseguição e a espoliação resultante das taxas e dos impostos exorbitantes cobrados dos judeus seriam estancadas com a mudança de país. Aracy sabia disso e empenhou-se para que o visto fosse providenciado o quanto antes. Não só para Margarethe e o marido, mas para outros judeus que a procuravam com o mesmo propósito no período: trocar a Alemanha pelo Brasil. Aproximando-se dessa história com o recurso conjugado da grande angular e da visada microscópica, Mônica Schpun traz uma apreensão renovada da história social da imigração judaica de origem alemã para o Brasil, das dimensões de gênero que a conformaram, dos imponderáveis que seus protagonistas enfrentaram, dos caminhos tortuosos que trilharam, da ajuda que receberam. Os fios dessa trama vão sendo urdidos em paralelo ao escrutínio dos deslocamentos de Aracy e Margarethe pelos espaços sociais e nacionais que deram sentido à vida de ambas e asseguram a amizade das duas por mais de cinquenta anos.
Quando recebeu o visto, Margarethe era jovem, atraente e vistosa, de pele branca e cabelos tingidos de louro, nariz pequeno, levemente arrebitado, em nada semelhante à caricatura dos narizes aduncos, assimilados a bicos de aves de rapina, difundida pelos nazistas. Ciente de sua beleza, bem casada e sem filhos, ela fez uso dela para driblar as investidas antissemitas, intermediar as relações com a clientela do marido, dentro e fora de seu consultório dentário, apressar os preparativos da viagem. Assim como muitas mulheres judias, ela também experimentou transformações inesperadas nas relações de gênero, propiciadas pela excepcionalidade dos tempos sombrios. Acostumadas a circular pela cidade para as compras diárias ligadas à manutenção da casa, ao bem estar dos filhos, dos maridos e das famílias em geral, as mulheres perceberam mais cedo que eles os sinais da destruição que se abateria sobre todos. Quando as prisões se tornaram práticas incontornáveis, foram elas que lidaram com as diligências necessárias para conseguir informações sobre o paradeiro dos entes queridos e reavê-los, quando isso ainda era possível. Foram elas também que saíram à frente na busca crescentemente desesperada por vistos, tornados bens preciosos, face à recusa ou à intransigência das políticas imigratórias dos países em que buscavam refúgio.
O itinerário desses deslocamentos pelos meandros da burocracia, tanto os que antecederam a saída da Alemanha, quanto os que foram percorridos no Brasil com o objetivo de deixar a condição de turista para adquirir o estatuto de residente e, em alguns casos, a nacionalidade brasileira, constitui a base de sustentação do livro de Mônica Schpun. Consultando fontes pouco exploradas pelos historiadores da imigração judaica no período, atentos mais às políticas de Estado do que ao acompanhamento de perto dos agentes envolvidos, Mônica vasculhou arquivos alemães e brasileiros em busca de informações que lhe permitissem a reconstituição minuciosa desses itinerários migratórios. Na Alemanha, concentrou-se em Hamburgo e nos dossiês que eram produzidos pelos fiscais nazistas para a Presidência Regional de Finanças, com o propósito de verificar in loco, isto é, nas casas dos judeus que pretendiam imigrar, as posses e os bens de cada um. A partir desse detalhamento, eram estipulados os impostos escorchantes que deveriam pagar ao Estado em troca da emissão dos passaportes. No Brasil, Mônica pesquisou no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na ex-capital consultou os arquivos do Ministério das Relações Exteriores, para localizar documentos relativos ao consulado de Hamburgo durante os anos de 1933 a 1941, antes do rompimento das relações do Brasil com a Alemanha e da entrada na Guerra ao lado dos aliados. Debruçou-se também, mas sem tanta sistematicidade, na documentação da embaixada em Berlim e de outros consulados brasileiros que funcionaram durante o Reich. Em São Paulo, Mônica deteve-se no acervo da Congregação Israelita Paulista (CIP) conservado no Arquivo Histórico Judaico Brasileiro. Paralelamente ao trabalho nos arquivos, deu continuidade às entrevistas e à leitura da correspondência trocada entre Aracy e Margarethe.
Munida dessa sólida documentação, embasada na perspectiva analítica da micro-história e no legado da historiografia voltada para a apreensão do gênero como uma dimensão estruturante da vida social, Mônica nos oferece um relato vívido e uma análise meticulosa dos itinerários dos judeus alemães que conseguiram o visto graças à intermediação empenhada de Aracy. A narrativa desvela tanto o período alemão que antecede a transferência para o Brasil quanto o que sucedeu após a inserção na cidade de São Paulo que os acolheu. Integrantes de um grupo heterogêneo, com exceção de dois jovens que já eram amigos na Alemanha e vieram para cá solteiros, os demais protagonistas da história contada por Mônica Schpun não se conheciam. O que tinham em comum era a identidade judaica, a experiência urbana, a vivência dos tempos sombrios. Embora alguns dentre eles tivessem escolaridade e patrimônio elevados, eram pessoas comuns. Não havia ninguém com projeção e prestígio internacional, como os judeus alemães acolhidos pelas universidades norte-americanas e por instituições culturais de prestígio nos Estados Unidos. Nenhum escritor, jornalista ou intelectual compõe o grupo repertoriado por Mônica Schpun. Por essa razão ela se viu confrontada a uma busca detetivesca para perseguir as pistas deixadas por eles na metrópole paulista. Mudanças de endereço, em alguns casos de profissão, são indicadores eloquentes da ascensão social e da integração na sociedade que os recebeu. São também sinalizadores das clivagens e das diferenças na composição e na experiência dos judeus instalados em São Paulo. Diferentemente de seus congêneres da Europa Oriental, que imigraram mais cedo para São Paulo e se concentraram em bairros circunscritos, caso do Bom Retiro, conhecido pelo chamariz étnico, os judeus alemães descritos pela historiadora se dispersaram pela cidade. E à medida que enriqueceram ou progrediram, transferiram-se para os bairros de elite. A paisagem urbana e social da metrópole em expansão era favorável a essa incorporação.
A lupa utilizada pela autora para enxergar com mais nitidez as escolhas que fizeram, os dilemas em que se enredaram, os constrangimentos que enfrentaram, o apoio que receberam da Congregação Israelita Paulista (CIP), o acolhimento da cidade, faz par com a visada generosa, atualizada com o debate de ponta da historiografia da imigração e do gênero, na pegada forte da agência de seus protagonistas, especialmente quando eles não ultrapassam as barreiras do anonimato. Tal foi o caso dos integrantes do grupo analisado por Mônica Schpun. A única exceção, tardia, é a de Aracy de Carvalho, origem do livro e epicentro da história. No primeiro capítulo, ela é uma jovem de 26 anos, separada, mãe de um menino de cinco anos, fluente no alemão, que trocou São Paulo por Hamburgo em 1934 para ter uma vida independente, menos premida pelos constrangimentos e preconceitos que recaíam na época sobre as mulheres brasileiras de classe média nessas circunstâncias. O trabalho no consulado garantiu seu sustento, satisfez suas ambições profissionais, além de proporcionar-lhe um círculo de sociabilidade e o namoro com o escritor e diplomata Guimarães Rosa. O romance começou em 1938, ano auspicioso para ela, tenebroso para aqueles que puderam contar com a sua ajuda.
Aracy voltou ao Brasil em maio de 1942. Instalou-se novamente em São Paulo, na casa de sua mãe que já havia trazido o neto. Guimarães Rosa foi para Bogotá, designado como segundo secretário da embaixada. Aracy não o acompanhou. Ela já havia conseguido o divórcio, mas ele continuava legalmente casado com a primeira mulher. O desquite só foi legalizado em 1943, quando ele ainda residia em Bogotá, antes de se transferir para o Rio de Janeiro, em 1944, para exercer funções na sede do Itamaraty. Nesse ano, Aracy largou o emprego como funcionária do Ministério das Relações Exteriores, deixou o filho adolescente com a avó e foi morar no Rio com o escritor. A oficialização da união só aconteceu em 1948, quando se casaram por procuração no México, no mesmo mês em que Guimarães Rosa fora designado para a embaixada brasileira em Paris. Na companhia da mulher, ele permaneceu na capital francesa até 1951. De volta ao Brasil, o casal instalou-se novamente no Rio de Janeiro onde viveram juntos até a morte do escritor em 1967. Viúva, Aracy ainda residiu vários anos no Rio, antes de voltar a São Paulo para morar com o filho e a nora.
Enquanto estiveram casados, ela experimentou os benefícios do reconhecimento incontestável do marido como uma das estrelas de primeira grandeza no firmamento da literatura brasileira. O renome de Guimarães Rosa, ao produzir uma espécie de contaminação de prestígio para tudo e todos que gravitavam ao seu redor, precipitava as "glória de empréstimo", tão bem descortinadas por outro grande escritor, Machado de Assis. Quando Guimarães Rosa morreu, Aracy tinha 59 anos. E no decorrer dos quarenta e três anos seguintes, até o seu falecimento aos 102 anos, ela assistiu àquilo que a antropóloga Mariza Corrêa (1995) desvelou com tanta acuidade, a "notoriedade retrospectiva". Isto é, o modo "como o renome adquirido a partir de um certo momento, pode iluminar a vida inteira de um personagem" (id.ib.:111) e ofuscar a de outro. Quem a salvou desse ofuscamento foi justamente a amiga cuja vida fora salva por ela. No final da década de 1970, Margarethe Levy capitaneou a iniciativa para conceder a Aracy o título de "Justa entre as Nações". Outorgado em 1982 pelo Museu do Holocausto de Jerusalém, o título tornou pública, em escala internacional, a ajuda que ela prestou aos judeus alemães no período em que atuava como chefe do setor de passaportes. O reconhecimento de que esse gesto fora essencial para salvar a vida deles, ao conferir notoriedade a Aracy de Carvalho, garantiu-lhe nome próprio, independente do nome famoso do marido com quem partilhou vinte e nove anos de sua vida. Graças a esse fato, Mônica Schpun descobriu a sua existência, a amizade delicada e duradoura das duas e os judeus que trocaram a Alemanha nazista pelo Brasil com a ajuda e a solidariedade dela. Graças a essa descoberta, nós, como leitores, podemos refazer o percurso que culminou na escrita desse livro, sedimentado em análise fina e registro historiográfico denso.
Recebida para publicação em 4 de março de 2013
Aceita em 5 de agosto de 2013
- CORRÊA, Mariza. A natureza imaginária do gênero na história da antropologia, Cadernos Pagu (5), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu/Unicamp, 1995, pp.109-130.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
12 Mar 2014 -
Data do Fascículo
Dez 2013