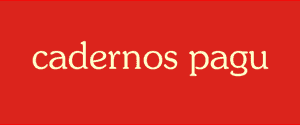Resumo
Proponho aqui aproveitar a ideia da longa duração de um movimento – do feminismo aos estudos feministas – para refletir sobre um particular estilo de engajamento presente no Núcleo de Estudos de Gênero - Pagu. Ao reconstruir certa história no tempo, procuro sublinhar o que considero uma das grandes lições do campo feminista de reflexão: a capacidade de autorreflexão que provoca constantes reposicionamentos em relação aos contextos complexos, em constante mutação, em que vivemos.
Estudos Feministas; Engajamento; Trabalho Sexual
Abstract
I propose here to use the idea of the long duration of a movement – feminism and feminist studies – to reflect on a particular style of engagement found at the Nucleus for Gender Studies – Pagu. By reconstructing a certain history in time, I emphasize what I consider to be one of the great lessons of the feminist field of reflection: the ability for self-reflection that provokes constant repositionings in relation to the ever-changing, complex contexts in which we live.
Feminist studies; engagement; sexual work
Ao celebrar o aniversário do Pagu, tenho dificuldade em crer que o Núcleo seja tão jovem – apenas 20 anos! Talvez meu estranhamento seja devido à maneira em que Pagu tenha conseguido condensar na sua atuação um movimento que vem de muito mais tempo. Proponho aqui aproveitar essa ideia da longa duração de um movimento – do feminismo aos estudos feministas – para refletir sobre um particular estilo de engajamento. Não pretendo retomar literalmente as diferentes “ondas” do pensamento feminista – o que já foi feito por colegas bem mais versados no assunto (ver, por exemplo, Machado, 2010Machado, L. Z. Feminismo em Movimento. São Paulo, Editora Francis, 2010.). Mas, ao reconstruir certa história no tempo, procuro sublinhar o que considero uma das grandes lições do campo feminista de reflexão: a capacidade de autorreflexão que provoca constantes reposicionamentos em relação aos contextos complexos, em constante mutação, em que vivemos (Fonseca, 2004a).
Numa breve introdução, proponho usar elementos da minha própria trajetória – não só para me “situar” historicamente, mas também para ilustrar a dimensão intensamente pessoal impressa pelo feminismo na vivência de muitos de nós. Num segundo momento, me aproximo do tema incandescente discutido pelas integrantes do Pagu – intercâmbios econômicos, sexuais e afetivos. O tema vem a calhar, pois ao demonstrar as formas dinâmicas e heterogêneas que é analisado por diferentes grupos em diferentes épocas do feminismo, traz a tona lições legadas por um trabalho acumulado de décadas nos estudos feministas.
Minha mãe, filha de empreiteiro de obras numa cidade interiorana dos Estados Unidos, cresceu numa época em que mulher só trabalhava fora do lar quando absolutamente necessário. Tal foi o caso da minha avó paterna, quando – antes da Grande Depressão – seu primeiro marido foi preso por estelionato; tal foi o caso da minha mãe – já na década de 50 – quando se encontrou viúva com duas crianças pré-adolescentes para criar. Assim, cresci ouvindo queixas sobre as dificuldades de uma mulher se virar no mundo profissional masculino. Não só precisava trabalhar mais por um salário inferior; quando não ostentava aliança no dedo anular, era vulnerável às insinuações indecorosas de seus colegas. A reação da minha geração, debutando ao longo dos anos 60, era querer ter tudo “igual aos meninos”. Esse querer ainda não tinha sido institucionalizado: no colégio, a matrícula nas aulas de carpintaria era restrita aos meninos e de economia doméstica às mulheres. Mas minhas amigas de colégio e eu, quase todas filhas de universitários (i.e., classe média, branca), reivindicávamos um padrão de comportamento que rotulávamos de “feminista” – com fortes solidariedades entre mulheres, liberdade no ir e vir das relações pessoais, o domínio sobre nossos próprios corpos e um estilo estético beirando unissexo.
No final dos anos 60, quando elaborava minha dissertação de Mestrado, “women’s studies” já estavam se declarando como parte da agenda progressista das universidades americanas. Nada surpreendente, então, que meu objeto de análise, subsidiado por pesquisas de campo em Taiwan, incluía “a igualdade da mulher” ao lado de outras preocupações políticas da época voltadas para países do Terceiro Mundo: “desenvolvimento” e “democracia. Esses temas icônicos da modernidade ocidental já tinham se imprimido também nos programas das organizações internacionais. Assim, em 1970 fui recrutada pela Unesco para trabalhar num projeto de “alfabetização funcional para as mulheres” no Alto Volta (África Ocidental). Ao ocupar esse espaço institucional (aberto apenas a pesquisadoras mulheres), meu curriculum vitae adquiriu peso. As primeiras duas “ondas” do feminismo estavam surtindo efeito. Mas foi o contato com minha “homóloga”, a estagiária “local” que devia aprender o ofício de etnóloga comigo, que lançou um desafio às minhas convicções, me empurrando na direção do que, nos anos 80, viria a ser conhecida como a terceira onda de feminismo.
Além de ser mãe de quatro meninos, Scholastique Kompaoré era casada com um homem visivelmente encantado por sua mulher e que parecia compartilhar com ela fortes inclinações marxistas e feministas. Com seus 27 anos (um pouco mais velha que eu), Scholastique não só tinha maior experiência de vida, não só tinha conhecimento vivido com mulheres dos variados contextos étnicos do país, ela também já tinha acumulado experiência como militante e profissional, trabalhando em prol das mulheres. Previsivelmente, não demorou para nossos papeis se inverterem.
Foi sob a orientação de Scholastique que vim a reconhecer que as relações hierárquicas entre os sexos variavam tremendamente não só de etnia em etnia, mas conforme a própria aldeia. E ainda, fatores de classe podiam pesar mais contra a mulher do que qualquer “tradição” masculinista. As lições que me ensinou foram muitas, mas lembro com particular clareza um debate que tivemos sobre a excisão das meninas pré-púberes – prática ainda comum em boa parte do país. Eu tinha calculado que Scholastique estaria de acordo com minha indignação diante do que as feministas tradicionais chamavam “mutilação genital”. Mas, para minha surpresa, ela rechaçou minha indignação. Ela tinha passado pelo rito cirúrgico de iniciação como quase todas as meninas de sua geração, mas insistia: nem por isso, deixava de sentir prazer ou de reivindicar de seu marido satisfação nas relações sexuais. Ela não “defendia” a prática, muito menos advogava a preservação dessa tradição, mas rejeitava categoricamente o olhar compadecido das feministas estrangeiras e expressava claramente que esse era um problema a ser resolvido pelo “feminismo à l’africaine".
Quarenta anos mais tarde, presidente da Marcha Mundial de Mulheres em Burkina Faso, Scholastique redige um documento em que anuncia com satisfação as medidas votadas pela Assembleia Legislativa do país para a erradicação de violência contra as mulheres: a criminalização do casamento forçado, da excisão e da transmissão voluntária de AIDS nas relações de casal (Kompaoré, s/d). Mas continua a insistir que as mulheres de Burkina Faso, ao abraçarem a solidariedade feminina transnacional, aproveitando a sinergia norte/sul, ainda forjam um feminismo próprio – estabelecendo agendas, escolhendo uma linguagem, travando alianças e definindo prioridades adequadas à situação delas. Em outras palavras, a particular maneira em que as feministas enfrentam a complexa realidade de situações específicas leva fatalmente a ver que não há um, mas muitos feminismos (Kompaoré, s/d).
Quando, quase dez anos depois, cheguei ao Brasil, encontrei ainda outro tipo de feminismo – um feminismo que juntava os temas tradicionais com a crítica e resistência à ditadura militar. Não é por acaso que, na época, a única outra mulher do departamento, Noemi C. Brito, elegeu como tema de sua dissertação na Unicamp a primeira greve de operários depois dos longos anos da ditadura (Brito, 1985). E, como Noemi insistia em sublinhar, era uma greve de mulheres da indústria do vestuário. Essa colega me introduziu aos vários grupos interdisciplinares de inspiração feminista1 1 O grupo interdisciplinar de professoras juntava pesquisadoras que viriam a ser conhecidas como pioneiras brasileiras dos estudos da mulher: Celi Pinto, Jussara Pra, Guaraci Louro e Anita Brumer. que povoavam os espaços extracurriculares da universidade de então – alguns visando a teoria feminista, outros a igualdade dos sexos tanto nos espaços públicos como na vida privada, ainda outros mais preocupados com a maneira em que o feminismo podia enriquecer o projeto de redemocratização do país. Em nível nacional, destacava-se a atuação de feministas na Fundação Carlos Chagas2 2 Em particular, Albertina Costa e Cristina Bruschini. , cujas edições sucessivas de concursos para a dotação de pesquisa serviram não só de incentivo a jovens pesquisadoras nas mais variadas disciplinas, mas também contribuíram para a articulação de redes nacionais e transnacionais que discutiam a condição da mulher e, posteriormente, as relações de gênero. Esses esforços eram espelhados nos Grupos de Trabalho que se abriam nos diferentes congressos nacionais. Foi esse ambiente, movido de paixão e amizade, com debates horizontalizados, sempre aberto a novas ideias, que me deu gosto pela vida acadêmica e a sensação de que, de alguma forma, estávamos indo numa direção interessante – em termos analíticos e políticos.
Hoje os grupos de estudos feministas se multiplicaram em praticamente todas as áreas das humanas, se reciclando para novos temas (entre outros) de sexualidade e direitos. Contudo, seria impossível fazer jus, no curto espaço deste artigo, à extrema criatividade de grupos feministas na academia contemporânea. Proponho, ao invés, focalizar o tema das trabalhadoras sexuais para sublinhar um dos elementos fundamentais da análise feminista: a radical contingência histórica não só das táticas políticas, mas da própria produção de conhecimentos. Essa perspectiva, anunciada já por minha colega africana no início dos anos 70, foi consolidada por D.Haraway no final dos anos 80 num texto conhecido à maioria de nós que avança a ideia de: “saberes parciais, localizáveis, críticos, apoiados na possibilidade de redes de conexão, chamadas de solidariedade em politica e de conversas compartilhadas em epistemologia” (Haraway, 1995:21). Minha intenção é demonstrar a produtividade dessa junção entre os estudos feministas e o trabalho sexual que permite adentrar a complexidade das realidades vividas.
Trabalhadoras ou vítimas?
O tema do trabalho sexual me apaixonou durante bom tempo. Foi, aliás, uma das minhas primeiras experiências de trabalho junto com uma Ong – Núcleo de Estudos da Prostituição (NEP) em Porto Alegre (ver Olivar, 2013Olivar, J. M. N. Devir Puta: políticas da prostituição de rua na experiência de quatro mulheres militantes. Rio de Janeiro, Eduerj, 2013.). No início da minha carreira de pesquisadora, eu tinha feito uma decisão consciente de NÃO trabalhar com associações coletivas. Sujeita às crenças individualistas e existencialistas típicas da minha formação, acreditava que as pessoas se comportariam de forma mais “autêntica” se eu as conhecesse completamente fora de qualquer quadro institucional. Foi a Ong feminista Themis que quebrou minhas resistências, indo atrás de nós antropólogas da universidade para dar uma assessoria no âmbito do seu projeto de “promotoras populares” (ver Bonnetti, 2001).
De promotoras, nossa equipe de pesquisa continuou3 3 As bolsistas da graduação, Alinne Bonnetti e Elisiane Pasini, me acompanharam em cada passo da pareceria com NEP. Essas duas pesquisadoras viriam a desenvolver seus estudos de doutorado orientadas por pesquisadoras vinculadas ao Pagu – Alinne sobre a participação popular de mulheres na política, e Elisiane (Pasini, 2005) sobre a organização política e profissional de prostitutas no Rio de Janeiro. , junto e além das colegas do Themis, para novas parcerias com o NEP. Enquanto duas bolsistas da graduação se concentravam na pesquisa de boates e outros lugares noturnos, eu passava minhas tardes na interlocução com senhoras “fazendo ponto” na praça central da cidade. Nas horas de convivência com aquela turma, participei em discussões sobre – além dos ardis do trabalho – as alegrias e inquietações da maternidade, as aspirações e frustrações amorosas, e estratégias para enfrentar os desafios da taxa alta de inflação (Fonseca, 1996Fonseca, Claudia. A dupla carreira da mulher prostituta. Revista de Estudos Feministas 4(1), 1996, pp.7-34., 2004bFonseca, Claudia. A morte de um gigolô: Fronteiras da transgressão e sexualidade nos dias atuais. In: Piscitelli, Adriana; Gregori, Maria Filomena e Carrara, Sergio. Sexualidades e Saberes, Convenções e Fronteiras. Rio de Janeiro, Garamond, 2004b.).4 4 Ver Tedesco (2014) para uma abordagem semelhante sobre as trajetórias laborais e familiares de mulheres da região do garimpo amazônico engajadas no trabalho sexual. Não havia dúvida quanto ao meu vínculo incipiente com NEP. Às vezes, até ajudava na distribuição de camisinhas... Mas minhas interlocutoras não pareciam se acanhar diante desse fato. Pelo contrário. Muitas delas me deixavam saber que sua participação na Ong era bem mais antiga do que a minha, que entendiam melhor que eu os meandros políticos dessa organização e, em certos casos, eram mais próximas da coordenação. Foi assim que, junto a algumas dessas parceiras, acabei travando uma colaboração intelectual, política e afetiva de longo fôlego.5 5 Penso em particular em Tina Taborda, fundadora, e Carmen Lucia Paz, atual coordenadora do NEP. Na sua especialização de Direitos Humanos, Carmen Lucia (Paz, 2008) trouxe sua experiência de prostituta profissional para a análise do movimento político da categoria. Não diminuiu a intensidade de contatos com minhas interlocutoras (que fossem mais colaboradoras ou mais críticas da Ong), mas tive que lidar agora com a maneira em que a presença desse novo ator – uma coletividade política – mudava o jogo de forças entre pesquisador e pesquisadas. A Ong, movida em grande medida pelas próprias profissionais, tornava difícil traçar qualquer divisa entre um “nós” e um “elas”, ressaltando a complexidade de meu lugar enquanto pesquisadora ou ativista.
Hoje em dia, em determinadas atividades de intervenção, essa divisa parece se reafirmar em novas formas. Conforme certos observadores (Fassin, 2012), a atual “era humanitária” favorece uma retórica de “ajuda” e “proteção” (por “nós” para “eles”) por cima dos antigos idiomas de conflito e confronto políticos. À luz desse debate, surgem questões sobre a construção da figura de “vítima”: qual o jogo de forças envolvidas na definição de quem deve ser objeto de nossa compaixão humanitária e quais os efeitos em termos de novas (ou velhas) hierarquias de humanidade? No campo do trabalho sexual, vemos uma tendência a confundir prostitutas com vítimas do tráfico de mulheres. De certo ponto de vista, pode haver ganhos nesse deslocamento de uma categoria classicamente vista como criminosa para o território de vítimas. Contudo, a análise das várias posturas políticas e feministas que intervêm nesse debate ajuda a pensar se tal deslocamento representa um ganho ou uma perda para as mulheres alvo de atenção.
Jean Michel Chaumont (2002)Chaumont, Jean-Michel. La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance. Paris, La Découverte, 2002., nos seus estudos sobre a concorrência entre diferentes categorias de vítima da época contemporânea, inclui nessa concorrência um vasto leque de personagens – desde os mortos do extermínio nazista até os traumatizados pelo abuso sexual infantil. Em 2007, publicou um artigo em que estende sua análise àquelas “que não querem ser vítimas”, isto é, às prostitutas estrangeiras (principalmente na França) regularmente apresentadas como vítimas do tráfico sexual. À base de alguns episódios históricos, Chaumont recoloca de forma sucinta algo que, há tempos, vemos reiteradamente afirmado por outros cientistas sociais (Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2013Piscitelli, Adriana. Trânsitos: Brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.): a longa duração de certo “estilo de raciocínio” (Fleck, 2005Fleck, Ludwik. Genèse et développement d’un fait scientifique (préface de Ilana Lowy e Postface de Bruno Latour). Paris, Les Belles Lettres, 2005.) – isto é, a surpreendente resiliência, apesar de repetidas contestações empíricas, de determinados ideias sobre a prostituição e o tráfico de mulheres.
O autor (2007) começa com uma notícia de autoria anônima que aparece no Boletim da Sociedade Belga de Moralidade Pública em 1879. A matéria jornalística fala de uma jovem inglesa, vagando “seminua” e chorando aos prantos pelas ruas de Bruxelas. Duas matronas a seguiam, tentando acalmá-la e levá-la com elas, mas a menina resistia ao mesmo tempo em que chamava ao socorro numa língua incompreensível às pessoas que se juntavam ao seu redor. Quando finalmente apareceu um senhor capaz de traduzir as palavras da jovem, o público soube da triste história dessa “escrava branca”, enganada e levada a força para um bordel belga onde era submetida aos “tratamentos mais vergonhosos”. Historiadores, descrevendo a sequela desse episódio, contam outra versão dos fatos produzida pelo inquérito policial que seguiu. A menina teria tido um ataque de ciúmes contra uma colega do bordel que tinha lhe subtraído o freguês preferido, e, por isso, se jogou na rua. Ela mesma teria relatado que, por livre vontade, acabou a noite na cama do suposto policial que tinha defendido ela na rua. É evidentemente possível que o relatório policial tenha sido tão parcial quanto a matéria jornalística. Mas o interessante é que, entre as diferentes versões dos fatos, permaneceu apenas uma. A história que ficou no imaginário da época é a dos jornais, isto é, a dos “bons cidadãos” – filantropos da elite belga – que dirigiam a Sociedade Moral Pública.
Chaumont conta então como, no início do século XX, diversos países europeus estavam aprovando leis para ajudar vítimas da escravidão sexual. A ideia era repatriar as estrangeiras da indústria sexual que eram menores de idade ou que tinham sido forçadas a se prostituir. O problema é que não se encontravam traficadas querendo aproveitar a “salvação” das novas leis. Nos oito anos seguidos à primeira lei na Bélgica (1906), exatamente quatro mulheres assumiram a condição de traficada. O governo belga passou então a incluir um leque maior de mulheres na categoria de “traficadas”. Qualquer prostituta estrangeira servia. A pessoa que não queria aproveitar a opção de repatriação voluntária seria expulsa. Tratava-se do que Chaumont chama “ajuda forçada” (aide contrainte).
Nos anos 20, com financiamento da Fundação Rockefeller, a Sociedade das Nações organizou um inquérito que incluía nada menos de 28 países para descobrir a extensão do tráfico de mulheres (e crianças). Conforme Chaumont, a comissão de inquérito não conseguiu encontrar nenhuma jovem que se dizia constrangida a atravessar as fronteiras para se prostituir. Em resposta, de novo, foi ampliada a categoria de traficadas para equiparar mulher traficada com qualquer estrangeira trabalhando na prostituição. A justificativa oficial era que, “para exercer essa atividade, só uma mulher enganada”.
À época, havia muitos campeões prontos para salvar as enganadas: os católicos conservadores encontravam na prostituição evidência da decadência moderna. Para os socialistas, era a prova da ferocidade capitalista e, para as feministas, exemplo por excelência da dominação masculina. Os policiais, procurando maior peso para estabelecer articulações internacionais, também angariavam maior apoio apelando à necessidade da campanha contra “o tráfico”. Em suma, diz Chaumont, antes do que um pânico irracional, o escândalo em torno do tráfico de mulheres revelava a racionalidade de atores bem organizados e recrutados no seio das elites políticas e sociais.
Como diz o autor, essa história da época vitoriana parece hoje de uma atualidade estonteante. Atualmente, a principal esperança de uma prostituta estrangeira regularizar sua presença num país – pelo menos, na França – é se assumir como vítima do tráfico de seres humanos. E, mesmo nesse caso, a grande maioria dos denunciantes não alcança seu objetivo de permanecer no país. Pelo contrário, são “ajudadas” por meio do repatriamento forçado (isto é, a deportação). Os que lucram com as campanhas contra o tráfico continuam a ser numerosos: ao jogar nas suas capas matérias sobre esse tema, os jornais conseguem vender bem seu produto; a polícia nacional encontra uma justificação moral para a expulsão de imigrantes clandestinos oriundos de países pobres; os políticos, com olho nas próximas eleições, mostram como estão limpando as ruas da cidade; e mesmo as prostitutas locais são felizes de cooperar nas acusações, pois ao afastar as estrangeiras, diminuem a concorrência. Finalmente, hoje, tal como no início do século, há certo número de grupos feministas que se jogam no combate ao tráfico de mulheres para sublinhar a necessidade de dar atenção especial à vulnerabilidade feminina.
Tal como Chaumont antecipou no título de seu artigo (“aquelas que não queriam ser vítimas”), as trabalhadoras do sexo são um exemplo perfeito dos paradoxos embutidos na definição de “vitima”. Em primeiro lugar, o exemplo sublinha a temeridade de atribuir uma categoria a sujeitos que não a escolheram. Rotular uma mulher de “vítimas do tráfico”, quando ela não se vê como tal parece reduzi-la ao status de uma criança ou doente mental. É submetê-la a um poder pastoral que sabe, melhor do que ela, o que mais contribui para seu bem-estar.6 6 Falando com Cecilia Varela e Santiago Morcillo, dois pesquisadores argentinos, soube do exemplo perfeito dessa infantilização das mulheres. Na Argentina, para a investigação do “tráfico de mulheres”, os tribunais empregam o “depoimento sem danos”. Nesse tipo de entrevista, desenvolvida originalmente para uso com crianças, a equipe do juizado se esconde atrás de um espelho enquanto uma psicóloga judicial entrevista a “vítima”. Já questionável no caso de crianças, essa técnica empregada no caso de mulheres adultos é prova de uma orientação francamente paternalista.
Em segundo lugar, é necessário perguntar quais os efeitos da rotulação de “vítima” para as mulheres que rejeitam essa etiqueta – isto é, as mulheres adultas profissionais do sexo? A condição de “traficada” parece pressupor a inocência da prostituta – no fundo, uma pessoa enganada. Inspira-se na imagem vitoriana da mulher pura e indefesa que não é capaz de entender, muito menos de se defender contra, a exploração à qual é submetida. Onde ficam, então, as mulheres que dizem exercer essa atividade de forma voluntária? Devem ser vistas como “depravadas”? Ou como “cúmplices” de uma atividade criminal? Nesse caso, como aproveitar os direitos cidadãos mais básicos, como, por exemplo, a proteção contra maus tratos que eventualmente surgem no exercício de sua profissão? Parece que a classificação de “vítima” tende a ofuscar a de “trabalhadora”, deixando aquelas que exercem a atividade como profissão aquém das proteções legais cunhadas justamente para proteger o trabalhador contra violências físicas e morais.
O estilo de raciocínio de políticas públicas que colocam prostitutas como vítimas do tráfico não parece mudar nunca, apesar de repetidas provas de sua ineficácia (senão irrelevância total). Por outro lado, ao rever os estudos feministas sobre esse tema ao longo dos últimos vinte anos, o observador se impressiona por certas guinadas dramáticas de perspectiva. A entrevista de Gayle Rubin, realizada por Judith Butler (Rubin e Butler, 2003Rubin, Gayle; Judith Butler. O tráfico sexual – entrevista. cadernos pagu (21), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero Pagu/Unicamp, 2003, pp.157-209.) e traduzida para português pelo cadernos pagu, traz um exemplo primoroso do autoexame crítico e da capacidade de crescer por meio da experiência empírica e do debate que, a meu ver, caracterizam o campo.
Nessa entrevista, Gayle Rubin – autora de talvez o mais citado texto sobre o “tráfico de mulheres”, escrito no início dos anos 70 – revisita sua própria obra. Destaca a especificidade daquela década, – uma época de encantamento com Marx, Lévy-Strauss e Lacan, no auge de uma “segunda onda do feminismo”, e ainda sem a contribuição dos teóricos do LGBT ou as feministas pós-colonialistas. Para explicar a reviravolta desde então no seu pensamento sobre a prostituição, Gayle fala da influência de Carol Ernst, ativista lésbica que, antes de se tornar caminhoneira, trabalhou numa sala de massagem. Nos dois empregos, Carol se empenhava em organizar greves para exigir melhores condições de trabalho. Vendo a prostituição como um trabalho tão digno quanto qualquer outro, estranhou a maneira em que Gayle – uma colega feminista – usava a retórica da prostituição para persuadir seus leitores quanto ao horror da opressão das mulheres. Considerava que tal técnica de persuasão só aumentava o estigma (e, portanto a opressão) das mulheres que faziam trabalho sexual. Depois de muito debate, Gayle acabou por concordar: “[terminei por entender] que meu ganho retórico não podia justificar atitudes que racionalizavam a perseguição aos trabalhadores do sexo” (Rubin, 2003:173).
Além dessa “abertura” para a complexidade do mundo empírico e a recusa de posturas maniqueístas ou atitudes estanques, ainda encontramos aqui outra característica que associo ao campo de estudos feministas: a coragem de “botar o pescoço no bloco” dos debates políticos e assumir uma responsabilidade pelas consequências – isto é, a vontade de fazer uma conexão com esse “mundo real”. Creio que é esse tipo de coragem que encontramos em muitos outros textos feministas encontrados (também) nas páginas do cadernos pagu – em particular, nos quais os autores adentram debates sobre prostituição e direitos humanos. Endereçando-se a um público que inclui alguns dos principais atores políticos do cenário atual – gestores de políticas públicas, polícia, Ongs feministas –, esses artigos servem para cavar um espaço de debate que contempla as diferentes “versões” dos fatos.
Basta falar dos direitos humanos?
A noção de “direitos humanos” ajuda a esclarecer confusões ligadas ao debate sobre tráfico de mulheres? Uma consideração de dois artigos – o de Kamala Kempadoo e o de Adriana Piscitelli – mostra a polivalência tática desse termo (Foucault, 1977Foucault, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal, 1977.). Conforme Kamala (2005)Kempadoo Kamala. Mudando o debate sobre o tráfico de mulheres. cadernos pagu (25), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero Pagu/Unicamp, 2005, pp.55-78., nos debates norte-americanos, que tendem a ser espelhados nas organizações e tratados internacionais, existe certa polarização. Há, por um lado, as feministas abolicionistas que veem toda prostituição como “escravidão sexual feminina”; por outro lado, as feministas com uma concepção mais plural (incorporando visões da África, dos povos indígenas e outras tradições fora do eixo Euro-Americano) que entendem a prostituição em termos de direitos humanos ou justiça social. Estas últimas consideram que o problema das trabalhadoras da indústria sexual são, antes de tudo, as péssimas condições de trabalho, que envolvem discriminação, desrespeito e tratamento desumano – condições agravadas para a trabalhadora estrangeira, vista como algo entre criminosa, puta e imigrante clandestina. Nos tratados internacionais, a ênfase no controle de fluxos através das fronteiras – com a criminalização e a punição de pessoas envolvidas na migração “clandestina” – se afasta da agenda de direitos humanos projetada por estas feministas, que, aliás, observam, não sem ironia, que “As violações de direitos humanos não diminuíram com as políticas e legislação antitráfico” (Kempadoo, 2005:67).
Adriana Piscitelli, ao nos falar de sua experiência com o Plano Espanhol de Combate ao Tráfico de Pessoas (2005), mostra como – nesse caso – o slogan dos “direitos humanos” é um brandido pelas pessoas que querem abolir a prostituição. No quadro de intenso debate entre diferentes ONGs, as pessoas que se voltam para os direitos das trabalhadoras sexuais – garantias trabalhistas, condições dignas de trabalho – se declaram como “mais feministas”. Por outro lado, os ativistas associados a organizações religiosas humanitárias tendem a rechaçar toda forma de prostituição, considerada incompatível com a dignidade da mulher. São estes que usam a retórica dos direitos humanos, tendo percebido que, “a articulação com os organismos municipais e a polícia era mais efetiva quando se enfatizava a ideia de ‘direitos humanos’” (Piscitelli, 2011Piscitelli, Adriana. Procurando vítimas do tráfico de pessoas: brasileiras na indústria do sexo na Espanha. Revista Internacional de Mobilidade Humana, ano XIX, nº 37, Brasília, jul./dez 2011, pp.11-26.:22). Em outras palavras, o uso retórico de direitos humanos tem se mostrado uma tática relativamente eficaz na obtenção de documentos para estrangeiras, “vítimas do tráfico”, que querem ficar no país.
A polivalência do termo “direitos humanos”, usado ora para promover as condições do trabalho sexual, ora para combater a existência desse trabalho, tem sido observada por muitos pesquisadores. As ambiguidades inerentes nesse tipo de “bandeira política” aparecem no próprio campo do movimento feminista. Mas é graças à perspectiva de estudos feministas que aprendemos a lidar com essas ambiguidades não como anomalia – a ser sanada –, mas como um fenômeno integrante de qualquer debate acirrado e que revela muito sobre as diferentes tensões e articulações que subjazem o cenário político atual.
Há colegas que apostam no poder da linguagem. Investem-se na criação de “novos conceitos” para romper com classificações já viciadas de estereótipos discriminatórios. Tal procura é certamente importante, mas não é suficiente. Aprendemos com a história de Gayle Rubin o caráter eminentemente contextual de nossa escolha de conceitos: em determinado contexto, falar de “tráfico” fazia sentido; em outro contexto, diante de outros embates, se tornou um termo contraproducente. Vimos com a consideração de “direitos humanos” como os conceitos – mesmo os mais novos e revolucionários – são maleáveis. Tal como as novas formas de legislação, os novos termos são capturados por grupos diversos, “esclarecidos” de maneiras distintas e dirigidos para fins que, muitas vezes, parecem distantes das intenções originais de quem os formulou.
Reconhecer o caráter contextual não só do conteúdo, mas da própria escolha de nossos conceitos implica em confrontar os embates políticos que circundam nosso tema de pesquisa. Chama atenção para a necessidade de estudar as articulações concretas desses embates e aprender técnicas para acompanhar os resultados de nossas pesquisas para dentro da arena do político. Isto é, o processo não termina com o debate acadêmico. É essa uma das grandes lições do feminismo para os estudos feministas: pensar estrategicamente, e apostar em ações coletivas – não só dos “oprimidos” (constantemente encorajados a se “organizarem" em movimentos coletivos), mas também dos pesquisadores. E é nessa particular combinação de pensamento crítico e engajamento que se consolida, para um raio cada vez maior de “herdeiros”, o legado da junção de feminismo com os estudos feministas.
Pensar a história em termos de um embate de longa duração entre estilos antagônicos de raciocínio significa aceitar que as contendas ideológicas do passado, que imaginávamos mortas e enterradas, podem voltar de novo e de novo. É reconhecer que a história não representa uma grande “marcha de progresso”, com “conquistas” irreversíveis. Não existe um pacote pronto de elementos necessariamente associados, por exemplo, quanto à “liberação da mulher”. Na prática, os desdobramentos desse lema estão em constante disputa, tornando “o pacote” frágil, instável – algo a ser renegociado em cada novo contexto. Em outras palavras – e é essa a lição que pessoas como Scholastique trouxeram cedo para a discussão –, o “engajamento político” não pode seguir um formulário fixo e imutável. Vai muito além da aplicação de uma receita de princípios ou regras. O “avanço” não está no produto final (que seja um conceito ou uma lei), mas está no processo, isto é, nos debates, nas críticas e autorreflexões que acompanham a busca. É por meio desse processo, no confronto com o contexto (sempre novo) e a diversidade (nunca inteiramente previsível) que a aliança dos estudos e militância feministas encontra sua força particular.
Referências bibliográficas
- Bonetti, Alinne de Lima. Novas configurações: direitos humanos das mulheres, feminismo e participação política entre mulheres de grupos populares porto-alegrenses. In: Novaes, Regina Reyes; Kant de Lima, Roberto (orgs.). Antropologia e Direitos Humanos – Prêmio ABA/Ford. Niterói, EDUFF, 2001, pp.137-201.
- Brito, Maria Noemi Castilhos. Sindicato no Feminino: uma luta de formiga. (Dissertação de Mestrado), Ciências Sociais, Unicamp, Campinas, 1985.
- Chaumont, Jean-Michel. Celles qui ne voulaient plus être des victimes. Revue Suisse d'Histoire, vol 57, n.1, 2007, pp.1-13.
- Chaumont, Jean-Michel. La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance Paris, La Découverte, 2002.
- Fleck, Ludwik. Genèse et développement d’un fait scientifique (préface de Ilana Lowy e Postface de Bruno Latour). Paris, Les Belles Lettres, 2005.
- Fonseca, Claudia. A dupla carreira da mulher prostituta. Revista de Estudos Feministas 4(1), 1996, pp.7-34.
- Fonseca, Claudia. De afinidades a coalizões: uma reflexão sobre a transpolinização entre gênero e parentesco em décadas recentes da antropologia. Ilha 5(2), 2004a, pp.05-31.
- Fonseca, Claudia. A morte de um gigolô: Fronteiras da transgressão e sexualidade nos dias atuais. In: Piscitelli, Adriana; Gregori, Maria Filomena e Carrara, Sergio. Sexualidades e Saberes, Convenções e Fronteiras Rio de Janeiro, Garamond, 2004b.
- Foucault, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber Rio de Janeiro, Graal, 1977.
- Kempadoo Kamala. Mudando o debate sobre o tráfico de mulheres. cadernos pagu (25), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero Pagu/Unicamp, 2005, pp.55-78.
- Kompaore, Scholastique. Marche Mondiale Des Femmes: Burkina Faso. Organisation Internationale De La Francophonie, Genre en action, s/d. Disponível em: http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/COMPAORE.pdf – acesso em: 10 out. 2015.
» http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/COMPAORE.pdf - Machado, L. Z. Feminismo em Movimento São Paulo, Editora Francis, 2010.
- Olivar, J. M. N. Devir Puta: políticas da prostituição de rua na experiência de quatro mulheres militantes Rio de Janeiro, Eduerj, 2013.
- Pasini, Elisiane. Os homens da vila: um estudo sobre relações de gênero num universo de prostituição feminina. Tese (Doutorado em Antropologia), Unicamp, Campinas, 2005.
- Paz, Carmen Lucia de Souza. Profissão? Prostituta. Concepções de cidadania das prostitutas organizadas no NEP em Porto Alegre. Especialização em Direitos Humanos, ESMP/UFRGS, 2008.
- Piscitelli, Adriana. Trânsitos: Brasileiras nos mercados transnacionais do sexo Rio de Janeiro, EdUERJ, 2013.
- Piscitelli, Adriana. Procurando vítimas do tráfico de pessoas: brasileiras na indústria do sexo na Espanha. Revista Internacional de Mobilidade Humana, ano XIX, nº 37, Brasília, jul./dez 2011, pp.11-26.
- Rubin, Gayle; Judith Butler. O tráfico sexual – entrevista. cadernos pagu (21), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero Pagu/Unicamp, 2003, pp.157-209.
- Tedesco, Leticia. No trecho dos garimpos: Mobilidade, gênero e modos de viver na garimpagem de ouro amazônica. Tese (Doutorado em Antropologia Social), UFRGS, Porto Alegre, 2014.
-
1
O grupo interdisciplinar de professoras juntava pesquisadoras que viriam a ser conhecidas como pioneiras brasileiras dos estudos da mulher: Celi Pinto, Jussara Pra, Guaraci Louro e Anita Brumer.
-
2
Em particular, Albertina Costa e Cristina Bruschini.
-
3
As bolsistas da graduação, Alinne Bonnetti e Elisiane Pasini, me acompanharam em cada passo da pareceria com NEP. Essas duas pesquisadoras viriam a desenvolver seus estudos de doutorado orientadas por pesquisadoras vinculadas ao Pagu – Alinne sobre a participação popular de mulheres na política, e Elisiane (Pasini, 2005) sobre a organização política e profissional de prostitutas no Rio de Janeiro.
-
4
Ver Tedesco (2014)Tedesco, Leticia. No trecho dos garimpos: Mobilidade, gênero e modos de viver na garimpagem de ouro amazônica. Tese (Doutorado em Antropologia Social), UFRGS, Porto Alegre, 2014. para uma abordagem semelhante sobre as trajetórias laborais e familiares de mulheres da região do garimpo amazônico engajadas no trabalho sexual.
-
5
Penso em particular em Tina Taborda, fundadora, e Carmen Lucia Paz, atual coordenadora do NEP. Na sua especialização de Direitos Humanos, Carmen Lucia (Paz, 2008) trouxe sua experiência de prostituta profissional para a análise do movimento político da categoria.
-
6
Falando com Cecilia Varela e Santiago Morcillo, dois pesquisadores argentinos, soube do exemplo perfeito dessa infantilização das mulheres. Na Argentina, para a investigação do “tráfico de mulheres”, os tribunais empregam o “depoimento sem danos”. Nesse tipo de entrevista, desenvolvida originalmente para uso com crianças, a equipe do juizado se esconde atrás de um espelho enquanto uma psicóloga judicial entrevista a “vítima”. Já questionável no caso de crianças, essa técnica empregada no caso de mulheres adultos é prova de uma orientação francamente paternalista.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
2016
Histórico
-
Recebido
01 Mar 2016 -
Aceito
23 Mar 2016