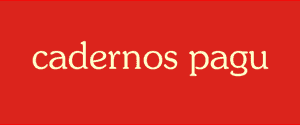Na apresentação dessa reedição do livro A Reinvenção do Corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Berenice Bento justifica os motivos da manutenção do texto original, publicado em 2006, mas que circulava produzindo ruídos desde 2003, por ocasião da defesa de sua tese. Não recuperarei seus argumentos e nem mesmo farei um comparativo com as pouquíssimas alterações realizadas no texto.
Assim também digo da atualidade e da precisão da resenha escrita por Pedro Paulo Gomes Pereira (2006)Pereira, Pedro P. G. A teoria queer e a reinvenção do corpo. Cadernos Pagu (27), Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.469-477.. A densidade daquele texto dispensaria, num primeiro momento, a iniciativa de se escrever uma nova resenha.
Então escolhi trilhar outro caminho. Recupero o trecho final da entrevista concedida por Berenice Bento à revista Cult para reiterar sua provocação:
devemos reconhecer a dificuldade que os estudos/ativismo transviados têm encontrado para se consolidar no contexto nacional e parece que há um buraco entre a academia brasileira (espaço de recepção dos estudos queer) e os movimentos sociais (Bento, 2014:46).
Encontrei Berenice Bento pela primeira vez no início dos anos 2000; foi uma entrevista generosa como as que se seguiram para tantos outros pesquisadores (Dias, 2014Dias, Diego M. Brincar de gênero, uma conversa com Berenice Bento. Cadernos Pagu (43), Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2014, pp.475-497.). As linhas do espaço geográfico de nossas pesquisas se cruzaram, alinhavando pessoas, angústias e tecendo reconhecimentos. No lugar do desamparo produzido pela pouquíssima bibliografia traduzida para o português que tratasse do tema da transexualidade no campo das ciências humanas e o desafio de dialogar com questões problematizadas a partir dos estudos queer, a tese de Berenice Bento (2003) tornou-se referência para meu estudo em fase de elaboração (Teixeira, 2009Teixeira, Flavia B. Vidas que desafiam corpos e sonhos: uma etnografia do construir-se outro no gênero e na sexualidade. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 2009.).
A primeira edição desse livro tornou-se leitura obrigatória para os estudos no campo da transexualidade. Se concordamos que, em 2015, termos como transexual masculino e transexual feminino perderam o potencial autoevidente e “mudança de sexo” não é suficiente para dar sentido às expectativas de cuidados em saúde na perspectiva da despatologização da transexualidade, é importante reconhecermos também que essa pesquisa pioneira afetou o campo/saber médico.
Seus questionamentos deslocavam as tecnologias médicas e sua aparente neutralidade para o centro da problemática. Demonstravam como os (não)saberes no entorno do diagnóstico não se resumiriam no cumprimento de protocolos descritivos que (re)conheciam e (re)definiam a transexualidade, mas também prescritivos, constituindo a maquinaria do dispositivo da transexualidade.
A transexualidade deve ser observada como um dos mais recentes desdobramentos do dispositivo da sexualidade, passando a constituir-se como um dispositivo específico, que se encontra em pleno período de operacionalização, com a organização crescente de comissões ou projetos vinculados a hospitais, visando a “tratar” os disfóricos de gênero (Bento, 2014:137).
Seria incoerente com toda a potência analítica dos estudos queer fixar o trabalho de Berenice Bento como pioneiro, ou posicioná-la como tal. No entanto, perceber a construção de um campo disciplinar no Brasil marcado por esse trabalho é compreender como os discursos circularam e performaram seus efeitos, com maior ou menor flexão nas políticas e serviços de saúde (locais onde os discursos se materializam em saber/fazer).
Assim, impactou trabalhos posteriores como as teses de doutoramento de Jorge Leite Júnior (2008)Leite Jr., Jorge. “Nossos Corpos Também Mudam”: sexo, gênero e a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2008., Flavia Teixeira (2009)Teixeira, Flavia B. Vidas que desafiam corpos e sonhos: uma etnografia do construir-se outro no gênero e na sexualidade. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 2009., Heloisa Barboza (2010)Barboza, Heloisa H. G. Procedimentos para redesignação sexual: um processo bioeticamente inadequado. Tese (Doutorado em Saúde Pública), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2010., Daniela Murta (2011)Murta, D. Os desafios da despatologização da transexualidade: reflexões sobre a assistência a transexuais no Brasil. Tese (Doutorado em Medicina Social), Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011., Grazielle Tagliamento (2012)Tagliamento, Grazielle. (IN)Visibilidades caleidoscópicas: a perspectiva das mulheres trans sobre o seu acesso à saúde integral. Tese (Doutorado em Psicologia), Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2012., Simone Ávila (2014)Ávila, Simone N. FTM, transhomem, homem trans, trans, homem: A emergência de transmasculinidades no Brasil contemporâneo. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. e as dissertações de mestrado de Izis Reis (2008)Reis, Izis Morais Lopes. Entre a universalidade e a particularidade: desafios para a construção de direito a saúde de transexuais. Dissertação (Mestrado em Antropologia), Universidade de Brasília, Brasília, 2008., Anibal Guimaraes (2009)Guimarães Jr., Anibal Ribeiro. A bioética da proteção e a população transexual feminina. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2009., Mably Tenenblat (2014)Tenenblat, Mably J. T. A assistência à saúde de pessoas transexuais: aspectos históricos do processo transexualizador no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Serviço Social), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. e Camila Guaranha (2014)Guaranha, Camila. O desafio da equidade e da integralidade: travestilidades e transexualidades no sistema único de saúde. Dissertação (Mestrado em Psicologia), Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.. O trabalho abriu brechas para o refinamento do dispositivo da transexualidade tal qual demonstrou Rodrigo Borba (2014)Borba, Rodrigo. (Des)aprendendo a “ser”: trajetórias de socialização e performances narrativas no Processo Transexualizador. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014., analisando os interstícios da consulta.
O recorte analítico recai sobre as dinâmicas discursivas e os microdetalhes interacionais que movimentam a re-atualização do (e a resistência ao) modelo patologizante de “transexual verdadeiro” e os saberes/poderes que sustentam tal dispositivo. Essas dinâmicas, como veremos, envolvem a participação ativa tanto de pessoas transexuais quanto de profissionais de saúde que conjuntamente retroalimentam um processo de (des)aprendizagem do que é ser uma pessoa transexual para os propósitos do Processo Transexualizador. Esta pesquisa, assim, investiga os movimentos microinteracionais e intersubjetivos de aprendizagem dessa narrativa; estudar-se-ão, dessa forma, a construção colaborativa de narrativas no Processo, que constituem suas práticas diárias, e não sobre ele, o que não nos fornece subsídios para a compreensão sobre como o cuidado à saúde de pessoas trans se dá in situ (Borba, 2014Borba, Rodrigo. (Des)aprendendo a “ser”: trajetórias de socialização e performances narrativas no Processo Transexualizador. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.:18-9).
Berenice Bento, na apresentação do livro, reafirma que apesar do aumento da produção acadêmica dos últimos 10 anos, o cenário da assistência em saúde trans-específica foi pouco alterado e permanece ancorado no “processo transexualizador” e, portanto, na emissão de um parecer psi. Compartilhamos espaços importantes, como por exemplo, o inesquecível seminário para avaliar o Processo Transexualizador no SUS1 que originou a Carta DesaBAFO publicada pela pesquisadora em 2012.
Ao longo de todo o dia 05 eu me perguntava: o que pretende realmente o Estado brasileiro? Por que reunir tanta gente com tamanha experiência (e expectativa) sem ter construído uma dinâmica de debate que, de fato, garanta a participação de todos/as? Por que o Estado nos convidou para contribuir com o debate sobre o processo transexualizador, enchendo uma sala com pesquisadores/as de todo Brasil e ativistas trans que se dedicam à luta pelos direitos humanos das pessoas trans há décadas, sem assegurar o espaço adequado para a deliberação democrática? (Bento, 2012)2.
Berenice Bento “estranhava” a estratégia do Ministério da Saúde, uma vez que esse espaço – as reuniões para discussão das normativas – sempre se configurou como hegemonicamente pertencente ao saber médico/psi. Eram evidentes as disputas em torno da reformulação da portaria ocorridas naquele seminário e o incômodo presenciado quando pesquisadoras(es) da área de ciências humanas e integrantes do movimento social foram supostamente autorizados a falar num campo em que o saber médico reivindica hegemonia.
Uma das interpretações possíveis para o tamanho incômodo presenciado e a retirada dos profissionais médicos seria pensar na recusa de reconhecimento destes(as) “outros(as)” como sujeitos falantes nesse processo. Responder a estes(as) interlocutores(as) seria integrá-los(as) no circuito da mensagem, forçando o reconhecimento. A relação desigual que se configurou, desde a primeira Portaria, parecia legitimada no Seminário (Teixeira, 2013Teixeira, Flavia B. Dispositivos de dor: saberes poderes que (con)formam as transexualidades. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2013.:214).
As desconfianças sistematizadas por Berenice Bento naquele momento se conformariam na publicação da Portaria no. 2.803, de 19 de novembro de 20133, recebida sem questionamentos expressivos dos representantes do movimento social presentes no I Seminário Nacional de Saúde Integral LGBT4. A temática da despatologização teria sido interditada, num acordo “silenciado” entre representantes do Ministério da Saúde e do movimento social. Não sem razão, as(os) pesquisadoras(es) das ciências humanas, presentes no seminário de junho, não foram convidadas(os) para o referido evento.5
Tal portaria deveria expressar o resultado do debate com a sociedade civil, ativistas e o grupo de especialistas que se reuniu em torno da revisão das duas portarias anteriores6 , no entanto, o Ministério da Saúde reafirmou sua aliança com a perspectiva centrada na patologia e no diagnóstico. Reiterou a desarticulação entre técnica e política anunciada anteriormente no documento enviado em resposta à carta aberta organizada por Jaqueline Gomes de Jesus7 que também questionava a condução do seminário para avaliar o Processo Transexualizador no SUS. Destaco o fragmento:
A lei vigente em nosso país possui um registro no código internacional de doenças para autorização de procedimentos. Esta situação que para o movimento social é desconfortável gera polêmica em muitos segmentos de nossa sociedade, por isso ganha importância ampliar e aprofundar o debate da despatologização sem prejuízo da revisão da Portaria 457/2008 que vai ao encontro da integralidade da atenção à saúde da população trans. Para tanto, ao propormos na revisão da Portaria 457/2008 a equipe multidisciplinar, consideramos a importância da integralidade da atenção à saúde e respeitamos todos os saberes como a psiquiatria, a psicologia, a endocrinologia, a ginecologia, a urologia, a clínica, o serviço social e ao mesmo tempo, respeitamos a lei vigente(grifos nossos).8
Do ponto de vista técnico, a resposta do Ministério da Saúde mostrou-se equivocada, pois parece desconsiderar como interlocutores(as) aqueles(as) cujo conhecimento é produzido em outro campo disciplinar, particularmente as ciências sociais. Silenciar um campo que tem produzido/sustentado teoricamente quase todas as teses e dissertações sobre as relações de gênero tomando a transexualidade como uma experiência potente que desnaturaliza o “ser homem” e “ser mulher” e se aliam que ao movimento pela despatologização das identidades trans no país é, no seu avesso, reconhecer o potencial desestabilizador desses estudos que, no Brasil, foram afetados pela pesquisa inaugural de Berenice Bento.
Do ponto de vista político, a negociação (ainda que estratégica) entre representantes do movimento social e Ministério da Saúde exemplificaria o abismo ao qual Berenice Bento se referia entre esses estudos que reconhecem na naturalização dos gêneros um dos mais poderosos recursos acionados pelo Estado (e sustentado pelo poder/saber médico e pelos saberes psi) para a manutenção de estruturas hierárquicas e assimétricas dos gêneros, e os movimentos sociais que demandam/legitimam políticas públicas referendadas nas supostas diferenças naturais reiterando o poder do Estado e dessas instituições no controle e na seleção das vidas.
Enfim, toda essa digressão cumpre a função de dizer o que parece óbvio: a pertinência de se reeditar um livro que se tornou clássico.
Referências bibliográficas
- Ávila, Simone N. FTM, transhomem, homem trans, trans, homem: A emergência de transmasculinidades no Brasil contemporâneo. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.
- Barboza, Heloisa H. G. Procedimentos para redesignação sexual: um processo bioeticamente inadequado. Tese (Doutorado em Saúde Pública), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2010.
- Bento Berenice M. A Reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Tese (Doutorado em Sociologia), Departamento de Sociologia, UNB, Brasília, 2003.
- Bento Berenice M.A Reinvenção do Corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. Rio de Janeiro, Garamond, 2006.
- Bento Berenice M. A reinvenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência transexual. 2a. ed. Natal, Editora da UFRN, 2014.
- Bento Berenice M. Queer o quê? Ativismo e estudos transviados. Cult, São Paulo, 2014, pp.43-46.
- Borba, Rodrigo. (Des)aprendendo a “ser”: trajetórias de socialização e performances narrativas no Processo Transexualizador. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
- Dias, Diego M. Brincar de gênero, uma conversa com Berenice Bento. Cadernos Pagu (43), Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2014, pp.475-497.
- Guaranha, Camila. O desafio da equidade e da integralidade: travestilidades e transexualidades no sistema único de saúde. Dissertação (Mestrado em Psicologia), Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2014.
- Guimarães Jr., Anibal Ribeiro. A bioética da proteção e a população transexual feminina. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública), Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2009.
- Leite Jr., Jorge. “Nossos Corpos Também Mudam”: sexo, gênero e a invenção das categorias “travesti” e “transexual” no discurso científico. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2008.
- Murta, D. Os desafios da despatologização da transexualidade: reflexões sobre a assistência a transexuais no Brasil. Tese (Doutorado em Medicina Social), Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011.
- Pereira, Pedro P. G. A teoria queer e a reinvenção do corpo. Cadernos Pagu (27), Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.469-477.
- Reis, Izis Morais Lopes. Entre a universalidade e a particularidade: desafios para a construção de direito a saúde de transexuais. Dissertação (Mestrado em Antropologia), Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
- Tagliamento, Grazielle. (IN)Visibilidades caleidoscópicas: a perspectiva das mulheres trans sobre o seu acesso à saúde integral. Tese (Doutorado em Psicologia), Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 2012.
- Teixeira, Flavia B. Vidas que desafiam corpos e sonhos: uma etnografia do construir-se outro no gênero e na sexualidade. Tese (Doutorado em Ciências Sociais), Universidade Estadual de Campinas, Campinas/SP, 2009.
- Teixeira, Flavia B. Dispositivos de dor: saberes poderes que (con)formam as transexualidades. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2013.
- Tenenblat, Mably J. T. A assistência à saúde de pessoas transexuais: aspectos históricos do processo transexualizador no Estado do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Serviço Social), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
-
1
Coordenado pela SAS e pela SGEP/Ministério da Saúde, em Brasília, 4 e 5 de junho de 2012.
-
2
Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH). Disponível em: http://www.abeh.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=117:pesquisadora-critica-reuniao-sobre-o-processotransexualizador&catid=38:publicacoes. Acesso em: 12.jun. 2012.
-
3
[http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2803_19_11_2013.html – acesso em: 03 mar. 2015].
-
4
Realizado de 24 a 26 de novembro em Brasília, dias depois da publicação da referida Portaria [http://editora.saude.gov.br/epub/ – acesso em: 12 jul. 2015].
-
5
O convite recebido para participação do Ambulatório de Saúde Integral das Travestis e Transexuais, especificava que o(a) representante(a) deveria ser médico(a) ou enfermeiro(a) do serviço. No referido espaço, o convite foi estendido a mim, informando a ausência de financiamento para tal. Nada causaria estranheza, caso eu não tivesse participado de todas as reuniões de discussão da reformulação da Portaria.
-
6
Portaria nº. 1.707/GM, publicada no DOU nº. 159, terça-feira, 19 de agosto de 2008, seção1, p.43, que instituiu o Processo Transexualizador no SUS [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1707_18_08_2008.html – acesso em: 03 mar. 2015]; Portaria nº. 457/SAS publicada no DOU nº. 160, quarta-feira, 20 de agosto de 2008, que instituiu e definiu as diretrizes nacionais e regulamentou o Processo Transexualizador no SUS [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2008/prt0457_19_08_2008.html – acesso em: 03 mar. 2015].
-
7
[http://www.scribd.com/doc/101539515/Carta-Aberta-Seminario-SUS-e-Patologizacao-Identidades-Trans – acesso em: 21 dez. 2012].
-
8
Datada de 16 de julho de 2012, uma carta resposta do Ministério da Saúde foi endereçada a Jaqueline Gomes dos Santos. O parecer técnico foi assinado pelos representantes da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) e Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) [http://www.scribd.com/doc/101217708/Carta-Resposta-do-Ministerio-da-Saude – acesso em: 19 dez. 2012].
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
2016
Histórico
-
Recebido
28 Jul 2015 -
Aceito
20 Jul 2016