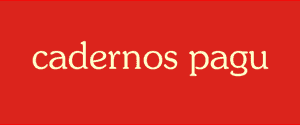Resumo
Este artigo analisa microcenas de interação e argumenta que o cotidiano é decisivo para a objetivação das categorias da diferença. Categorias são aqui compreendidas como intervalo de sentidos – conteúdos sempre situados e construídos mutuamente – no interior de fronteiras ideais de valoração, estabelecidas pelo uso rotineiro. A reflexão etnográfica sobre as situações empíricas dá ensejo a uma interpretação mais ampla sobre como a reação autoritária recente no Brasil tem em sua base a construção mútua de ideais categoriais de gênero e estado, mas também de raça, religião, família, classe, sexualidade e crime, portanto um projeto de nação. Não se pode esperar deste texto, evidentemente, que cada uma dessas categorias seja discutida com rigor; a proposta formal é que se pense a política de sua produção simultânea no curso da vida social contemporânea, ou seja, sobre como a estética de sua emergência situada nos cotidianos remete à construção da cena política mais ampla. Este texto é resultado parcial de investigação mais ampla sobre os cotidianos de grupos fortemente marginalizados em São Paulo.
Diferença; Categorias; Estado; Gênero; Raça; Classe
Abstract
The following article analyses micro-scenes of interaction and argues that everyday life plays a critical role in the objectification of categories of difference. Categories are here understood as intervals of plausible meanings–as contents always mutually situated and constructed–within normative ideal boundaries established by routine use. An ethnographic reflection on several empirical situations, three of them discussed here, gives rise to a broader interpretation of how the recent authoritarian reaction in Brazil is based on the categorical construction of ideals regarding gender and state, as well as race, religion, family, class, sexuality and crime, thus serving as a national project. The text cannot of course be expected to discuss all of these categories in detail, with its formal objective to discuss the politics of their simultaneous production in the course of contemporary social life, that is, how the aesthetic of their emergence in everyday life impacts on the construction of the broader political scene. This text is the partial result of a broader investigation into the everyday lives of groups that are strongly marginalised in São Paulo.
Difference; Categories; State; Gender; Race; Class
Introdução
O níquel, o alumínio, o estanho, e outros assépticos elementos, ao fim se corrompem: o tempo injeta em cada um seu veneno. A merda, o lixo, o corpo podre, os humores, vivos dejetos, não se corrompem mais: o tempo seca-os ao fim, com mil cautérios (João Cabral de Melo Neto – A duplicidade do tempo, 1946).Uma senhora branca, de 86 anos, assistia pela televisão à corrida de São Silvestre, tradicional na passagem de ano em São Paulo; fazia um balanço de sua biografia, algo comum nesse período do ano, nessa época da vida. A confraternização familiar demonstrava, para Dona Vitória, que seu esforço tinha valido à pena: viúva há alguns anos, a senhora acabara de me contar o quanto a vida tinha melhorado. Filha de imigrantes italianos pobres chegados há um século, agregada na casa rural da mãe de criação, muito católica, Dona Vitória, agora na sala da casa ampla, comida farta, se felicitava pela “condição” alcançada pela família. “Estou feliz da vida”, ela me disse algumas vezes. Ao mesmo tempo que falávamos, na televisão a imagem do atleta queniano Robert Cheruyot, pele escura, forte, cabelos raspados, se prolongou por vários minutos. Ele abria caminho, passadas largas, na liderança.
As quatro filhas de Dona Vitória também estavam ali reunidas. Duas delas médicas, casadas com um médico e um empresário; outras duas formadas em engenharia e odontologia, casadas com colegas de profissão, um deles de família japonesa. Dona Vitória se lembra que cada uma delas a deu dois netos. A geração das filhas tem famílias nucleares, urbanas, e naquele momento, todos os seus membros diretos circulavam – incluindo genros e noras, além de alguns amigos – em torno de Dona Vitória que, por isso, podia afirmar em alto e bom som:
Graças a Deus, tô feliz da vida! Graças a Deus ninguém na minha família é preto, ninguém casou com preto, nem tem filho preto... Tá todo mundo bem de vida... graças a Deus! (Anotação pessoal, São Carlos, 31/12/2007).A reação da família não foi a esperada pela senhora. Duas netas imediatamente reagiram: “Ai vó, que horror!”. Outras duas se remeteram a mim, uma me pedindo desculpas, envergonhada pelo racismo explícito. Olhares de reprovação, espalhados pelo sofá, se comunicaram e as bocas torcidas, em seguida, cederam lugar a expressões de “deixa pra lá...”, “ela já está muito velhinha”, “ai que vergonha..'”
Quem conheceu Dona Vitória sabe que as estéticas branca, japonesa ou negra não lhe eram indiferentes, mas implicavam sentidos valorativos muito distintos – frente ao casamento, à família, à nação, ao trabalho, à religião. Mas a fronteira de estar “bem de vida” circundava, para ela, brancos e japoneses, deixando os negros do lado de fora. Categorias não são palavras, conceitos ou expressões que se aprendem na escuta de explicações – mesmo as “nativas”.1 1 Pois seria no plano da experiência vivida, não da explicação abstrata, que se produziria a emergência do sentido das categorias. A inspiração para esse debate vem de Rancière (2002) e Wittgenstein (1986, em especial, parágrafos 98-106). Categorias são intervalos de sentido delineados pelas fronteiras do plausível, em cada contexto (pode-se estar mais ou menos “bem de vida”, mas só é plausível pensar nessa categoria, para Dona Vitória, no caso de brancos e japoneses). É no correr da vida, nas relações entre experiência e linguagem, que se produz o uso e, portanto, o sentido categorial: parâmetros pragmáticos, uma ordem da ação e suas matrizes de valoração do mundo vivido.2 2 “Por un lado es claro que toda oración de nuestro lenguaje 'está en orden tal como está'. Es decir, que no aspiramos a un ideal: Como si nuestras oraciones ordinarias, vagas, aún no tuviesen un sentido totalmente irreprochable y hubiera primero que construir un lenguaje perfecto. Por otro lado parece claro: Donde hay sentido tiene que haber orden perfecto. Así es que tiene que hallarse el orden perfecto incluso en la oración más vaga” (Wittgenstein, 1986, p, parágrafo 98:44)”. A discussão seria longa, desde o debate entre Durkheim e William James, passando pelos pragmatistas e interacionistas. Para uma retomada dessa discussão, ver Werneck (2012). É na experiência vivida, ou seja, na sequência das interações – tanto rotineiras quanto disruptivas como essa3 3 Para um debate sobre rotina como estrutura, ver Machado da Silva (2008). Das (2002, 2006, 2012) trabalha detidamente sobre a relevância da vida cotidiana na construção da distinção, assim como Bayat (2013); Blokland, Giustozzi e Schilling (2016). , que se produz o sentido, frente a um continuum de possibilidades, e as fronteiras – limites do plausível – das categorias.
Este artigo reflete detidamente sobre três situações de interação, rompendo justamente a ordem cotidiana da compreensão, rápida e sensorial, que oferece o lugar e o valor de cada interação quase que imediatamente. Ter tempo para pensar sobre uma interação é muito diferente de vivê-la. Argumento aqui que o cotidiano é decisivo na objetivação das categorias da diferença – tomadas então como categorias analíticas (Brah, 2006Brah, A. Diferença, diversidade, diferenciação. cadernos pagu (26), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.329-365.; Piscitelli, 2008Piscitelli, A. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, vol.11, no 2, 2008.).4 4 Procurei tratar do problema da diferença, especificamente inscrito nas noções pública e êmica de “periferia” em Feltran (2013; 2014). Essa reflexão dá ensejo a uma interpretação mais ampla sobre os pressupostos categoriais da reação autoritária recente no Brasil, que se ampara na construção mútua, no plano dos pressupostos categoriais, de ideais de 'gênero' e 'estado', mas também de 'raça', 'religião', 'família', 'classe', 'sexualidade', 'crime', ‘nação’ e 'violência' nos cotidianos. Não se pode esperar desse texto, evidentemente, que cada uma dessas categorias seja discutida com rigor; a proposta formal é que se pense a política de sua produção simultânea no curso da vida social contemporânea, ou seja, sobre como a estética de sua emergência situada nos cotidianos remete à construção da cena política.
1. Desentendimento
A fala de Dona Vitória, como vimos, não atingiu seu público como ela imaginaria. Não houve congratulação pela trajetória da família, nem pela luta da avó pelas mulheres da casa. A senhora se calou, o atleta queniano seguiu correndo até a vitória, a festa de família seguiu ritualizando os laços dos que ali se encontravam. Nada se disse sobre raça, sobre gênero, família ou religião a partir dali. Nada sobre política. Cabe a este texto fazê-lo, buscando as conexões de sentido que as categorias formulavam, naquela situação disruptiva.
Nas palavras de Dona Vitória, apreende-se rápido o racismo, em forma e conteúdo.5 5 Laura Moutinho (2006:112) analisa três trajetórias de homens negros e pobres no Rio de Janeiro e, em síntese preliminar, verifica que a “homofobia se sobrepõe ao racismo” no plano mais amplo de negociação da diferença no qual seus personagens se inscrevem. Seguindo a pista da autora, aqui também se nota como uma categoria da diferença se objetiva mais centralmente que outra na definição das situações, o que não implica que outras categorias não se objetivem simultaneamente, mutuamente. Para uma excelente revisão do debate sobre interseccionalities, ver Piscitelli (2008), ou Cho, Crenshaw & McCall (2013). A categoria “preto”, reivindicada hoje por parte expressiva do movimento hip-hop como de autoidentificação é, no diagrama racial em que D. Vitória se socializou, fortemente naturalizada como marcador de inferioridade, também de sujeira, ignorância e pobreza. Nessa cena de enunciação, inscreve-se um diagrama racial específico – distante do contemporâneo, daí o desentendimento frente ao quadro racial das netas. O diagrama acionado pela avó não incorpora defesas frente a nenhum dos elementos críticos trazidos pelo movimento negro, renovado no país a partir dos anos 1960. O período de socialização de Dona Vitória nas relações raciais remete às primeiras décadas do século 20 e, mantendo-se sempre no polo branco, não foi preciso revisitá-lo.
Mas se o racismo é explícito, apreendemos pouco, num primeiro momento, da forma pela qual se constrói gênero, família e religiosidade, nessa fala rápida de Dona Vitória. Marcadores identitários laterais no discurso racial, constituem-se também ali em conteúdos precisos, pouco notáveis no momento. A expressão “Graças a Deus” é repetida, e utilizada para a avaliação da própria trajetória; o sacrifício em vida que enseja um final redentor, próprio da narrativa cristã, teria Deus e seus desígnios por detrás. Estar do lado sagrado, com Deus e longe dos pretos, é elemento de felicidade: “estou feliz da vida”. Religiosidade tem, então, conteúdos raciais evidentes, e vice-versa.
As marcações de gênero e classe também ficam menos explícitas, mas emergem quando se analisa a situação com mais tempo. Narrando o final de um percurso, Dona Vitória apresenta outros três elementos de justificação de sua felicidade, e todos eles remetem ao modo como ela construiu gênero acoplado a um projeto de mobilidade social familiar, portanto de classe: i) “ninguém da minha família é preto”: infensa aos negros, a família teria se fortalecido; o quadro de referência é, possivelmente, anterior aos anos 1930, construtores da ideologia nacional da “democracia racial” nas décadas seguintes; ii) o casamento das filhas: “ninguém casou com preto”; mãe de quatro filhas mulheres nascidas entre os anos 1950-60, época em que as mulheres definitivamente não compunham parte majoritária do mercado de trabalho, as possibilidades de melhoria de vida passavam pelos seus casamentos. A rota da escolarização foi, sem dúvida, definitiva para que encontrassem cônjuges, na universidade, distantes do polo social preto, fadado, em sua perspectiva, ao piso da pirâmide social; iii) os filhos: “ninguém tem filho preto”: seguem as marcas fundamentais do papel feminino identificado com o casamento e a reprodução, segue a distância dos negros como ideal familiar. O ideal situado da ação de mobilidade, portanto um plano de referências do concretamente vivido, é considerado aqui – como na teoria da ação clássica – aquele no qual teoricamente e empiricamente se inscrevem as categorias da diferença, que se rotinizam como hegemônicas ou se subalternizam. Sua construção cotidiana como compósito coerente, por pares de oposição valorativa em diferentes séries teleológicas (diferentes cursos de ação, com conteúdos relativos a gênero, classe, raça, mobilidade etc.) é por isso esteticamente reconhecível: ela se reifica, se corporifica (em formas do corpo, mas também da performance social, da oralidade). Uma filha branca tendo um filho com fenótipo negro significaria, nessa chave, derrota no complexo projeto de família-gênero-classe-raça-religião que emerge na experiência coletiva em que Dona Vitória se socializou. Durante o fluxo da vida cotidiana, a construção dessa interseccionalidade não se mostra à primeira vista, exceto pela dimensão sensorial: a política de composição dos marcadores de diferença se plasma numa composição de signos e fronteiras, coerentes para quem compartilha seus significados. Em suma, que se plasma numa estética da diferença.
Existe, portanto, na base da política uma “estética” que não tem nada a ver com a “estetização da política” própria da “era das massas”, de que fala Benjamin. Essa estética não deve ser entendida no sentido de uma captura perversa da política por uma vontade de arte, pelo pensamento do povo como obra de arte. Insistindo na analogia, pode-se entendê-la num sentido kantiano – eventualmente visitado por Foucault – como o sistema de formas a priori determinando o que se dá a sentir (Rancière, 2005Rancière, J. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo, EXO Experimental, 2005.:16).6 6 Estética e política, aqui, são pensadas nos marcos do que propôs Jacques Rancière (2005:18): “Tais formas revelam-se comprometidas com um certo regime da política, um regime de indeterminação de identidades, de deslegitimação das posições de palavra, de desregulação das partilhas do espaço e do tempo. Esse regime estético da política é propriamente a democracia, o regime das assembleias de artesãos, das leis escritas intangíveis e da instituição teatral”.
Essa estética de formas a priori, oferecendo abertura para a interposição de conteúdos os mais diversos – a sexualidade, a loucura, por exemplo – que Jacques Rancière identifica na noção de dispositivo de Michel Foucault (1976)Foucault, M. Histoire de la sexualité 1: La volonté de savoir. Paris, Gallimard, 1976., dialoga estreitamente com a proposição da sociologia formal que Georg Simmel (2010)Simmel, G. Life as Transcendence. in: The View of Life: Four metaphysical essays with journal aphorisms. University of Chicago Press, 2010 [1918].:
A posição do homem no mundo é definida pelo fato de que em cada dimensão do seu ser e do seu comportamento ele se encontra, em cada momento, entre duas fronteiras. Essa condição aparece como a estrutura formal de nossa existência, sempre preenchida com diferentes conteúdos nas diferentes províncias, atividades e destinos da vida. Sentimos que cada conteúdo e o valor de cada hora estão entre um mais alto e um mais baixo; cada pensamento entre um mais sábio ou um mais tolo; cada posse entre uma maior e uma menor; cada ato entre uma maior ou menor medida de sentido, adequação e moralidade. Estamos continuamente nos orientando, mesmo quando não empregamos conceitos abstratos, para um “acima de nós” e um “abaixo de nós”, para a direita ou a esquerda, para mais ou para menos, algo mais estrito ou mais frouxo, melhor ou pior. A fronteira, acima e abaixo, é nosso meio de encontrar direção no espaço infinito dos nossos mundos. Junto do fato de que nós temos fronteiras sempre em em toda parte, nós também somos fronteiras. Pois, na medida em que todo conteúdo da vida – cada sentimento, experiência, ato ou pensamento – possui uma intensidade específica, uma tonalidade específica, uma quantidade específica, e uma posição específica em alguma ordem das coisas, procede de cada conteúdo um continuum em duas direções, em direção a seus dois polos; o conteúdo em si mesmo então participa de cada um desses dois continua, que nele colidem e se delimitam (Simmel, 2010Simmel, G. Life as Transcendence. in: The View of Life: Four metaphysical essays with journal aphorisms. University of Chicago Press, 2010 [1918].:1)7 “Man's position in the world is defined by the fact that in every dimension of his being and behavior he finds himself at every moment between two boundaries. This condition appears as the formal structure of our existence, filled always with different contents in life's diverse provinces, activities and destinies. We feel that the content and the value of every hour stands between a higher and a lower; every thought between a wiser and a foolish; every possession between a more extended and a more limited; every deed between a greater and a lesser measure of meaning, adequacy and morality. We are continually orienting ourselves, even when we do not employ abstract concepts, to an “over us” and an “under us”, to a right or a left, to a more or less, a tighter or looser, a better or worse. The boundary, above and below, is our means for finding direction in the infinite space of our worlds. Along with the fact that we have boundaries always and everywhere, also we are boundaries. For insofar as every content of life – every feeling, experience, deed, or thought – possesses a specific intensity, a specific hue, a specific quantity, and a specific position in some order of things, there proceeds from each content a continuum in two directions, toward its two poles; content itself thus participates in each of these two continua, which collide in it and which it delimits” (Simmel, 2010:1). .
Categorias são difíceis de estudar, e sobretudo difíceis de comparar, porque os sentidos que expressam remetem, invariavelmente, a séries de interação situadas, portanto sempre distintas umas das outras. Os sistemas categoriais de cada grupo são seus por um período de tempo variável, ademais. Católicos que ritualizam suas crenças semanalmente tendem a permanecer mais tempo católicos do que os que não o fazem nunca. Categorias, além disso, podem ser elementos causais ou consequências de séries de ação: “gênero”, num exemplo, constrói os casamentos das filhas de Dona Vitória e é construído por eles, ao mesmo tempo. Inspirado por essa reflexão, creio ser possível afirmar que as categorias são, e sempre simultaneamente:
-
uma posição específica em um intervalo de valores naturalizados pela rotina, ou seja, uma classificação segundo parâmetros de valoração que se amparam num ideal situado, de dado grupo, em dados tempo e espaço. Assim vivemos avaliando, valorando todas as situações nas que estamos: das manobras de outros motoristas no trânsito aos desenhos de nossos filhos, as formas pelas quais se fala, as fotografias do Instagram, com base no que temos como parâmetro ideal em cada situação (não se pode esperar que uma criança de 5 anos desenhe melhor do que isso...), em cada época (não se esperaria avaliar como ruim uma ligação por Skype, há 30 anos), em cada estética peculiar a nossas vivências situadas (as fotos amadoras se submetem a avaliações distintas das de um profissional). Expressamos esses julgamentos, ou não os expressamos, a partir de categorias ou silêncios categóricos. A categoria “preto”, por exemplo, ocupa uma posição frente a uma série valorativa das cores, raças e etnias, em diferentes contextos, e Dona Vitória se utiliza dela, em escala significativa de valores aprendidos na socialização, para avaliar sua história de vida. O problema das categorias – e mesmo do silêncio categorial – é, nessa medida, o dos julgamentos de valor (Simmel, 1900, sobretudo parte 1).
-
um intervalo em si de valores, uma escala, uma régua de possibilidades eleita socialmente por dado grupo como adequada para avaliar dada situação, em sua construção histórica e pela agência de seus sujeitos; uma, entre infinitos outros intervalos ou outras escalas passíveis, potencialmente, de oferecer parâmetros pragmáticos àquela ação, para aquela performance cotidiana no mundo, da mais íntima à mais pública delas. Dona Vitória escolheu a raça para colocar no centro da avaliação de sua trajetória de mobilidade. Muitas vezes sujeitos se utilizam de critérios completamente distintos (intervalos categoriais diferentes, séries de significação distintas) para avaliarem uma mesma situação. O desejo homoafetivo, num exemplo, pode ser lido com a escala categorial do amor carnal, ou do amor romântico, ou com a do pecado cristão, ou com a dos direitos da cidadania, a depender do grupo e da situação em pauta. Ou seja, valoração implica escolha da escala de valores, escolha que se faz ao mesmo tempo que se emite o juízo de valor, mas que é escolha formal, não de conteúdo. Escolha do intervalo de conteúdos, portanto da categoria a ser empregada em cada situação, caso a caso.
-
uma definição pragmática de adequação a uma situação, ainda que se caminhe contra valores categóricos. Pode-se odiar o Partido dos Trabalhadores – ou os homossexuais – com todas as forças, mas evitar entrar em polêmicas sobre política ou homossexualidade na família. O intervalo a se tomar como referência de ação remete à adequação: a relevância de se preservar a família é maior, naquele contexto, que a política. No entanto, ao silenciar sobre o PT ou os homossexuais, segue-se produzindo juízos acerca deles, a serem expostos noutro momento. Ou seja, segue-se produzindo classificações, fronteiras. O racismo expresso por Dona Vitória nos leva então a dimensões de análise mais amplas. O projeto de mobilidade social que ela expressa com ele, por ele, amparando-se em uma estética na qual raça é também família, gênero, classe e religião conectados, não é apenas dela. É um projeto categorial que se objetivou em projeto político de nação, na primeira metade do século 20, enquanto ela se formava como sujeito, e se tornou hegemônico desde então. Leitores deste texto, talvez mais os brasileiros brancos, identificarão esse projeto também em suas famílias, como o identifico na minha. Trata-se de um projeto de nação, amparado por inúmeras instituições e construindo-as, ao mesmo tempo: da igreja católica ao kardecismo, da maçonaria ao Rotary Club, das conversas sobre cinema e literatura nas rodas de elite às aulas de francês (talvez agora chinês) de seus filhos, da ética empresarial ao profissionalismo, da lógica cartesiana ao planejamento estratégico. Projeto poderoso em São Paulo, mas também majoritário em toda a região sudeste-sul, e nas classes dominantes de todo o território, talvez para muito além de suas fronteiras. Forte onde há famílias-católicas-trabalhadoras-brancas-ordeiras, hegemônico politicamente onde a racionalidade ocidental moderna se consolidou, no Brasil radicalmente desde a ação estatal de importação de pessoas-sujeitos como Dona Vitória, filhos da imigração italiana, espanhola e alemã. Um projeto estatal, internacional, de nação branca, portanto, que não deixou de existir, ao contrário. Projeto que destinava, violenta e cordialmente, um lugar subalterno a seus “outros”: os pretos, os bugres, os índios e que, agora que eles falam muito mais do que outrora, tem mais dificuldades de fazê-lo cordialmente.
Mais de meio século depois, muito sacrifício vivido, muitas fronteiras de sentido construídas, o projeto bem sucedido da “família” deve ser celebrado pelos vencedores: “tá todo mundo bem de vida, graças a Deus!”. Vitória, enfim, na ordem social que enfrentou, na ordem estatal que construiu. Racismo, assim, muito mais que apenas um atributo da personalidade de Dona Vitória: uma fronteira erigida como plausibilidade para as relações sociais no interior desse projeto-nação. Racismo – e diagramas de gênero, sexualidade, família e religiosidade – então, acionados como práticas cujas balizas hegemônicas se estenderam para além dos brancos; práticas de ordenamento nacional, processos de estado, e no caso brasileiro tanto Estado-ideia como Estado-sistema, na distinção produzida por Abrams (2006)Abrams, P. Notes on the Difficulty of Studying the State. In: Sharma, Aradhana; Gupta, Akhil (org.). The Anthropology of the State: a Reader . Oxford, Blackwell, 2006.. Em sentido weberiano, a fala situada de Dona Vitória, as relações sociais que a tornam plausível – o racismo no diagrama assinalado – e sua inscrição numa ordem legítima, a do projeto classe-raça-nação-família-religião hegemônico no período – estão conectadas no curso mesmo da ação, da performance social, das categorias de diferença por ele objetivados. Constroem-se nesse uso categorial os sentidos e os parâmetros de manutenção da ordem social, apenas reificados, objetivados cotidianamente na institucionalidade estatal.
A fala da avó não foi bem recebida pelas netas não porque não há mais racismo, mas porque essas já cresceram nos anos 1980 e 90, sob outro diagrama das relações raciais. Já não se aceitava o mesmo racismo de outrora, havia variações mais modernas. A miscigenação já havia sido positivada a ponto de compor o centro do projeto nacional, base para a “democracia racial”, que também formou o meu modo de ver o Brasil, em minha formação escolar. O movimento negro já havia crescido em sua oposição a esse projeto, e institucionalizado muitas de suas vitórias; o Hip Hop já havia dado outros passos, compondo ainda outro diagrama de relações raciais no país. Mas longe dos pretos, como deveria ser, Dona Vitória não sabia disso tudo. Em seu cotidiano, nada disso existia – o mundo é do tamanho das nossas relações, o conjunto de espaços entre as pessoas, como afirmou Hannah Arendt. Se não há aborígenes na minha experiência, o que eles pensam simplesmente não aparece entre nós, não existe para mim. Não se podia dizer coisas como as que Dona Vitória dizia, publicamente, naquele ambiente, sem sanções sociais. O cotidiano havia imposto outros parâmetros para aquela situação – em outros lugares, posições, segue sendo possível afirmá-lo –, para as relações raciais naquela família. No entanto, esses parâmetros não eram percebidos, nesse mesmo cotidiano, como conectados a um projeto de mobilidade de classe, gênero e família-religião, de nação, que podia seguir então sendo ritualizado, e segue sendo base da ordem social (branca) que o estado deve respeitar, incentivar, fomentar.
2. O lugar dos pressupostos
Pois embora a fronteira em si seja necessária, cada fronteira específica pode ser ultrapassada, cada fixidez pode ser deslocada, cada fechamento pode ser violado e cada um desses atos, é claro, encontra ou cria uma nova fronteira
(Georg Simmel, 2010Simmel, G. Life as Transcendence. in: The View of Life: Four metaphysical essays with journal aphorisms. University of Chicago Press, 2010 [1918].:2, tradução livre8 8 No original: “For although the boundary as such is necessary, yet every single specific boundary can be stepped over, every fixity can be displaced, every enclosure can be burst, and every such act, of course, finds or creates a new boundary” (Simmel, 2010:2). ).
Junior é um rapaz heterossexual, branco, muito jovem, que compra um salgado em uma lanchonete, e age pragmaticamente como se sequer notasse a identidade de gênero do atendente, negro, homem trans, tão jovem quanto ele. Conversa de outro assunto com o amigo, enquanto pergunta se é de queijo, ou de carne. A interação observável com o atendente, pragmática, é mercantil e impessoal, desprovida de qualquer sentido objetivo quanto à sexualidade. Ele compra o salgado, paga no caixa e sai do ambiente. No entanto, constrói-se ali também gênero e sexualidade, o que se nota explicitamente (embora pudesse ter permanecido implícito9 9 Juízos categóricos, de valor, podem se construir, portanto, ainda que não sejam objetivados imediatamente em palavras e ações. A vida das categorias se processa em cada momento do fluxo da experiência, ainda que silenciosamente (Das, 1999). Lowenkron (2015), propondo-se teoricamente a reflexão muito similar à deste texto – e refletindo inclusive sobre estética e política interseccional – nota como policiais federais trataram com respeito “um” travesti durante seu trabalho, tornando-a alvo de piadas e insultos fora da interação profissional. ) em seguida: quando deixa a interação, Junior pergunta ao amigo, com um sorriso no rosto: você comeria uma mina dessas?10 10 Anotação de cena cotidiana observada em São Carlos, SP, em janeiro de 2017. .
Ambos saem rindo, pela calçada, considerando a possibilidade. Não consigo ouvir o resto da conversa. Junior apreendeu, sem dúvida, um desencontro frente à sua norma de sexualidade, seu ideal categorial marcado pelo binarismo homem-mulher. A estética do atendente confunde seu desejo: o corte de cabelo e as tatuagens tipicamente masculinas associados ao timbre de voz e forma das mãos femininos, bem como ao volume dos seios por debaixo da camisa de gola, provocam uma questão. Essa questão, essa desestabilização é, sem dúvida, um momento político, no sentido de Jacques Rancière:
O desentendimento não diz respeito apenas às palavras. Incide geralmente sobre a própria situação dos que falam. (…) A situação extrema de desentendimento é aquela em que X não vê o objeto comum que Y lhe apresenta porque não entende que os sons emitidos por Y compõem palavras e agenciamentos de palavras semelhantes aos seus. Como veremos, essa situação extrema diz respeito, essencialmente, à política (Rancière, 2005Rancière, J. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo, EXO Experimental, 2005.:13).
Não há como fazer política sem desestabilizar as categorias objetivadas. O autor adverte, entretanto, que situações como essas, de desestabilização categorial, não encerram um final previsível e, sobretudo, não são garantia de virtude política. Não se trata de imaginar que, uma vez desestabilizados (politizados) os a priori, ou seja, as fronteiras da identidade de gênero, ou da categoria “mulher”, estejam abertos os caminhos para a emancipação do binarismo homem-mulher. Evidentemente, nesse momento abre-se a fronteira do pensável sobre gênero, e isso é a política. Mas não há para ele – como em Simmel – evolução, nem teleologia, nem redenção acopladas necessariamente a essa abertura. Trata-se, isso sim, de inserir uma cunha que dá ensejo a uma série de investigações (Dewey, 1927Dewey, J. The Public and its Problems. New York, Holt & Co. 1927., 1938Dewey, J. Logic: The Theory of Inquiry. New York, Holt & Co. 1938.; Menezes, 2015Menezes, P. Entre o “fogo cruzado” e o “campo minado”: uma etnografia do processo de “pacificação” de favelas cariocas. Tese (Doutorado em Sociologia), IESP/UERJ, Rio de Janeiro, 2015.) que, por sua vez, encerram os conflitos (no limite violentos) sobre os conteúdos que caberiam – idealmente – nesse intervalo formal, a categoria. A desestabilização estética inscreve na interação uma questão normativa que não era antes plausível: como deve ser o gênero? Questão normativa que, para o etnógrafo, aparece como questão “êmica”.
A essa desestabilização, como sustenta Rancière, sucede-se uma sequência de argumentações – estéticas, faladas ou não – sobre sua pertinência. Estamos sempre, então, em um intervalo político: de um lado, a forma dessa disputa indica se estamos mais perto do polo democrático (lugar de dialogismo, de argumentação, de intervalos categoriais mais abertos, fronteiras mais móveis, indefinição dos limites conceituais, abertura de fronteiras, hibridismos), ou chegando no polo autoritário, no limite totalitário, no qual os sentidos do mundo estão realmente fixos, pressupostos, dogmaticamente oferecidos a priori. Na microcena aqui visitada, não é difícil notar a posição hoje hegemônica, nessa escala, ou nessa rede topológica de posições, códigos-território (Perlongher, 2008Perlongher, N. O negócio do michê: a prostituição viril em São Paulo. São Paulo, Perseu Abramo, 2008.).
À desestabilização do desejo de Junior, sucede-se uma reação que não remete a qualquer indeterminação de pressupostos. Junior não se pergunta sobre as fronteiras da categoria “mulher”; ele já pressupõe o essencial para a ordem que conhece: o atendente é uma mulher. E, claro, pressupõe que ele e o amigo podem definir, entre homens que são, a posição a ela destinada na ordem das coisas, ou seja, na ordem heteronormativa do desejo, ou seja, na ordem social hegemônica. A noção de ordem – exatamente no sentido weberiano, remetendo à legitimidade e parâmetro para relações e ações sociais – me interessa muito porque é justamente em sua produção que emerge a razão estatal. Processos de ordenamento, neste texto, são também processos de definição do jogo de forças, e inclusive do potencial recurso à violência, que marcam a operação estatal.
A pergunta de Junior é, então, um chamado à ordem do gênero e da sexualidade hegemônicas. É no plano da sexualidade que se apreenderia o gênero, para ele e seu colega: digna de ser mulher desejável, o atendente comporia a parte das mulheres cuja feminilidade adequa-se ao desejo heterossexual; indigna dessa posição, seria mais uma figura rebaixada na ordem classificatória dos sexos. Ela jamais seria um par, entre homens, sustentados esses pressupostos, essas fronteiras da categoria “mulher”. E a zona de indeterminação deve ser combatida (Douglas, 1976Douglas, M. Pureza e Perigo. São Paulo, Perspectiva, 1976.). A pergunta serve, portanto, para uma finalidade seletiva: oferecer a chance de classificá-la na ordem do desejo naturalizado, heteronormativo e hegemônico, ou degredá-la dessa ordem. Mas não questiona a ordem, que se objetiva na pergunta, se refaz, após rápida perturbação. Atualiza-se o ideal hetero (a normatividade, o dever ser apriorístico) não apenas da mulher, mas de toda “mulher de família”, sob o ponto de vista da ordem masculina que enuncia a questão e, sobretudo, também de todo homem, que deve desejar apenas as mulheres.
Homens em construção, e nesse caso em formação, o rapaz e seu amigo discutem se um homem deveria ou não “comer” uma “mina” daquelas, portanto daquele “tipo”. Há, para evitar nova perturbação futura, que se criar um lugar para enquadrá-las, para ler sua existência: elas vêm se multiplicando nos cotidianos, afinal, é preciso saber como agir frente a elas. O debate sobre as margens do estado tem em sua base o problema da legibilidade (Das; Poole, 2004; Das, 2006Das, V. Life and Words. Violence and the Descent into the Ordinary. Berkeley, University of California Press, 2006.). A pergunta direta de Junior, que constrói um tipo de gênero e sexualidade, também procura simultaneamente inscrever esse tipo na ordem heteronormativa mais ampla. Produz critérios de legibilidade de uma ordem de gênero que, também por esse mecanismo cotidiano, se inscreve nos processos de estado11 11 A grafia de estado aparece em minúsculas para reforçar a diferenciação que se busca aqui frente à definição mais usual do Estado apenas como conjunto de instituições públicas ou aparatos ideológicos. A noção aqui será weberiana quando falamos de estado objetivado: uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio legítimo da força em determinado território (Weber, 1967). Estado é, no entanto, também um agente e, como todos, produzido no curso e como resultado de suas ações. A teoria que embasa essa definição objetiva e ordenadora de estado, em Weber, é uma teoria da ação. Abrams (2006) já nos prevenia há tempos sobre a dificuldade imposta pelo estudo do estado, justamente porque ele implica estudar sob o crivo do tema simmeliano da objetivação (estado como ideia, estado como sistema). Vianna (2014) e Souza Lima (2002) já demonstraram como é mais produtivo compreender o que chamam de processos de estado, em movimento, atentando para seu fazer-se progressivo e seus momentos reificados. Das & Poole (2004) já demonstraram que não há centro no estado e que suas operações de legitimação e construção de legibilidade são fundamentais à sua validação em termos legais. (Vianna, 2005). A pergunta de Junior é, então, um reforço da ordem de gênero-estado no plano da legibilidade, da previsibilidade frente a novas possibilidades de perturbação. É preventiva. Sem dúvida, é reação à desestabilização categorial provocada por um movimento emancipatório, de décadas atrás e hoje mais esteticamente radicalizado – composto pelos vários movimentos LGBT e feministas – cujos pressupostos, sobretudo a igualdade de gênero, ou a implosão do gênero, não apenas não são compartilhados hegemonicamente, como não representam mais tendência de crescimento. Mais do que isso, cujos pressupostos são agora lidos como ferindo o conjunto da ordem social. Walter Benjamin já nos advertiu sobre os riscos de tomar-se a história como evolução, ou teleologia. Nada mais claro atualmente. Ultrapassar a fronteira, desestabilizá-la, faz chamá-la novamente a se erigir, como na epígrafe simmeliana.
3. Ordem categorial e violência
Alô? / Pai? / Oi, filha... / É que tem uma pessoa que quer falar com você e.../ Quem quer falar comigo?/ O Clayton quer falar com você./ Quem que é Clayton, que eu não conheço? / É um amigo meu./ Ô filha, você tá me preocupando... o que que aconteceu? Pode falar pro pai... / Eu fiz uns testes de farmácia, e eu fui na ginecologista da Carla, e eu tô grávida dele. / Você tá brincando comigo, é brincadeira.../ Não é... / É... / Não é, pai.../ Sua mãe sabe disso? / Não, ninguém sabe.../ Porra, você tá o que? Você tá grávida? / Eu não tenho culpa! / Como você não tem culpa? Você é dona do seu nariz! E esse camarada aí, eu conheço? / Ele é o Office Boy aqui, ele trabalha com a gente!/ Puta merda! Office-boy, filha?
O diálogo acima abre uma “brincadeira” que foi ao ar pelo Programa Pânico, na Rádio Jovem Pan, no início de 2007.12 12 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AgJdeavBa8g , Acesso em 01 mar. 2017. A cena de interação tem um pouco mais de sete minutos, e é aqui transcrita na íntegra. Do estúdio da rádio, a filha liga para o pai, acompanhada por um ator que interpreta Clayton (nome comum nas periferias brasileiras, mas não nas elites).
Pai! Quer conversar com ele? / Não é conversar, filha... você vai ter a responsabilidade de cuidar dessa criança aí... olha, minha filha... e com esse cafajeste aí? O que que você vai fazer com esse camarada aí, que você falou o nome dele para mim aí? Vocês vão casar? / Num... [o rapaz toma a palavra:] / Alô? Prazer, aqui é o Clayton. [a forma de falar, simulando um rapaz de periferia já faz o pai dar uma bufada, meio rindo, meio desprezando seu interlocutor]. / Pode falar, companheiro! Você quer falar o que comigo?
Inicia-se a apresentação. O pai da moça grávida deve interagir com o rapaz que a engravidou, e que ele já sabe ser um office-boy (profissão entre as mais desvalorizadas em uma empresa). O papel do homem que ordena um mundo em rota de desvio lhe é jogado no colo. A relação passa a ser entre homens. A cena se desenrola, como se notará, seguindo todos os valores estereotipados (idealizados, e ainda assim hegemônicos) do que seria uma “família”, aquela mesma do modelo nuclear urbano pai-mãe-filhos, branca, classe média. Trata-se, portanto, do mesmo quadro de referências que acabamos de vislumbrar, na perspectiva feminina, pela reflexão de Dona Vitória. Mas agora a “família” é visualizada sob ponto de vista estritamente masculino e, como se sabe, nele cabe ao homem prover, no meio urbano sobretudo financeiramente, e proteger, com os meios de que dispõe.
A comicidade do episódio reside na inadequação radical de Clayton a esse modelo, progressivamente anunciada ao pai da moça. Na contramão das virtudes esperadas pelo modelo, rompendo portanto com a normatividade desejável da situação, o estereótipo invocado pelo ator provoca reações muitos instrutivas ao nosso debate. Clayton segue assim sua participação:
Então, eu tenho até a moral de assumir o bagulho, né, que aconteceu... / [pai o interrompe] Bagulho é o teu raaabo! Você é um cafajeste, rapaz... você vai chamar um negóc..., um filho, de bagulho? / Não, senhor... / Olha, o negócio é o seguinte: eu não quero você do lado da minha filha, não, rapaz! Eu não quero você... / Calma, mano... / Mano? Mano é o teu raaabo! Você chama o teu filho de bagulho, e me chama de mano? / Não, mano, ô, desculpa, senhor... deixa eu trocar uma ideia assim com você na moral e na humildade... / Na moral e na humildade? [entonação de deboche]... você come a minha filha, rapaz, engravida a minha filha, e você vem falar comigo 'na humildade?'. Olha, rapaz, você vai casar com a minha filha?
O pai de família questiona as categorias empregadas por Clayton uma a uma, em sequência. Bagulho? Mano? Na moral e na humildade? A sequência delas já demonstra, em segundos, a implausibilidade do casamento. A “família” está fora da circunscrição plausível de um cara como Clayton. Ademais, nota-se de novo que é o fato de “comer” uma mulher – o ato sexual - que se encontra no centro do problema da definição do gênero, da família e da ordem. Ao adentrar o território do pai – porque se há uma mulher, há um território masculino no qual ela circula – e “comer” sua filha, o rapaz desafia a autoridade do pai, portanto a ordem daquele território (Perlongher, 2008Perlongher, N. O negócio do michê: a prostituição viril em São Paulo. São Paulo, Perseu Abramo, 2008.). É instado, então, a enfrentá-lo ou, o que seria mais adequado, performar subalternidade e aceitar a imposição paterna, ainda que ritualmente. O que se vê acima é apenas o início desse enfrentamento, masculino, pelos domínios sobre a fêmea em questão mas, sobretudo, pelas possibilidades de se responsabilizar pela manutenção da ordem familiar hegemônica, ordem social e estatal. Já que ela vai se tornar mãe, uma família nasce com a criança e, como escutamos cotidianamente, “a família é a base de tudo”.
Subjaz ainda à narrativa um debate sobre a dignidade da filha, violada pela virilidade de Clayton.13 13 Laura Moutinho recupera o debate sobre o “modelo mediterrâneo de ‘honra e vergonha’”, no qual “enquanto os homens gozam de ampla permissividade sexual, as mulheres são controladas por uma rígida moral sexual, cuja retidão funciona como o depositário da honra masculina: sob as mulheres recai a vergonha e o controle masculino visando à manutenção da honra familiar” (Moutinho, 2006:100). Apenas o casamento restituiria essa dignidade, demonstrando que ela seria “mulher para casar”, não uma “vagabunda” qualquer.14 14 Simmel já discute essa cisão no mundo feminino na Europa, no início do século 20, a partir do estudo da prostituição. E proclama: “enquanto o casamento existir, a prostituição existirá” (Simmel, 2006:10). Para isso, Clayton deve “assumir” a filha, pedindo-a ao pai em casamento, e provar que pode garantir o seu sustento. A agência dela é absolutamente irrelevante, nessa perspectiva masculina. Clayton então responde se vai ou não se casar com ela, dando sequência ao ritual (cômico para os espectadores, enlouquecedor para seu interlocutor):
Eu não sei... porque eu não tenho condição. Por isso que eu quero trocar uma ideia com o senhor / Não tem condição... você tem condição de ir pro buraco, rapaz! / Você não pode falar assim comigo, tá ligado? / Não tem condição o seu rabo, rapaz! Como é que para engravidar uma pessoa você não tem condições? [exaltado] Você tem condições de sustentar uma família? Você pode alugar uma casa? / Calma, mano! / Você tem condições de sustentar uma família? Você pode sustentar a minha filha, rapaz? / Ó, maluco... / Agora fazer filho você sabe fazer? Seu vagabundo! / Você pode se acalmar, maluco? / Que calma o que? Minha filha vai engravidar de um camarada... [falam ao mesmo tempo, até o rapaz dizer: Eu tenho trabalho, mano!] / Quanto é que você ganha? /
A situação de enfrentamento ganha contornos mais precisos. Não sendo plausível o casamento, cabe o insulto e a explicitação da subalternidade do interlocutor. Ao menos as posições de cada um devem ser esclarecidas. Os xingamentos se alternam entre a conotação que inferioriza o passivo (Misse, 2007Misse, M. O Estigma do passivo sexual: um símbolo de estigma no discurso cotidiano. Vol.3. Rio de Janeiro, Booklink, NECVU/IFCS/ UFRJ; LeMetro/IFCS/UFRJ,. 2007.), à clássica oposição entre trabalhador e vagabundo. Trabalhador, pai de família, heteronormatividade, casamento, ordem de homens brancos. Clayton está do outro lado da fronteira, fora da ordem, ainda que compartilhe os códigos masculinos de sua norma. A pergunta sobre seu salário objetiva a constatação.
Eu to ganhando 250 [o salário mínimo, à época, era de R$350,00]/ Puta que pariu! 250 real? [ele imita a entonação e erra de propósito o plural, emulando o que seria o modo de falar de seu interlocutor]. / Não, mas não é só isso, eu também faço a correria de sábado, eu trabalho no Xerox que é de um brother meu, mano, e daí lá eu tiro cinquenta ‘conto’ / Olha, eu vou falar uma coisa pra você: você vai procurar a sua turma, rapaz! Chama minha filha aí, deixa eu falar com ela, eu não quero mais falar com você, seu bosta!
Os números apenas confirmam o que já se sabia. O pai se nega a continuar a conversa, tudo já está claro. Os signos de pobreza urbana paulista são agenciados, pelo ator, de modo a compor o estereótipo desejado ao quadro: ele é um office-boy, mas também faz bico em uma copiadora, fala como um menino da periferia paulistana nos anos 2000. Seu “trabalho” não é suficiente para que ele seja um “trabalhador”: ele deve “procurar a sua turma”. Já está tudo resolvido. “Eu não quero mais falar com você, seu bosta!”. Mas a insistência no diálogo faz com que a centralidade do gênero, para a manutenção do respeito nessa ordem, se explicite cada vez mais:
Você não é homem! Homem que é homem não faz isso com a filha dos outros / Eu sou homem, sou sujeito homem, tô na correria e eu quero que o senhor me escute! / O que você conseguiu, seu vagabundo? Agora você ganha 250 reais por mês, seu vagabundo! / Eu não ganho 250, mano! Eu ganho 350, maluco! / Você sabe quanto custa sustentar uma família, seu filho da puta!? Chama minha filha aí, eu não quero mais conversar com você não, seu merda! Você é um bosta! Você é um merda! Chama minha filha aí! Seu bosta! Vai se catar, vai à merda! Chama minha filha aí, que eu quero falar com ela! / [ele a chama] Amor...
O que Dona Vitória conseguiu, e o que conseguiu Clayton? A trajetória de conquistas sociais compõe os valores que se objetivam nos sujeitos. Dona Vitória conseguiu sair “lá de baixo” e construir sua família. O pai pergunta: “o que você conseguiu”? Afirma, portanto, que ele não conseguiu o que precisava, para ser “homem”. Fora dessa fronteira, trata-se de “um merda”, “um bosta”, “um vagabundo”, “um filho da puta”! “Homem que é homem não faz isso com a filha dos outros”, ou seja, com outro homem. A ordem se faz entre homens, afinal.
[A filha pede calma:] Calma, calma [o rapaz finge chorar ao fundo. A essa altura, o diálogo é muito estereotipado, mas o pai não percebe a encenação, tomado pela gravidade do que escuta] Ô pai/ [ele então, ouvindo a filha, muda de tom, assume novamente o léxico com que se deve falar com mulheres, nessa chave] Ô filha, pelo amor de Deus, filha... você não pode namorar, com um camarada... / Pai, ele quer conversar com você! / Você não pode sair por aí fazendo sexo desse jeito, filha.../ Você não pode falar assim com o Clayton, pai! / Hã?/ Você pode me escutar, você pode escutar ele? Você está mais nervoso que a gente!! / Ah, eu não posso ficar nervoso? Você só me liga dizendo que tá grávida, que o pai é um Office Boy, ganha 250 reais por mês/ [Clayton retoma a palavra] Calma, amor, fica aqui... / Manda esse cara à merda! Amor!
As categorias mudam, quando o pai fala com a filha. Entre homens, uma ordem (um sistema categorial). Na família, principalmente “quando se fala com mulher”, deve-se maneirar. “Namorar”, “fazer sexo”, o “amor de Deus” são acionados; mas não o amor de Clayton. Reivindica-se a plausibilidade de seu estado de nervos, dada sua posição familiar. É plenamente justificável, para todos os que escutam o programa, que ele esteja alterado. Falando com a filha, retomado seu papel de pai, ele se acalma um pouco, o que permite que Clayton retome a conversa:
Calma mano, deixa eu falar um bagulho pro senhor... / Maaano é o teu pai! Teu filho de égua, teu filho de quenga! Mano é teu pai! Você vai chamar de mano teu pai! Mano! Bagulho! Vai te catar! Você vai ter que aprender a falar para conversar comigo! / Então com licença, senhor.../ Fala, rapaz.../ Eu só quero então uma oportunidade… eu quero um emprego, o senhor pode começar com uma ajuda de custo, tá ligado?
O ator constrói então, com muita habilidade, o quadro categorial público do debate sobre o jovem de periferia no país. De um lado, a “família” constata a priori – puta merda, Office Boy, filha?, e confirma a cada signo da narrativa que prossegue, como eles são de fato “vagabundos”. É explícito, objetivo! De outro lado, os defensores de “direitos humanos” remetem a “questão” do jovem das periferias à “falta de oportunidades”, ao “problema social”. Clayton aparece então, não apenas como o tipo-ideal do Office Boy, do jovem de periferia, como também alguém que incorpora o discurso público que “sustenta esses vagabundos”. O pai então ironiza e, novamente, inscreve gênero e sexualidade no centro da construção da ordem:
Tá, eu vou dar o rabo pra você também... Você quer me comer também? Eu te dou emprego, eu te dou tudo... eu te dou 80% do que eu ganho por mês, tá bom assim? Ajuda de custo! Onde minha filha foi se meter, que que eu fiz de errado? / Não é ajuda... é o que o senhor puder ajudar, tá ligado? Se for R$50 pra começar... eu já tenho um filho, entendeu? / Você tem outro filho? / Tenho... / Com outra mulher? / Sim... mas calma, pelo amor de deus, é o seguinte...
A expressão “filho com outra mulher” lida novamente com a fronteira da categoria “família”. Tudo faz mais e mais sentido. “O que eu fiz de errado?” é indicador inequívoco de que o sujeito não é individual, mas familiar, nessa ordem branca, trabalhadora, familiar, masculina, heteronormativa, pública e hegemônica, assim estatal.
[risadas nervosas] Você tem filho com outra mulher, rapaz? Eu vou dizer uma coisa para você, rapaz... você pega uma nave espacial e some! Você tá pedindo ajuda de custo para mim!? / O que o senhor puder ajudar! Se for R$50, R$100, é no começo... / Agora? Você tá querendo agora? / Agora, eu to precisando do dinheiro, entendeu? / Ah você tá precisando agora? A minha filha tá dizendo que fez o teste hoje e você tá pedindo dinheiro pra mim já? / Por favor! / Você quer uma graninha? Então vamos fazer o seguinte: com calma... eu também sou um cara calmo, minha filha me conhece, vem aqui na minha casa hoje que eu vou dar uma ajuda de custo para você...
Eis o primeiro momento em que, mantido o conflito e quebradas as normas da masculinidade hegemônica, a contundência dos insultos verbais ameaça se desdobrar em violência física. O rapaz deve “sumir”. O pai idealiza uma cena de confrontação física com Clayton. Interessa-me especialmente essa passagem, que dá ensejo a outras de mesmo sentido, com mesmo script da interação: a ordem é ameaçada; o conflito, não resolvido nos marcos discursivos, chama insultos para produzir fronteiras de distinção seguras e, como elas ainda assim não funcionam, justifica-se – claro – a violência.
Tá, eu vou fazer o seguinte: eu já tenho um compromisso, eu vou no jogo do Corinthians, e depois... / Ah, você é corinthiano?/ Sou / Que legal, rapaz... olha, você é um cara legal. Eu to assim abismado.../
Entre homens inscritos na masculinidade hegemônica, em muitos estratos sociais, países e esferas de pertencimento, o futebol não é pouco relevante. E a representação dominante acerca do torcedor do Corinthians é a do favelado, a mais subalternizada socialmente. O ator que interpreta Clayton, nesse momento, radicaliza para levar o pai ao limite. Performa o “mano” das favelas paulistas de modo ainda mais caricato:
Ô, eu sou correria, truta! Olha, eu não quero nada do senhor. Eu vou dar um jeito. Eu vou no xerox, eu tenho o meu camarada lá, o Marcão e o Binoco, que trabalha na pizzaria, então lá eu posso também ser entregador de pizza... / Você sabe quanto custa o aluguel de uma casa?/ É, eu moro, né mano? Numa casa... / Ô manô... você mora onde, mano? [pressupõe-se, seguramente, um território de periferia]/ Eu moro de favor, que eu lavo os pratos lá, pra tia... / Ah, você mora de favor? Olha, você vai pra puta que te pariu! Não me enche o meu saco! Chama a minha filha, eu não quero conversa com você. Se mata, bicho! Se mata! Você... você mora de favor, você não mora em lugar nenhum, e você vai fazer filho na filha dos outros, rapaz? Você é um irresponsável, você é um cretino, você é um idiota! Deus há de castigar você! / Tá bom, chega! / Você não tem onde cair morto! Olha, você não vai chegar perto da minha casa, nem perto da minha filha!!
Sabemos desde Max Weber que é na reivindicação do monopólio de uso da força, em dado território, que reside a imanência estatal. Toda ordem legítima é, no limite, violência. Não é diferente na ordem dos homens brancos que têm a violência de estado a seu favor (apenas a Polícia Militar de São Paulo mata, em média e segundo dados oficiais, duas pessoas – dois Claytons – por dia no estado).15 15 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/03/policia-matou-duas-pessoas-por-dia-nos-2-primeiros-meses-de-2016-em-sp.html. Acesso em: 31 mar. 2016. Deus “há de castigar” – é uma norma na qual se confia – os que violam essa ordem. Radical é perceber que o pai ameaça Clayton e, enquanto o faz, projeta em Clayton o perigo: “você não vai chegar perto da minha casa, nem da minha filha!”. Qualquer semelhança com a repressão estatal às periferias, carregada pela projeção de que elas seriam ameaças violentas à ordem, não terá sido coincidência. Nesses casos, em que tudo está muito evidente, trata-se de uma guerra. E o território (de classe-gênero-raça-religião), concluída a batalha, é de quem vence: “você não vai chegar perto da minha casa, nem da minha filha”. Resta a Clayton zombar dessa ordem, escolher uma outra. O mundo tem muitas possibilidades:
Seguinte: eu não vou mais procurar o senhor; se o senhor quiser me procurar, eu tô no Dogão do Betão, se quiser passa lá e a gente conversa! / Eu vou passar lá sabe pra fazer o que, né? Vai seu merda! Vai te catar! / Eu vou seguir minha correria, maluco, e você que siga a sua! / Chega! Você é exu, rapaz! Você não vale nada! Some! Vai embora! Chama minha filha aí! / Tá aí dado o recado, maluco! Se quiser comer um Dog vai lá! / Maluco o teu rabo, rapaz! Você é um bosta, como é que minha filha vai se envolver com um bosta igual você!!! / Eu sou digno do.../ Maluco é seu pai, seu merda! [a filha intervém: pai? - mas o pai segue falando]: você é atraso de vida! Você é um camarada que tem que ser eliminado da vida! Filha, você me desculpa, mas sinceramente não foi para isso que eu te criei! [nisso começam aplausos no fundo, a filha diz: pai, é brincadeira! Pai, eu te amo! É do Pânico! O pai desliga. Ela diz: ele não vai querer falar comigo nunca mais... risos]
No limite, e como já vimos na situação anterior, não é apenas Clayton em si que tem que “ir para o buraco”, “sumir”, “se matar”. O que está em questão é o seu tipo social, cuja moralidade é legível sem dificuldades – novamente, a questão da legibilidade – pelos signos expressos em sua forma de falar, sua ocupação e seu salário, sua postura frente à “sociedade”, sua virilidade desregrada, que invade o cotidiano tão cuidadosamente resguardado da “família”. Enfim, é a estética de Clayton (que não tem a ver com visual, o que é evidente nesse caso, mas que se plasma, sem dúvida em imagem mental – ninguém imagina Clayton como um branco, com os olhos azuis) que produz sua legibilidade ao “pai de família”: ele sabe com quem está falando. Também é assim o “tirocínio” policial, e o dos seguranças privados. Sabe-se assim, pela experiência vivida, que todo o que for “um bosta igual a você”, “tem que ser eliminado da vida”. A guerra justa dos homens brancos e sua violência legítima, que nossa história nacional e estatal conhecem bem (Pacheco de Oliveira, 2014Pacheco de Oliveira, J. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. Mana 20 (1), Rio de Janeiro, 2014, pp.125-161.; Gomide Freitas, 2014Gomide Freitas, L. O Sal da Guerra. Padre Antônio Vieira e as tópicas teológico-jurídicas na apreciação da guerra justa contra os Índios., Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014.), tem e teve sua base em uma concepção propriamente estética (combinação de elementos os mais diferentes, das mais diferentes categorias) de demarcação dos lugares sociais do inimigo.
Notas finais
O racismo de D. Vitória é evidente, de cara, como o machismo de Junior é explícito na hora em que se enuncia; o elitismo do “pai de família”, igualmente. Mas nem tão evidente é o edifício de gênero, a heteronormatividade, que Dona Vitória constrói enquanto pronuncia seu racismo; ou a imanência estatal que a pergunta de Junior traz consigo. Tampouco evidentes são as construções raciais, de gênero e sexualidade (ao mesmo tempo estatais) inscritas no discurso classista, masculino hegemônico e monetarizado do “pai de família”. Menos ainda notável, no dia a dia, é o fato de que suas palavras solicitam – porque têm a quem recorrer, às forças policiais – que a violência legítima deva ser disposta contra esse tipo social periférico, estereotipado em sua raça-classe-performance, não humano porque um “bosta”, um “merda”, um “filho de égua”, “filho de quenga”, representado por Clayton. Tipo, mais do que isso, contra-humano porque destruidor de lares de homens.16 16 Para um excelente debate sobre o estatuto do humano como comunitário, político, ver Arendt (1951) ou Cavell (2006). “Homem que é homem não faz isso com a filha dos outros”. Menos evidente ainda é a reivindicação de monopólio legítimo dos conteúdos, valores, aptos a preencher o intervalo categorial “mulher”, ou “família”, ou “ordem”, ou “estado”, em cada situação cotidiana como as descritas.
Mesmo que não sejam notáveis, esses conteúdos valorativos também se objetivam em cada uma dessas situações e, portanto, implicam em produção de ordem, estruturação categorial. Se preciso for, como no caso de Clayton, esses chamados subliminares à ordem se traduzem sem dificuldade em reivindicação explícita de violência contra os que ameaçam as fronteiras categoriais, contra os inimigos do gênero, da classe, da raça, da família, da religião, enfim, da lei (Moutinho, 2004Moutinho, L. Condenados pelo desejo? Razões de Estado na África do Sul. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.19, no 56, 2004.), enquanto norma social vivida. A produção de foras-da-lei, ou incriminação, é hoje, sem dúvida, um dos mais potentes propulsores contemporâneos da distinção radical (Hirata, 2010; Feltran, 2014; Mattos, 2016Mattos, C. Uma etnografia da expansão do mundo do crime no rio de janeiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 31 n° 91, 2016.), centro do mecanismo guerreiro que se imiscui nas formas políticas “democráticas” da contemporaneidade, no “racismo de estado” brasileiro (Foucault, 1997Foucault, M. Il faut défendre la societé. Cours au Collège de France [1976]. Paris, Hautes Études, EHESS, Gallimard, Seuil, 1997.; Rui; Feltran, 2015Rui, T.; Feltran, G.S. Guerra e Pacificação: palavras-chave do conflito urbano contemporâneo (Nota do Comitê Migrações e Deslocamentos). Boletim Informativo, no 18/2015-ABA, 01 set. 2015.).
Poderá sempre se argumentar que outros rapazes heterossexuais, outros pais de classe média, outras avós brancas diriam outras coisas, expostos a situações similares. Que as cenas aqui descritas foram selecionadas a dedo, que não há representatividade científica das “opiniões” aqui dispostas. Seguramente. O que é bem mais importante aqui, entretanto, é que o intervalo de conteúdos categoriais que as cenas apresentam, os ideais para a ação e as fronteiras formais dessas categorias, notadas pela performance de seus protagonistas, dão plausibilidade a muitas e muitas outras cenas de interação cotidiana, contemporaneamente, em São Paulo e no Brasil. Esses intervalos de conteúdos plausíveis, assinalados em cada cena, ensejam hoje as categorias hegemônicas no sentido gramsciano, ou seja, inscritas nos pressupostos, no “nexo constitutivo entre cultura e política” (Dagnino, 1994Dagnino, E. Os Movimentos Sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. In: Dagnino, Evelina (org.). Os Anos 90: Política e Sociedade no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1994.) que permite pensar a comunidade nacional imaginada (Anderson, 1991Anderson, B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London, Verso, 1991.). Por isso, não se trata apenas de um modo de pensar das elites de São Paulo, mas da composição das balizas do debate público no Brasil contemporâneo.
Há, nos dias que correm, como nas últimas décadas, representantes desses conteúdos bastante bem assentados nos mundos da economia e da administração estatal. Mas agora eles se mostram explicitamente também nas escolas, faculdades, reuniões de condomínio, no judiciário e sistema de justiça, nas igrejas e associações religiosas, nas polícias e seus grupos de whatsapp, nas famílias brancas (e seus grupos de whatsapp), nos hospitais e suas ações corporativas, nas associações de classe e suas páginas de facebook, sempre marcadas por estética religiosa, familista, elitista. Deus, a família branca e a ordem policial heteronormativa estão de volta aos governos e à cena pública, ocupando posições hegemônicas talvez por bastante tempo, porque têm legitimidade pública de sobra – religiosa, trabalhadora, ordeira – nos cotidianos. Por essa hegemonia, muitas famílias pobres e negras também compartilham coisas parecidas, nos seus grupos de whatsapp.
A tensão nas fronteiras dessas premissas permanece, entretanto. A hegemonia, como também Gramsci nos ensinou, se produz com doses de consentimento ativo e coerção. Construção ativa de consenso por toda a disposição desses aparatos e, quando ainda assim não funciona, violência. Se para produzir a ordem estatal contemporânea de gênero-classe-raça-sexualidade-religião-família-nação é preciso tanta violência – o Brasil teve mais de 60 mil homicídios em 2015 – é sinal de que não há assim tanto consenso categorial. A violência precisa ser chamada, e ela é o limite do autoritarismo.17 17 “O adjetivo ‘autoritário’ e o substantivo Autoritarismo, que dele deriva, empregam-se especificamente em três contextos: a estrutura dos sistemas políticos, as disposições psicológicas a respeito do poder e as ideologias políticas. Na tipologia dos sistemas políticos, são chamados de autoritários os regimes que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos radical o consenso, concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa ou de um só órgão e colocando em posição secundária as instituições representativas. (...) Em sentido psicológico, fala-se de personalidade autoritária quando se quer denotar um tipo de personalidade formada por diversos traços característicos centrados no acoplamento de duas atitudes estreitamente ligadas entre si: de uma parte, a disposição à obediência preocupada com os superiores, incluindo por vezes o obséquio e a adulação para com todos aqueles que detêm a força e o poder; de outra parte, a disposição em tratar com arrogância e desprezo os inferiores hierárquicos e em geral todos aqueles que não têm poder e autoridade. (...) As ideologias autoritárias, enfim, são ideologias que negam de uma maneira mais ou menos decisiva a igualdade dos homens e colocam em destaque o princípio hierárquico, além de propugnarem formas de regimes autoritários e exaltarem amiudadas vezes como virtudes alguns dos componentes da personalidade autoritária” (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 1998:94). A experiência formalmente democrática das últimas décadas, no Brasil, como já ocorreu antes, dá atualmente ensejo a uma reação autoritária.
Tenho escrito, ao longo de alguns anos, sobre os modos de subjetivação social e política do “trabalhador” (Feltran, 2007Feltran, G. S A fronteira do direito: política e violência nas periferias de São Paulo. In: Dagnino, E.; Tatagiba, L. Democracia, sociedade civil e participação. Chapecó, Unochapecó, 2007.), e do “bandido/ladrão” (Feltran 2010, 2011, 2013), bem como do “consumidor/empreendedor” (Feltran, 2014) das periferias de São Paulo. O argumento subjacente a esses trabalhos é que, em todos esses casos, essa subjetivação se faz nos marcos de um conflito fundamental – político, violento, monetarizado – frente às fronteiras de plausibilidade da ordem da comunidade imaginada (a cidade, o mundo público, a nação). Frente a essa ordem idealizada, e no plano conceitual, e ainda que tentem de diferentes maneiras inscrever-se nela, as periferias que eu estudei encontram-se em lugares díspares como os de Clayton, o corredor queniano e o atendente trans, mas lugares igualmente considerados como fora da norma. Da perspectiva dessa comunidade hegemônica, são explicitamente referidos como opostos do que deve ser a família, o trabalho, a classe, o gênero, a raça e a sexualidade desejáveis, normais, certas, naturais. Essa normatividade objetivada, hegemônica, se manifesta cotidianamente na busca por legitimidade política, ordenamento estatal.
Foram tentadas saídas para superar essa fronteira. A saída pela inserção do “trabalhador” não encontrou redenção comunitária; o partido que sustentava esse projeto mais explicitamente deixou de fazê-lo com o tempo e acaba de ser lançado para fora da institucionalidade política. A ampliação do salário mínimo e a forte monetarização dos cotidianos tampouco produziu sujeitos aptos a ter espaço garantido, estável, na divisão de parcelas comunitárias. A “nova classe C” não vingou, se defende como pode frente ao aumento do desemprego e do custo de vida. Os ideais de “revolução” criminal inscritos na perspectiva do Primeiro Comando da Capital crescem hoje mais que ela, e não se espera construção de comunidade nacional em sua narrativa. Até por isso, a expansão evangélica e das forças policiais na política – que representa tão explicitamente essa projeto de ordem nacional – esteja crescendo tanto. A tensão constitutiva de toda fronteira permanece, ao mesmo tempo, produzindo inúmeras sínteses cotidianas, em direções seguramente não unívocas. A radicalização das identidades e lugares de fala, sem dúvida, é parte constitutiva dessa tensão.
Neste texto não procuro, como em minha produção anterior, situar o ponto de vista analítico nas margens do social e do estado. Inverto aqui o que tenho tentado fazer há alguns anos, tomando entretanto a mesma relação de alteridade como objeto. Se eu busco, na produção anterior, traduzir minhas descobertas – os modos marcadamente políticos de pensar e agir dos mundos marginalizados – aos setores que, como eu antes de estudá-los, não os veem, agora a tarefa é simetrizada. A perspectiva aqui reconstruída, como se viu, é a do grupo familiar, racial, social, de classe, de sexualidade e de gênero no qual me formei. Como possivelmente está implícito na minha forma de pensar essas questões – porque é na forma que essas marcas operam mais diretamente – o projeto da família branca e cristã de Dona Vitória, de Júnior e do “pai de família” estudados, no estado de São Paulo, é constitutivo da minha própria trajetória social e formação pessoal. Carregar essas marcas, no entanto, não implica reproduzi-las infinitamente, justamente porque há muitas séries teleológicas de ação social, que operam em cada situação e obedecem a regimes distintos de objetivação cotidiana. O branco de D. Vitória não é, necessariamente, o meu branco. Tampouco essa multiplicidade implica na possibilidade de emancipação absoluta frente àquelas marcas; elas se objetivam novamente a cada interação rápida, cotidiana ou rotineira, com quem ou o que não conheço bem. Seguirei sendo branco como ela.
Um branco é sempre mais que um branco, quando temos uma experiência de vida a seu lado, tempo e convívio, ao longo de semanas, meses ou anos. Para nossos pares, sobretudo, somos sempre mais do que parecemos à primeira vista. Na grande maioria das interações rápidas do mundo social, entretanto, e sobretudo quando há uma alteridade importante, uma fronteira categorial em jogo, muitas vezes somos simplesmente raça, ou gênero, ou classe, ou a estética de suas associações rotineiras, essencializada, objetivada. É mais fácil para o empresário esquecer o nome da moça que serve café, negra, pobre – porque nos cotidianos brasileiros ela é um tipo rotinizado e sem nome – do que como se chama o presidente da empresa. Essa moça olha para os homens brancos em reunião e os acha tão próximos socialmente entre si quanto distantes dela, enquanto eles se distinguem entre si e ignoram sua presença. É mais fácil que ela nunca tenha sabido o nome de um deles, do que de uma de suas companheiras de trabalho. A fronteira que importa mais radicalmente é a que as separa deles, esteticamente, politicamente (Feltran, 2007Feltran, G. S A fronteira do direito: política e violência nas periferias de São Paulo. In: Dagnino, E.; Tatagiba, L. Democracia, sociedade civil e participação. Chapecó, Unochapecó, 2007.). Dentro das fronteiras categoriais, reconhece-se tanto indivíduos, quanto uma comunidade. Olhando por detrás da fronteira, são tipos sociais, abstratos, conceituais, categorizados. São brancos, são “bacanas”, são “playboys”, são “bem de vida”, são “ricos”. “Eles” não são como “eu” e, por consequência, como “nós”.
Nos cotidianos, estamos sempre dentro e fora dessas categorias, queiramos ou não. Por isso o essencialismo estratégico funciona, e não é redentor, na luta dos movimentos de diferenças. Por isso a democracia racial funciona, e tem limites, na luta dos grupos hegemônicos. Ambos funcionam em situações específicas, têm limites em outras cenas situadas, a depender das fronteiras categoriais em jogo e da performance dos atores frente a eles. Mas a performance – estética, política – importa decisivamente na objetivação dessas fronteiras. Às vezes, a depender de como agimos, nos situamos por anos apenas de um lado delas. Num único dia, essa experiência pode mudar.
A tendência cotidiana de objetivação categorial, por rotinização, é assim desafiada, ao final, pelo tempo que satura as rotinas, pela contingência que as ignora. A exposição cotidiana a desentendimentos, conflitos, reivindica uma ordem e, simultaneamente, enseja investigação sobre outras ordens possíveis, plausíveis. Instituições, movimentos, famílias ou pessoas reproduzem seus ciclos por gerações, sendo sempre diferentes em cada ciclo. A favela é, e não é, a nova senzala, a depender da sequência de ações que se considera relevante analisar. A percepção de “avanços” e “retrocessos” da cena política, remete sobretudo a esse movimento da ordem legítima das categorias, objetivada pelo uso rotineiro, que também traz em si o seu verme. A reação autoritária recente, no Brasil, que se faz pela objetivação radical das fronteiras categoriais hegemônicas da diferença, e pela chamada – se necessário violenta – para que permaneçam onde estão, fixando-as, é radical o suficiente para solicitar reação efetiva. A radicalização essencialista de parcelas dos grupos minoritários na cena pública, espaço de conceitos – como a que opõe o PCC, de um lado, e os policiais e evangélicos de outro, por exemplo – é seu efeito mais notável, mais forte, embora haja muitos outros efeitos a compreender. Sabemos que nos cotidianos, entretanto, as práticas de seus grupos os colocam muitas vezes dentro de mesmos limites categoriais. O conflito público que tende a se fortalecer no Brasil, assim, tem hoje consequências imprevisíveis. Mas ao menos sabemos que compreender o mundo não é menos uma questão de gênero ou sexualidade, do que de raça. E que a luta de classes, seguramente, não é o único motor da história.
Em cenário teórico no qual a “emancipação” categorial (de classe, de gênero, de raça) perdeu definitivamente sua validade universal, a política das categorias parece se polarizar entre os limites estéticos da essencialização e da desconstrução, à direita e à esquerda. Ao trazer uma interpretação específica dos últimos trabalhos de Georg Simmel para esse debate, creio ser possível apostar em uma analítica situacional das categorias que contemple essência e desconstrução, mas sobretudo o continuum de lugares entre eles, desafiados pelo tempo, como posições a priori igualmente válidas na estruturação cotidiana, pragmática, da diferença.
Referências bibliográficas
- Abrams, P. Notes on the Difficulty of Studying the State. In: Sharma, Aradhana; Gupta, Akhil (org.). The Anthropology of the State: a Reader . Oxford, Blackwell, 2006.
- Anderson, B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London, Verso, 1991.
- Arendt, H. The Decline of the Nation‐state and the End of the Rights of Man. In: The Origins of Totalitarianism. New York, Schocken Books, 1951.
- Bayat, A. Life as Politics: how ordinary people change the middle east Stanford, Stanford University Press, 2013.
- Blokland, T; Giustozzi, D; Schilling, H. Creating the Unequal City: The Exclusionary Consequences of Everyday Routines in Berlin Berlim, Ashgate, 2016.
- Bobbio, N; Matteucci, N.; Pasquino, G.: Dicionário de Política Brasília, Editora UNB, 3.ed., 1998.
- Brah, A. Diferença, diversidade, diferenciação. cadernos pagu (26), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.329-365.
- Cavell, S. Foreword. In: Das, Veena. Life and words: violence and the descent into the ordinary. California University Press, 2006.
- Cho, S.; Crenshaw, K. W.; Mccall, L. Toward a field of intersectionalities studies: theory, application, praxis. Journal of Women in Culture and Society, vol. 38, no 4, 2013.
- Dagnino, E. Os Movimentos Sociais e a emergência de uma nova noção de cidadania. In: Dagnino, Evelina (org.). Os Anos 90: Política e Sociedade no Brasil. São Paulo, Brasiliense, 1994.
- Das, V.; Poole, D. El Estado y sus márgenes: etnografías comparadas. Buenos Aires, Paidós, 2002.
- Das, V. Life and Words. Violence and the Descent into the Ordinary Berkeley, University of California Press, 2006.
- Das, V. Entre palavras e vidas: entrevista a Michel Misse, Alexandre Werneck, Patrícia Birman, Pedro Paulo Pereira, Gabriel Feltran e Paulo Malvasi, Revista Dilemas, no 5, vol. 2, 2012.
- Das, V. Fronteiras, violência e o trabalho do tempo: alguns temas wittgensteinianos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 14, no 40, 1999.
- Dewey, J. The Public and its Problems New York, Holt & Co. 1927.
- Dewey, J. Logic: The Theory of Inquiry New York, Holt & Co. 1938.
- Douglas, M. Pureza e Perigo São Paulo, Perspectiva, 1976.
- Feltran, G. S. Governo que produz crime, crime que produz governo. o dispositivo de gestão do homicídio em São Paulo (1992-2011). Revista Brasileira de Segurança Pública, vol. 6, 2012, pp.232-255.
- Feltran, G. S Fronteiras de tensão: política e violência nas periferias de São Paulo. São Paulo, Editora da Unesp/CEM, 2011.
- Feltran, G. S Periferias, direito e diferença: notas de uma etnografia urbana. Revista de Antropologia, vol. 53, no 2, 2013.
- Feltran, G. S A fronteira do direito: política e violência nas periferias de São Paulo. In: Dagnino, E.; Tatagiba, L. Democracia, sociedade civil e participação. Chapecó, Unochapecó, 2007.
- Foucault, M. Histoire de la sexualité 1: La volonté de savoir Paris, Gallimard, 1976.
- Foucault, M. Il faut défendre la societé. Cours au Collège de France [1976]. Paris, Hautes Études, EHESS, Gallimard, Seuil, 1997.
- Gomide Freitas, L. O Sal da Guerra. Padre Antônio Vieira e as tópicas teológico-jurídicas na apreciação da guerra justa contra os Índios, Tese (Doutorado em História), Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014.
- Lowenkron, L. Corpos em trânsito e o trânsito dos corpos: a desconstrução do tráfico de pessoas em investigações da Polícia Federal. Paper apresentado na XI Reunión de Antropologia del Mercosur, 2015.
- Machado da Silva, L.A. (org.), Vida sob Cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Nova Fronteira/FAPERJ, 2008.
- Mattos, C. Uma etnografia da expansão do mundo do crime no rio de janeiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 31 n° 91, 2016.
- Menezes, P. Entre o “fogo cruzado” e o “campo minado”: uma etnografia do processo de “pacificação” de favelas cariocas. Tese (Doutorado em Sociologia), IESP/UERJ, Rio de Janeiro, 2015.
- Misse, M. O Estigma do passivo sexual: um símbolo de estigma no discurso cotidiano Vol.3. Rio de Janeiro, Booklink, NECVU/IFCS/ UFRJ; LeMetro/IFCS/UFRJ,. 2007.
- Moutinho, L. Diferenças e desigualdades negociadas: raça, sexualidade e gênero em produções acadêmicas recentes. cadernos pagu (42), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2014, pp. 201-248.
- Moutinho, L. Negociando com a adversidade: reflexões sobre “raça”, (homos)sexualidade e desigualdade social no Rio de desigualdade social no Rio de Janeiro. Estudos Feministas, Florianópolis, 14(1): 336. 2006.
- Moutinho, L. Condenados pelo desejo? Razões de Estado na África do Sul. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol.19, no 56, 2004.
- Pacheco de Oliveira, J. Pacificação e tutela militar na gestão de populações e territórios. Mana 20 (1), Rio de Janeiro, 2014, pp.125-161.
- Perlongher, N. O negócio do michê: a prostituição viril em São Paulo. São Paulo, Perseu Abramo, 2008.
- Piscitelli, A. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, vol.11, no 2, 2008.
- Rancière, J. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo, EXO Experimental, 2005.
- Rancière, J. La mésentente: politique et philosophie Galilée. 1995.
- Rancière, J. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo Horizonte, Autêntica, 2002.
- Rui, T.; Feltran, G.S. Guerra e Pacificação: palavras-chave do conflito urbano contemporâneo (Nota do Comitê Migrações e Deslocamentos). Boletim Informativo, no 18/2015-ABA, 01 set. 2015.
- Souza Lima, A. C. (org.). Gestar e Gerir: estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2002. (Coleção Antropologia da Política)
- Simmel, G. Philosophy of Money London, Routledge, 1990 [1900].
- Simmel, G. Algumas reflexões sobre a prostituição no presente e no futuro. In: Simmel, G. Filosofia do Amor São Paulo, Martins Fontes, 2006 [1892].
- Simmel, G. Life as Transcendence. in: The View of Life: Four metaphysical essays with journal aphorisms University of Chicago Press, 2010 [1918].
- Vianna, A. Violência, Estado e Gênero: Entre corpos e corpus entrecruzados. In: Souza Lima, Antonio Carlos de; Garcia-Acosta, Virgia (org.). Margens da Violência: Subsídios ao estudo do problema da violência nos contextos mexicano e brasileiro Brasília, ABA, 2014, vol. 1, pp.209-237.
- Weber, M. A política como vocação. In: Gerth, H.H. e C.Wright Mills (orgs.). Max Weber: Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1967.
- Werneck, Alexandre. A Desculpa: As Circunstâncias e a Moral das Relações Sociais Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012.
- Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. De la traducción castellana. Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
-
1
Pois seria no plano da experiência vivida, não da explicação abstrata, que se produziria a emergência do sentido das categorias. A inspiração para esse debate vem de Rancière (2002)Rancière, J. O mestre ignorante: cinco lições sobre a emancipação intelectual. Belo Horizonte, Autêntica, 2002. e Wittgenstein (1986Wittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. De la traducción castellana. Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1986., em especial, parágrafos 98-106).
-
2
“Por un lado es claro que toda oración de nuestro lenguaje 'está en orden tal como está'. Es decir, que no aspiramos a un ideal: Como si nuestras oraciones ordinarias, vagas, aún no tuviesen un sentido totalmente irreprochable y hubiera primero que construir un lenguaje perfecto. Por otro lado parece claro: Donde hay sentido tiene que haber orden perfecto. Así es que tiene que hallarse el orden perfecto incluso en la oración más vaga” (Wittgenstein, 1986, pWittgenstein, L. Investigaciones filosóficas. De la traducción castellana. Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1986., parágrafo 98:44)”. A discussão seria longa, desde o debate entre Durkheim e William James, passando pelos pragmatistas e interacionistas. Para uma retomada dessa discussão, ver Werneck (2012)Werneck, Alexandre. A Desculpa: As Circunstâncias e a Moral das Relações Sociais. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2012..
-
3
Para um debate sobre rotina como estrutura, ver Machado da Silva (2008)Machado da Silva, L.A. (org.), Vida sob Cerco: violência e rotina nas favelas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Nova Fronteira/FAPERJ, 2008.. Das (2002, 2006, 2012) trabalha detidamente sobre a relevância da vida cotidiana na construção da distinção, assim como Bayat (2013)Bayat, A. Life as Politics: how ordinary people change the middle east. Stanford, Stanford University Press, 2013.; Blokland, Giustozzi e Schilling (2016).
-
4
Procurei tratar do problema da diferença, especificamente inscrito nas noções pública e êmica de “periferia” em Feltran (2013Feltran, G. S Periferias, direito e diferença: notas de uma etnografia urbana. Revista de Antropologia, vol. 53, no 2, 2013.; 2014).
-
5
Laura Moutinho (2006Moutinho, L. Negociando com a adversidade: reflexões sobre “raça”, (homos)sexualidade e desigualdade social no Rio de desigualdade social no Rio de Janeiro. Estudos Feministas, Florianópolis, 14(1): 336. 2006.:112) analisa três trajetórias de homens negros e pobres no Rio de Janeiro e, em síntese preliminar, verifica que a “homofobia se sobrepõe ao racismo” no plano mais amplo de negociação da diferença no qual seus personagens se inscrevem. Seguindo a pista da autora, aqui também se nota como uma categoria da diferença se objetiva mais centralmente que outra na definição das situações, o que não implica que outras categorias não se objetivem simultaneamente, mutuamente. Para uma excelente revisão do debate sobre interseccionalities, ver Piscitelli (2008)Piscitelli, A. Interseccionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes brasileiras. Sociedade e Cultura, vol.11, no 2, 2008., ou Cho, Crenshaw & McCall (2013).
-
6
Estética e política, aqui, são pensadas nos marcos do que propôs Jacques Rancière (2005Rancière, J. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo, EXO Experimental, 2005.:18): “Tais formas revelam-se comprometidas com um certo regime da política, um regime de indeterminação de identidades, de deslegitimação das posições de palavra, de desregulação das partilhas do espaço e do tempo. Esse regime estético da política é propriamente a democracia, o regime das assembleias de artesãos, das leis escritas intangíveis e da instituição teatral”.
-
“Man's position in the world is defined by the fact that in every dimension of his being and behavior he finds himself at every moment between two boundaries. This condition appears as the formal structure of our existence, filled always with different contents in life's diverse provinces, activities and destinies. We feel that the content and the value of every hour stands between a higher and a lower; every thought between a wiser and a foolish; every possession between a more extended and a more limited; every deed between a greater and a lesser measure of meaning, adequacy and morality. We are continually orienting ourselves, even when we do not employ abstract concepts, to an “over us” and an “under us”, to a right or a left, to a more or less, a tighter or looser, a better or worse. The boundary, above and below, is our means for finding direction in the infinite space of our worlds. Along with the fact that we have boundaries always and everywhere, also we are boundaries. For insofar as every content of life – every feeling, experience, deed, or thought – possesses a specific intensity, a specific hue, a specific quantity, and a specific position in some order of things, there proceeds from each content a continuum in two directions, toward its two poles; content itself thus participates in each of these two continua, which collide in it and which it delimits” (Simmel, 2010Simmel, G. Life as Transcendence. in: The View of Life: Four metaphysical essays with journal aphorisms. University of Chicago Press, 2010 [1918].:1).
-
8
No original: “For although the boundary as such is necessary, yet every single specific boundary can be stepped over, every fixity can be displaced, every enclosure can be burst, and every such act, of course, finds or creates a new boundary” (Simmel, 2010Simmel, G. Life as Transcendence. in: The View of Life: Four metaphysical essays with journal aphorisms. University of Chicago Press, 2010 [1918].:2).
-
9
Juízos categóricos, de valor, podem se construir, portanto, ainda que não sejam objetivados imediatamente em palavras e ações. A vida das categorias se processa em cada momento do fluxo da experiência, ainda que silenciosamente (Das, 1999). Lowenkron (2015)Lowenkron, L. Corpos em trânsito e o trânsito dos corpos: a desconstrução do tráfico de pessoas em investigações da Polícia Federal. Paper apresentado na XI Reunión de Antropologia del Mercosur, 2015., propondo-se teoricamente a reflexão muito similar à deste texto – e refletindo inclusive sobre estética e política interseccional – nota como policiais federais trataram com respeito “um” travesti durante seu trabalho, tornando-a alvo de piadas e insultos fora da interação profissional.
-
10
Anotação de cena cotidiana observada em São Carlos, SP, em janeiro de 2017.
-
11
A grafia de estado aparece em minúsculas para reforçar a diferenciação que se busca aqui frente à definição mais usual do Estado apenas como conjunto de instituições públicas ou aparatos ideológicos. A noção aqui será weberiana quando falamos de estado objetivado: uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio legítimo da força em determinado território (Weber, 1967)Weber, M. A política como vocação. In: Gerth, H.H. e C.Wright Mills (orgs.). Max Weber: Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro, Livros Técnicos e Científicos, 1967.. Estado é, no entanto, também um agente e, como todos, produzido no curso e como resultado de suas ações. A teoria que embasa essa definição objetiva e ordenadora de estado, em Weber, é uma teoria da ação. Abrams (2006)Abrams, P. Notes on the Difficulty of Studying the State. In: Sharma, Aradhana; Gupta, Akhil (org.). The Anthropology of the State: a Reader . Oxford, Blackwell, 2006. já nos prevenia há tempos sobre a dificuldade imposta pelo estudo do estado, justamente porque ele implica estudar sob o crivo do tema simmeliano da objetivação (estado como ideia, estado como sistema). Vianna (2014)Vianna, A. Violência, Estado e Gênero: Entre corpos e corpus entrecruzados. In: Souza Lima, Antonio Carlos de; Garcia-Acosta, Virgia (org.). Margens da Violência: Subsídios ao estudo do problema da violência nos contextos mexicano e brasileiro. Brasília, ABA, 2014, vol. 1, pp.209-237. e Souza Lima (2002)Souza Lima, A. C. (org.). Gestar e Gerir: estudos para uma antropologia da administração pública no Brasil. Rio de Janeiro, Relume Dumará, 2002. (Coleção Antropologia da Política) já demonstraram como é mais produtivo compreender o que chamam de processos de estado, em movimento, atentando para seu fazer-se progressivo e seus momentos reificados. Das & Poole (2004) já demonstraram que não há centro no estado e que suas operações de legitimação e construção de legibilidade são fundamentais à sua validação em termos legais.
-
12
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AgJdeavBa8g , Acesso em 01 mar. 2017. A cena de interação tem um pouco mais de sete minutos, e é aqui transcrita na íntegra.
-
13
Laura Moutinho recupera o debate sobre o “modelo mediterrâneo de ‘honra e vergonha’”, no qual “enquanto os homens gozam de ampla permissividade sexual, as mulheres são controladas por uma rígida moral sexual, cuja retidão funciona como o depositário da honra masculina: sob as mulheres recai a vergonha e o controle masculino visando à manutenção da honra familiar” (Moutinho, 2006:100).
-
14
Simmel já discute essa cisão no mundo feminino na Europa, no início do século 20, a partir do estudo da prostituição. E proclama: “enquanto o casamento existir, a prostituição existirá” (Simmel, 2006:10).
- 15
-
16
Para um excelente debate sobre o estatuto do humano como comunitário, político, ver Arendt (1951)Arendt, H. The Decline of the Nation‐state and the End of the Rights of Man. In: The Origins of Totalitarianism. New York, Schocken Books, 1951. ou Cavell (2006)Cavell, S. Foreword. In: Das, Veena. Life and words: violence and the descent into the ordinary. California University Press, 2006..
-
17
“O adjetivo ‘autoritário’ e o substantivo Autoritarismo, que dele deriva, empregam-se especificamente em três contextos: a estrutura dos sistemas políticos, as disposições psicológicas a respeito do poder e as ideologias políticas. Na tipologia dos sistemas políticos, são chamados de autoritários os regimes que privilegiam a autoridade governamental e diminuem de forma mais ou menos radical o consenso, concentrando o poder político nas mãos de uma só pessoa ou de um só órgão e colocando em posição secundária as instituições representativas. (...) Em sentido psicológico, fala-se de personalidade autoritária quando se quer denotar um tipo de personalidade formada por diversos traços característicos centrados no acoplamento de duas atitudes estreitamente ligadas entre si: de uma parte, a disposição à obediência preocupada com os superiores, incluindo por vezes o obséquio e a adulação para com todos aqueles que detêm a força e o poder; de outra parte, a disposição em tratar com arrogância e desprezo os inferiores hierárquicos e em geral todos aqueles que não têm poder e autoridade. (...) As ideologias autoritárias, enfim, são ideologias que negam de uma maneira mais ou menos decisiva a igualdade dos homens e colocam em destaque o princípio hierárquico, além de propugnarem formas de regimes autoritários e exaltarem amiudadas vezes como virtudes alguns dos componentes da personalidade autoritária” (Bobbio; Matteucci; Pasquino, 1998:94).
-
*
Gostaria de agradecer o apoio da FAPESP através do processo 2013/07616-7 (CEPID Centro de Estudos da Metrópole). Há dez anos, Mirian Adelman estimulou-me a publicar essas reflexões, que ainda hoje carecem de maturidade. Sinto-me grato por isso. Deborah Fromm discutiu comigo cada um desses pensamentos, enquanto vivíamos nosso cotidiano. Iara e Léo Shimbo Feltran me despertaram a atenção para inúmeras situações que envolvem a diferença. Lúcia Shimbo e Ronaldo Almeida me fizeram pensar sobre o que está aqui discutido. Adriana Vianna, Talja Blokland, Carla Mattos, Jorge Leite Jr., AbdouMaliq Simone, Evandro Cruz, Laura Lowenkron e Janaína Maldonado discutiram partes desse texto generosamente. Agradeço ainda a Iara Belelli, Regina Facchini, Adriana Piscitelli, Natália Padovani e Isadora França pela interlocução desses anos.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
2017
Histórico
-
Recebido
13 Abr 2017 -
Aceito
5 Nov 2017