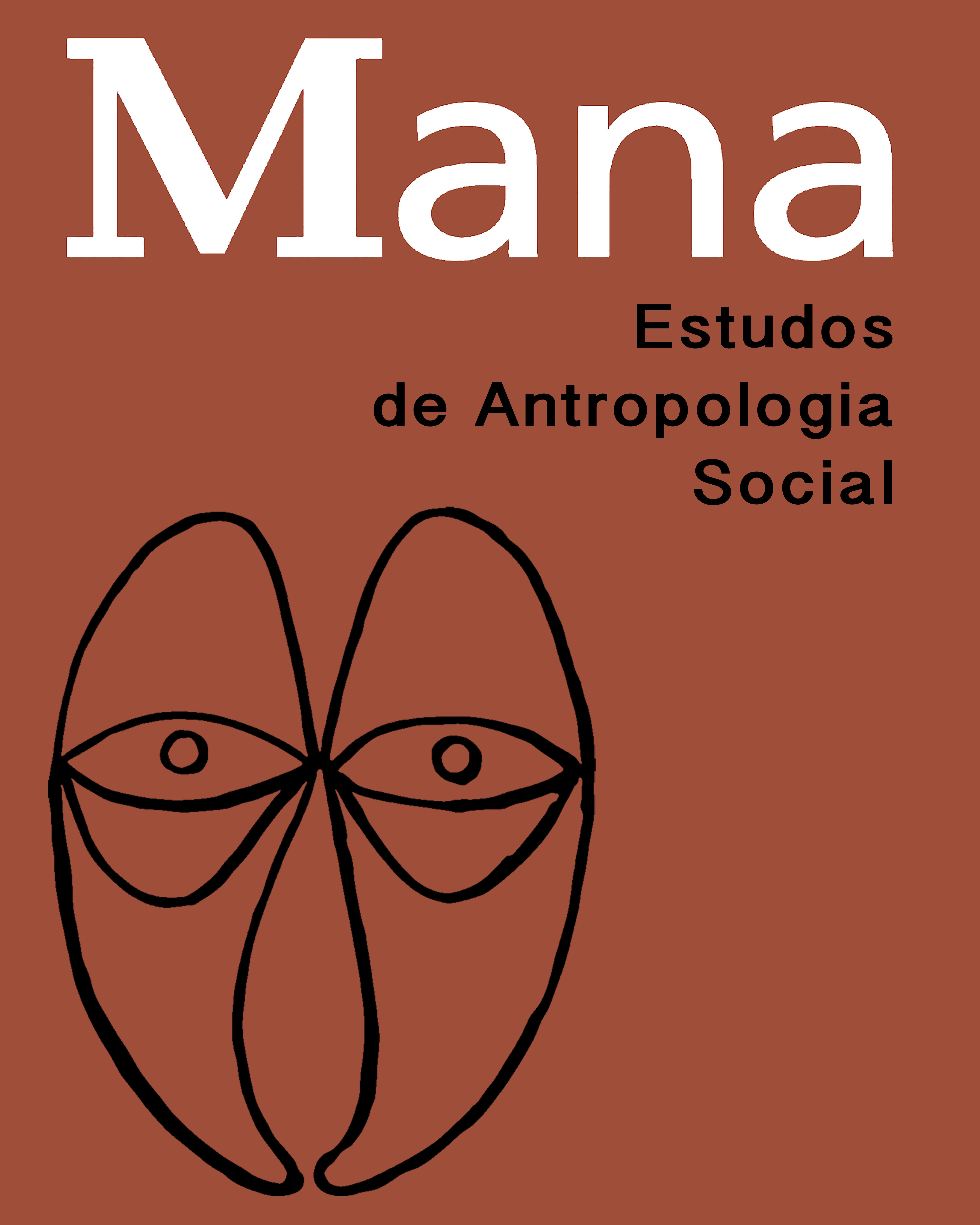RESENHAS
GOLDMAN, Marcio. 1999. Alguma Antropologia. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 178 pp.
Pablo Semán
Doutor, CONICET/Universidad Nacional de General San Martín
Os treze artigos que compõem Alguma Antropologia recobrem mais de vinte anos de uma trajetória diversificada em objetos e perspectivas. Por isso, cada um deles apresenta rendimentos próprios e específicos. O conjunto, todavia, encadeia um argumento em três núcleos: com a discussão das noções de pessoa e de antropologia das sociedades complexas, propõe-se a antropologia como história; com a discussão de certos conceitos-chave nas obras de Deleuze, Descartes, Foucault, Lévi-Strauss, e com a identificação de algumas falácias no raciocínio antropológico, elaboram-se as determinações do objeto da antropologia; o estudo dos processos eleitorais, o terceiro núcleo, será um campo de verificação das concepções e debates precedentes. Examinarei cada um desses núcleos na ordem aqui enunciada.
No artigo "Uma Categoria do Pensamento Antropológico: A Noção de Pessoa", afirma-se: "É curioso que os antropólogos aceitem a idéia de um individualismo ocidental e, ao mesmo tempo, dediquem todos os seus esforços a encontrar entre nós representações que não obedecem a esse modelo supostamente dominante" (:25). Tal contradição depende da fusão indevida entre a necessária desnaturalização do agente e sua concepção em termos da interação indivíduo-sociedade. Esta, subentendendo o indivíduo em vez de colocá-lo entre parênteses, duplica o imaginário ocidental que pretende interpretar. Todavia, preservar a problematização do agente não significa buscar, em uma regressão ad infinitum, o efeito de ideologias constituintes, mas investigar o plano de articulação contingente de regras, discursos e objetos no qual as ideologias são derivadas e se tornam eficazes. É por isso que se sustenta que "às teorias que buscam captar a substância de ideologias englobantes, seria preciso opor uma analítica dos processos imanentes às múltiplas práticas" (:35). Abrindo-se à contingência, torna-se central o elemento histórico que o autor tenta realçar na prática e no objeto da antropologia. Essa operação se prolonga e esclarece com o giro que se efetua em "Antropologia Contemporânea, Sociedades Complexas ". Sociedade "complexa" é uma noção onipresente na prática dos antropólogos, que a opõe às "simples", objeto próprio da antropologia, ou a define delimitando as condições e aspirações do exercício antropológico nas sociedades ocidentais modernas. Em ambos os casos, a antropologia clássica e moderna, corpo de saberes derivados da constância de uma prática, consagra essa constância na ilusão de correspondência com um objeto. Este constitui especularmente a antropologia como ciência dos objetos de pequena escala. A alternativa é pensar que qualquer sociedade é, ontológica e epistemologicamente, história. Não se trata de apostar no conhecimento idiográfico ou de afiliar-se ao pólo romântico da tensão constitutiva das ciências sociais, mas sim de distinguir entre o plano da geração social das instituições e o plano que configura o conjunto delas, já instituídas, privilegiando o primeiro. A distinção refere-se a lógicas de análise diferentes e, se é óbvio que a geração social de instituições recicla o previamente cristalizado, também o é que o dispositivo não é a mesma coisa que o já disposto, que não será a mesma coisa estudar criadores e criaturas. Essa noção, tributária de Veyne e Foucault, entende como história o estudo e a produção de tramas que se tecem aquém da necessidade, do tempo e do espaço transcendentais. Na interseção de temporalidades conflitivas que nunca serão a História e de espaços precariamente fixados que nunca serão substância, são decididas e condensadas as singularidades: ponto de articulação de proveniências e emergências, terreno de engendramento dos universais que esses mecanismos de geração tornam sempre precários. Assim a antropologia, prática transversal às ciências formalizadas, transita em âmbito "sublunar" que não implica miniaturização, mas delimitação de um plano em que operam variáveis diferentes das que reinam no campo em que os objetos são engendrados.
Essa mudança de perspectiva, por sua vez, conduz a uma reflexão crucial sobre o método. O objeto "sociedades complexas" ilumina um problema que, já presente nas sociedades simples, era ativamente desconhecido pela suposição de que estas últimas eram passíveis de cognições totais. A complexidade de qualquer forma social se impõe a qualquer pretensão de registro total, associada ilusoriamente às aspirações da longa duração das observações e à suposta imediatez das mesmas. Não se trata de abandonar o rigor da etnografia: o treinamento próprio da disciplina não caduca, mas suas aspirações se vêem dimensionadas pela elucidação da ontologia do social que estava sendo encoberta.
A problematização dessa ontologia se realiza de duas maneiras. Primeiro, como crítica das maneiras de conhecer; segundo, como elaboração das determinações teóricas do objeto. A primeira, desenvolvida em "Como se Faz um Grande Divisor?" (em co-autoria com Tânia Stolze), assinala um produto contraditório das análises antropológicas: a recusa à oposição "nós/eles" desconhece a lógica que a sustenta e a reproduz em outros níveis ao postular as separações entre, por exemplo, mundos holistas e individualistas, oralidade e escrita. Em primeiro lugar, é preciso entender que a pergunta "o que, em geral, nos aproxima e/ou distingue dos outros" (:85), supõe a realidade de unidades e diferenças cuja existência deveria ser objeto de suspeita. Em segundo lugar, chama-se a atenção para as condições lógicas sob as quais se realizam os raciocínios comparativos. Como demonstram os autores, um verdadeiro arsenal de falácias pesa sobre os raciocínios antropológicos e volta a colocar perguntas generalizantes sem necessidade de enunciá-las.
A segunda linha de análise é desenvolvida em "As Lentes de Descartes, Razão e Cultura", "Lévi-Strauss e os Sentidos da História" e "Objetivação e Subjetivação no Último Foucault". Nestes artigos, explora-se a idéia da antropologia como história através do exame de obras-chave da antropologia e filosofia. De Lévi-Strauss extrai-se uma lição precisa, pertinente e muitas vezes eludida com a acusação de anti-historicismo. Se a História é nosso mito, é porque essa tem sido nossa forma de reagir diante da temporalidade. Esse raciocínio sustenta, mais do que uma relativização do saber histórico, a afirmação da existência de historicidades diferentes junto a distintas formas de refletir sobre elas e de constituí-las. Assim, a separação da historicidade em relação à História e às filosofias da história não significa negação da primeira mas sim, pelo contrário, abertura de um "caminho para uma reflexão histórica afastada das armadilhas de todos os evolucionismos e de todas as ideologias celebratórias" (:63). Se a intervenção de Lévi-Strauss depura o acontecimento das pré-noções que buscam cingi-lo, o recurso a Foucault pode ser introduzido na tentativa de conceitualizá-lo positivamente. Assim, ressalta da leitura deste último a raridade dos fatos humanos, sua emergência em um espaço de transformação e fratura, sua derivação no cruzamento de campos de saber e de normatividade e de formas de subjetividade. Neste cruzamento, o resultante não é o único possível, porque toda raridade está habitada de politicidade, de capacidade de decidir, em um campo de possibilidades, por uma atualização que bem poderia ter sido outra. Essa raridade implica, ademais, o privilégio da singularidade (como combinatória local de linhas de força difusas à distância de qualquer universalidade e não como diferença irredutível), em vez da oscilação entre os particularismos insondáveis e as universalizações etnocêntricas.
Essas posições têm conseqüências para a definição e a prática do relativismo. De um ponto de vista epistemológico, trata-se de compreender que a subordinação da semelhança à diferença não supõe uma diferença metafísica, absoluta e transcendente. Castoriadis, entre outros, entendia a instituição mais como verbo que como substantivo. Da mesma maneira, deve entender-se a diferença: como trabalho de constituição de certas singularidades a partir de outras, como movimento de distinção a ser estabelecido a cada momento. Para esse objetivo, o criticismo cartesiano constitui um modelo de pensamento mais próximo da antropologia do que se poderia supor: mais do que ceticismo cognitivo ou moral, é a atitude que permite tornar histórico e singular o que se apresenta como natural e universal. Do ponto de vista ético, as conseqüências não são menos importantes. O relativismo emergente não surge do contraste entre parâmetros absolutamente outros opostos a parâmetros absolutamente próprios. Equivale a contrastar o que em um campo de possibilidades é atualizado com outras atualizações desse mesmo campo, a assumir que essas possibilidades poderiam comutar-se. A interpretação de Clastres por Deleuze esclarece esse ponto: se as sociedades primitivas não eram sem Estado e sim caracterizadas pela presença de poderosos mecanismos contra o Estado, é preciso admitir que essas sociedades registravam o funcionamento de mecanismos de Estado que foram inibidos, e que as nossas não bloquearam por completo os mecanismos que a ele resistem. Isto é mais que um exercício epistemológico: há um valor ético que se agrega ao epistemológico e o subordina. Vejamos em detalhe: a antropologia como história, como ciência de dispositivos, encontra nos outros "primitivos", mais que o passado de nossa contemporaneidade, atualizações, modos de operar a contingência, que abalam a segurança com que praticamos nossas vidas. Na alteridade pode patentizar-se o que nossas sociedades escondem com relativo sucesso, o naturalizado ao longo de batalhas cujo rastro se perdeu, o que aprendemos a deixar de tomar em conta. Se é isto o que está em jogo na relação com a alteridade, é justo concluir que a atividade da antropologia ganha sentido ético contribuindo para relativizar atualizações ligadas à politicidade que decide nossa contingência histórica.
A análise das práticas eleitorais, enfocando eleitores e candidatos, constitui um excelente campo de teste para as intenções declaradas e elaboradas nos artigos já citados. Tomemos como exemplo um dos artigos que desenvolvem essa perspectiva. "Teorias, Representações e Práticas" mostra que a suposta irracionalidade dos eleitores se dissolve se contemplamos simultaneamente a dispersão, a integração instável e a hierarquização de motivações que eles realizam (motivações que incluem uma leitura do jogo eleitoral diferente da que sustentam descritiva ou normativamente as análises científicas). Mas essa demonstração tem um valor suplementar. Ali onde os desenvolvimentos dominantes da análise política supõem correspondências entre sujeitos e partidos, ou constatam desajustes que incitam a esperar evolução ou a demandar pedagogia, se empreende uma análise que, como se se tratasse do lado escuro da lua, dá conta do ponto cego dos conceitos da sociologia eleitoral e da ciência política. Ali onde essas disciplinas projetam o cidadão, o partido, a racionalidade do votante, a análise histórica desnaturaliza o eleitor e recupera o fato de que é uma "ortopedia social" o que, no quadro das liberdades da era do individualismo, o institui. Mais que isso, torna manifesto que os atos dos eleitores não constituem o resultado do encontro entre essa institucionalização e uma tábula rasa, mas um ponto de encontro conflitivo entre lógicas culturais em disputa em uma equação cujos termos são incertos, mas que, certamente, excluem o partido, o cidadão e a eleição, como formas universais e como termos unívocos.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
30 Ago 2001 -
Data do Fascículo
Abr 2001