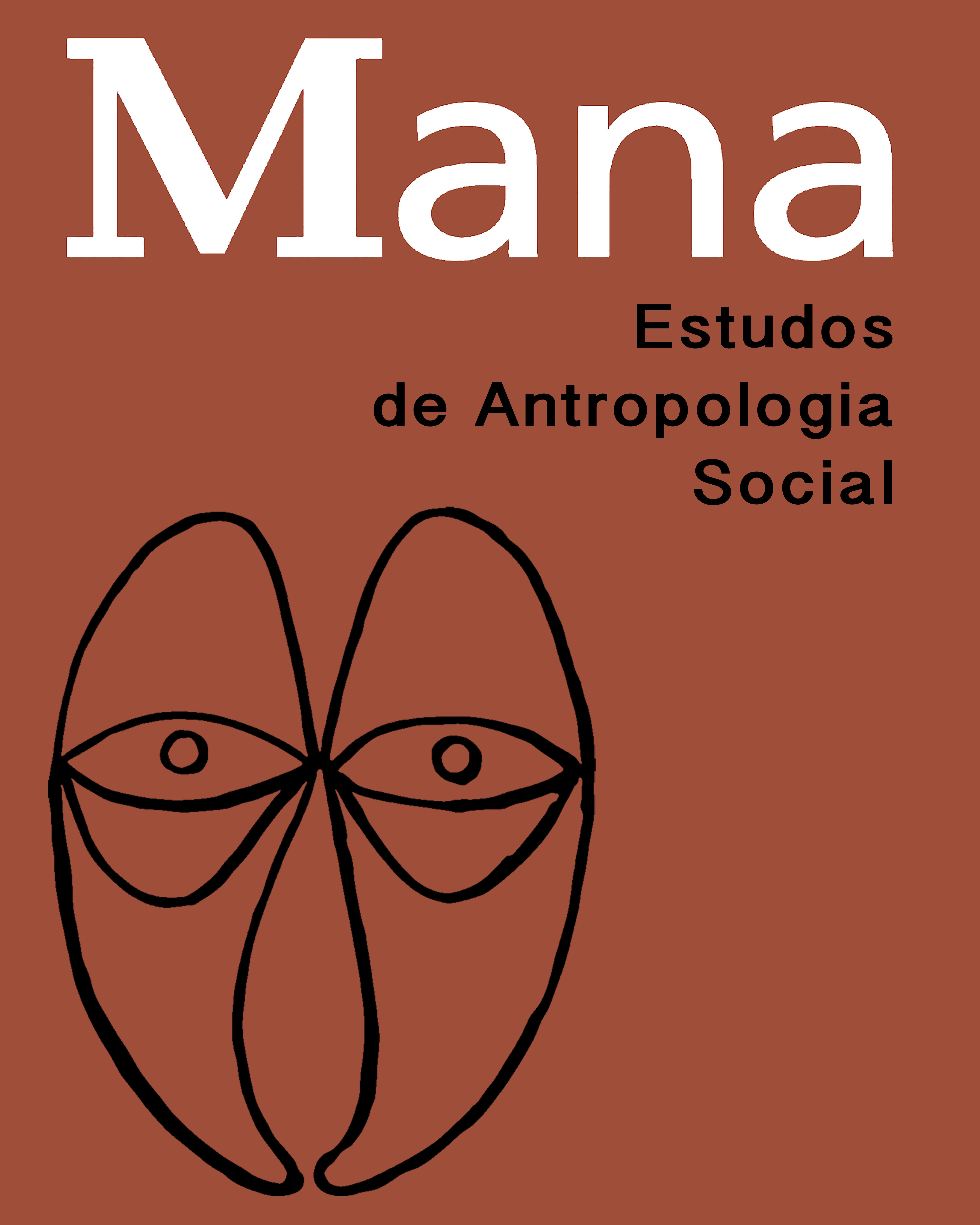Resumos
Este artigo examina as condições de felicidade (estendendo-se o sentido que tem este conceito na teorias dos atos de fala) da enunciação religiosa. Por analogia com a fala de amor, a fala religiosa é aqui vista como um discurso transformativo antes que informativo, isto é, um discurso que fala-faz (de) quem fala antes que do mundo, mas que, ao fazê-lo/ falá-lo, muda o mundo em que se fala tanto quanto aqueles que nele falam. Comparam-se em seguida as condições de verdade do discurso da ciência, fundadas no estabelecimento de longas cadeias mediativas entre a palavra e o mundo, e as condições de felicidade da fala religiosa, fala de proximidade, radicada em uma "imediação". A partir de uma análise ilustrativa de alguns modos de experimentação das imagens (visuais) religiosas na arte, conclui-se então com uma recusa da dupla redução caricatural da religião à crença e da ciência ao conhecimento.
Religião; Ciência; Discurso; Imagem; Crença; Conhecimento
This article examines the felicity conditions (extending the sense assumed by this concept in speech act theory) of religious statements. In an analogy with love talk, religious talk is seen here as transformative discourse rather than as informative discourse that is, a discourse which speaks of whoever is uttering it rather than of the world, but which, in doing it, alters the world of which it speaks just as much as those who speak in it. The article then compares the truth conditions of scientific discourse, founded on the establishment of long mediating chains between word and world, and the felicity conditions of religious speech, a close-range speech rooted in 'imediation'. Providing an illustrative analysis of various ways of experiencing religious (visual) images in art, the article concludes by refusing the doubly stereotypic reduction of religion to belief and science to knowledge.
Religion; Science; Discourse; Image; Belief; Knowledge
ARTIGOS
"Não congelarás a imagem", ou: como não desentender o debate ciência-religião* * No espírito do argumento do autor, o texto aqui publicado mantém sua forma original de conferência. A versão original em inglês será publicada em 2005 pela Oxford University Press, na coletânea Science, Religion, and the Human Experience (organizada por James D. Proctor), que traz os textos da série homônima de conferências ministradas na Universidade da Califórnia em Santa Bárbara em 2001-2003 (ver http://www.srhe.ucsb.edu/).
Bruno Latour
Bruno Latour é professor do Centre de Sociologie de l'Inovation da École Nationale Supérieure des Mines, Paris
RESUMO
Este artigo examina as condições de felicidade (estendendo-se o sentido que tem este conceito na teorias dos atos de fala) da enunciação religiosa. Por analogia com a fala de amor, a fala religiosa é aqui vista como um discurso transformativo antes que informativo, isto é, um discurso que fala-faz (de) quem fala antes que do mundo, mas que, ao fazê-lo/ falá-lo, muda o mundo em que se fala tanto quanto aqueles que nele falam. Comparam-se em seguida as condições de verdade do discurso da ciência, fundadas no estabelecimento de longas cadeias mediativas entre a palavra e o mundo, e as condições de felicidade da fala religiosa, fala de proximidade, radicada em uma "imediação". A partir de uma análise ilustrativa de alguns modos de experimentação das imagens (visuais) religiosas na arte, conclui-se então com uma recusa da dupla redução caricatural da religião à crença e da ciência ao conhecimento.
Palavras-chave: Religião, Ciência, Discurso, Imagem, Crença, Conhecimento
ABSTRACT
This article examines the felicity conditions (extending the sense assumed by this concept in speech act theory) of religious statements. In an analogy with love talk, religious talk is seen here as transformative discourse rather than as informative discourse that is, a discourse which speaks of whoever is uttering it rather than of the world, but which, in doing it, alters the world of which it speaks just as much as those who speak in it. The article then compares the truth conditions of scientific discourse, founded on the establishment of long mediating chains between word and world, and the felicity conditions of religious speech, a close-range speech rooted in 'imediation'. Providing an illustrative analysis of various ways of experiencing religious (visual) images in art, the article concludes by refusing the doubly stereotypic reduction of religion to belief and science to knowledge.
Key-words: Religion, Science, Discourse, Image, Belief, Knowledge
Não tenho nenhuma autoridade para falar a vocês sobre religião e experiência, já que não sou pregador, nem teólogo, nem filósofo da religião nem mesmo uma pessoa particularmente piedosa. Felizmente, religião pode não ter a ver com autoridade e força, mas com experimentação, hesitação e fraqueza. Se é assim, então devo começar colocando-me numa posição da mais extrema fraqueza. William James, no final de sua obra-prima, As variedades da experiência religiosa, diz que sua forma de pragmatismo ostenta um rótulo "grosseiro", o do pluralismo. Eu deveria antes afirmar, na abertura desta palestra, que o rótulo que trago ou devo dizer: o estigma? é ainda mais grosseiro: fui criado como católico e, para agravar, nem mesmo posso falar com meus filhos sobre o que faço na Igreja aos domingos. Quero hoje começar daí, dessa impossibilidade de falar com meus amigos e meus próprios familiares sobre uma religião importante para mim; quero começar esta conferência a partir dessa hesitação, dessa fraqueza, esse gaguejar, essa deficiência da fala. Religião, na minha tradição, no canto do mundo de onde venho, tornou-se algo impossível de enunciar1 1 Para uma extensão desse argumento e de sua demonstração prática, ver Latour 2002. Transitei em torno dessas questões em Latour 1998 e em Latour 2002. Para uma investigação sobre o pano de fundo da comparação entre ciência e religião, ver Latour e Weibel 2002. .
Mas não creio que me seria dado falar apenas a partir de tal posição enfraquecida e negativa. Também tenho uma base um pouco mais firme, que me estimula a abordar esse assunto dificílimo. Se ousei responder ao convite para lhes falar, é porque também venho trabalhando há muitos anos em interpretações da prática científica que são um pouco diferentes daquelas comumente oferecidas (Latour 1999). É claro que numa discussão sobre "ciência e religião" qualquer mudança, ainda que pequena, ainda que controversa, no modo como a ciência é considerada terá conseqüências nas várias formas de se falar de religião. A produção de verdades em ciência, religião, direito, política, tecnologia, economia etc. é o que venho estudando ao longo dos anos, em meu programa orientado para uma antropologia do mundo moderno (ou melhor, não-moderno). O que procuro fazer são comparações sistemáticas entre o que chamei de 'regimes de enunciação'; e se há no que segue algum argumento técnico, é dessa antropologia comparativa bem idiossincrática que ele provém. Fazendo uma frouxa analogia com a teoria dos atos de fala, eu diria que tenho me dedicado a mapear as 'condições de felicidade' das diversas atividades que, em nossas culturas, são capazes de suscitar a verdade.
Devo notar, de início, que não tenciono fazer uma crítica da religião. Que a verdade esteja em questão na ciência assim como na religião é algo que, para mim, não está em questão. Ao contrário do que alguns de vocês que conheçam (muito provavelmente de oitiva) meu trabalho sobre a ciência poderiam ser levados a pensar, estou interessado principalmente nas condições práticas do 'dizer a verdade', e não em denunciar a religião após haver contestado é o que se diz as alegações da ciência. Se já era necessário levar a ciência a sério sem lhe dar qualquer espécie de 'explicação social', mais necessária ainda é tal postura perante a religião: denúncias e desmistificações simplesmente passam ao largo da questão. De fato, meu problema é justamente como se pôr em sintonia com as condições de felicidade de diversos tipos de 'geradores de verdades'.
E agora, ao trabalho. Não creio que seja possível falar de religião sem deixar clara a forma de discurso mais conforme ao seu tipo de 'predicação'. A religião, ao menos na tradição a partir da qual falarei a saber, a cristã , é um modo de pregar, de predicar, de enunciar a verdade eis por que tenho de imitar na escrita a situação em que uma prédica é feita do púlpito. Esta é literalmente, tecnicamente, teologicamente uma forma de dar a notícia, de trazer a 'boa nova', o que em grego se chamou 'evangelios'. Portanto, não vou falar da religião em geral, como se existisse algum domínio, assunto ou problema universal chamado 'religião' que permitisse comparar divindades, rituais e crenças, da Papua-Nova Guiné a Meca, da Ilha de Páscoa à cidade do Vaticano. Um fiel tem uma só religião, como uma criança tem uma só mãe. Não há ponto de vista a partir do qual seria possível comparar diferentes religiões e ao mesmo tempo falar de modo religioso. Como vêem, meu propósito não é falar sobre religião, mas falar-lhes religiosamente, ao menos de modo suficientemente religioso para que possamos começar a analisar as condições de felicidade desse ato de fala, demonstrando in vivo, esta noite e nesta sala, que tipo de 'condição de verdade' ele exige. Nosso tema envolve experiência, e é uma experiência o que pretendo produzir.
Falar a respeito da religião, falar a partir da religião
Argumentarei que a religião mais uma vez, dentro da tradição que é a minha não fala a respeito de ou sobre coisas, mas de dentro de ou a partir de coisas, entidades, agências, situações, substâncias, relações, experiências chame-se como se quiser que são altamente sensíveis aos modos como se fala delas. Estes são, por assim dizer, modos da fala, formas de discurso. João diria: o Verbo, Verbum, ou Logos. Ou bem eles portam o espírito mesmo a partir do qual falam, e deles se poderá então dizer que são verdadeiros, fiéis, comprovados, experimentados, autoevidentes, ou não transportam, não reproduzem, não realizam, não transmitem aquilo a partir do qual falam, e então, imediatamente e sem nenhuma inércia, começam a mentir, a se desfazer, a deixar de ter qualquer referência, qualquer fundamento. Esses modos da fala ou bem evocam o espírito que pronunciam, e são verdadeiros, ou não o fazem, e são menos que falsos são simplesmente irrelevantes, parasíticos.
Nada há de extravagante, espiritual ou misterioso em começar a descrever dessa forma a fala religiosa. Estamos habituados a outras formas de discurso perfeitamente mundanas, que tampouco são avaliadas segundo sua correspondência com algum estado de coisas, e sim pela qualidade da interação que produzem graças à forma como são pronunciadas. Essa experiência e é experiência o que desejamos aqui compartilhar é comum no domínio do 'discurso amoroso' e, mais amplamente, nas relações pessoais. "Você me ama?" não é julgado pela originalidade da frase não há outra que seja mais batida, banal, trivial, tediosa, recauchutada , mas sim pela transformação que opera no ouvinte e também no falante. Conversa de informação é uma coisa, e de transformação, outra. Quando aquelas palavras são proferidas, algo acontece. Um pequeno deslocamento na marcha ordinária das coisas. Uma diminuta mudança na cadência do tempo. A pessoa tem de se decidir, se envolver; talvez comprometer-se irreversivelmente. Não nos submetemos aqui apenas a uma experiência entre outras, mas a uma alteração da pulsação e do andamento da experiência: 'kairos' é a palavra que os gregos teriam empregado para designar esse sentido novo de urgência.
Antes de voltar à fala religiosa, e a fim de deslocar nossas formas usuais de enquadrar aquelas frases portadoras de amor, gostaria de destacar duas características da experiência que todos temos assim espero ao pronunciá-las ou escutá-las.
A primeira é que tais frases não são julgadas por seu conteúdo, pelo número de bytes que possuem, mas por suas capacidades performativas. São avaliadas principalmente por essa única interrogação: produzem elas aquilo de que falam, a saber, amantes? (Não estou aqui tão interessado no amor como eros, que geralmente demanda pouca conversa, mas sim, para usar a distinção tradicional, no amor como agapè). Na injunção do amor, a atenção é redirecionada, não para o conteúdo da mensagem, mas para o continente mesmo, a feitura da pessoa. Não se tenta decifrá-las, a tais injunções, como se transportassem uma mensagem, mas como se transformassem os mensageiros eles próprios. E no entanto, seria errado dizer que elas não têm valor de verdade, apenas por não possuírem conteúdo informacional. Ao contrário: embora não se possam marcar p's e q's para calcular a tabela de verdade dessas afirmações, é muito importante questão a que dedicamos muitas noites e dias decidir se são verazes, fiéis, enganadoras, superficiais, ou simplesmente obscuras e vagas. Principalmente porque semelhantes injunções não estão de forma alguma limitadas ao meio exclusivo da fala: sorrisos, suspiros, silêncios, abraços, gestos, olhares, posturas, tudo pode transmitir o argumento sim, é de um argumento que se trata, e muito bem amarrado, por sinal. Mas é um argumento peculiar, que é em grande parte julgado conforme o tom com que é proferido, sua tonalidade. O amor é feito de silogismos cujas premissas são pessoas. Não estamos prontos a dar um braço e uma perna para sermos capazes de distinguir verdade de falsidade nessa estranha fala que transporta pessoas, e não informação? Se há algum tipo de envolvimento que seja partilhado por todos na detecção da verdade, na construção da confiança, é certamente essa capacidade de distinguir entre o discurso amoroso correto e o errado. Assim, uma das condições de felicidade que podemos prontamente reconhecer é a existência de formas de discurso novamente, não se trata apenas de linguagem que sejam capazes de transmitir pessoas e não informação: seja porque produzem em parte as pessoas, ou porque novos estados 'novos começos', como diria William James se produzem nas pessoas a quem esse tipo de fala se dirige.
A segunda característica que desejo destacar na performance específica e totalmente banal da conversa de amor é que suas frases parecem capazes de mudar o modo de se habitar o espaço e o fluir do tempo. Mais uma vez, essa experiência é tão disseminada que poderíamos deixar passar despercebida sua originalidade estratégica. Apesar de muito comum, ela não é tão freqüentemente descrita salvo em alguns filmes de Ingmar Bergman, ou em alguns romances peculiares porque 'eros', o eros hollywoodiano, costuma ocupar a cena com tanto estardalhaço, que a sutil dinâmica da 'agapè' raramente é notada. Mas penso que podemos partilhar da mesma experiência em grau suficiente para capitalizá-la mais adiante em proveito de minha análise: o que vocês diriam que lhes acontece quando alguém se dirige a vocês numa fala de amor? De modo muito simples, eu diria: vocês estavam longe, estão agora mais perto e os amantes parecem possuir um tesouro próprio de sabedoria que responde pelas sutis razões dessas alternações entre distância e proximidade. Essa mudança radical diz respeito não só ao espaço mas também ao tempo: até agora você sentia um destino inflexível, uma fatalidade, como um fluxo que vinha diretamente do passado até um presente cada vez menor, levando à inércia, ao tédio, talvez à morte; e repentinamente uma palavra, uma atitude, uma indagação, uma postura, um não-sei-quê, e o tempo volta a fluir, como se ele começasse no presente e tivesse a capacidade de abrir o futuro e reinterpretar o passado: surge uma possibilidade, o destino é superado, você respira, possui um dom, tem esperança, ganha movimento. Assim como a palavra 'perto' capta as novas formas com que o espaço é agora habitado, a palavra 'presente' parece agora ser aquela com que melhor se pode resumir o que acontece: você está novamente, renovadamente presente diante do outro, e vice-versa. E é claro que ambos podem num instante voltar a estar ausentes e distantes por isso é que o coração bate tão rápido, por isso a exaltação e ao mesmo tempo a ansiedade: uma palavra mal proferida, um gesto inoportuno, um movimento errado e, instantaneamente, o terrível sentimento de estranhamento e distância, esse desânimo que vem com a inexorável passagem do tempo, todo aquele enfado desaba sobre você mais uma vez, intolerável, mortal. De repente, nenhum dos dois entende o que faz diante do outro: é simplesmente insuportável.
Não é, de fato, uma comuníssima experiência, essa que acabo de esboçar a que se tem na crise amorosa, dos dois lados dessa diferença ínfima entre o que é próximo e presente e o que é distante e ausente? Essa diferença tão vivamente marcada por uma nuança, fina como uma lâmina, ao mesmo tempo sutil e corpulenta: uma diferença entre falar certo e falar errado daquilo que nos faz sensíveis à presença do outro?
Se agora tomamos conjuntamente os dois aspectos da interpelação amorosa, tal como acabo de esboçar, podemos nos convencer de que existe uma forma de discurso que: a) tem a ver com a transformação daqueles que trocam a mensagem, e não com o transporte de informação; b) é sensível ao tom com que a mensagem é proferida: tão sensível, que faz passar, por uma crise decisiva, da distância à proximidade, e de volta ao estranhamento; da ausência à presença, e de volta, lamentavelmente, à primeira. Dessa maneira de falar, direi que ela "re-presenta", num dos muitos significados literais da palavra: ela apresenta novamente o que é estar presente naquilo que se fala. E essa maneira de falar: c) é a um só tempo completamente comum, extremamente complexa, e não muito freqüentemente descrita em detalhes.
Como redirecionar a atenção?
É dessa atmosfera que desejo me valer para novamente começar minha prédica, visto que falar mais que isso: pregar religião é o que vou tentar esta noite, para produzir experiência comum num grau que permita sua posterior análise. Quero usar o modelo da interpelação de amor para nos reabituar a uma forma de discurso religioso que foi perdida, incapaz de voltar a representar-se a si mesma, de se repetir, devido à passagem da religião à crença (voltarei a isso adiante). Sabemos que a competência que procuramos é comum, que ela é sutil, que não costuma ser descrita, que facilmente aparece e desaparece, fala a verdade para depois desmentir. As condições de felicidade de minha própria fala estão, assim, claramente delineadas: falharei se não puder produzir, promover, eduzir aquilo de que se trata. Ou bem posso re-presentá-lo novamente a vocês, isto é, apresentá-lo em sua presença de outrora renovada, e então o digo em verdade; ou não o faço, e ainda que pronuncie as mesmas palavras, o que falo é em vão, minto a vocês, não passo de um tambor vazio, ressoando no vazio.
Três palavras, portanto, são importantes para cumprir meu contrato de risco com vocês: 'próximo', 'presente', 'transformação'. Para ter alguma chance de reencenar a maneira correta de falar de coisas de religião na tradição da Palavra, que é aquela em que cresci , preciso redirecionar a atenção de vocês, afastando-a de assuntos e domínios supostamente pertencentes à religião, mas que poderiam tornar vocês indiferentes ou hostis à minha maneira de falar. Devemos resistir a duas tentações, para que meu argumento tenha a chance de representar alguma coisa e seja, assim, verdadeiro. A primeira tentação seria abandonar a 'transformação' necessária para que este ato de fala funcione; a segunda seria desviar nossa atenção para o distante, em vez do próximo e presente.
Para dizê-lo de modo simples, porém, espero, não demasiado provocativo: se, quando ouvem falar de religião, vocês dirigem a atenção para o longínquo, o superior, o sobrenatural, o infinito, o distante, o transcendente, o misterioso, o nebuloso, o sublime, o eterno, é bem provável que não tenham sequer começado a ser sensíveis àquilo em que a fala religiosa tenta envolvê-los. Lembrem-se de que estou usando o modelo da interpelação amorosa, para falar de sentenças distintas mas que têm o mesmo espírito, o mesmo regime de enunciação. Assim como as sentenças amorosas devem transformar os ouvintes, tornando-os próximos e presentes, sob pena de serem nulas, os modos de 'falar religião' devem trazer o ouvinte e também o falante à mesma proximidade e ao mesmo sentido renovado de presença sob pena de serem menos que insignificantes. Se vocês são atraídos pelo distante, em assuntos religiosos, pelo que é longínquo, cifrado e misterioso, então estão perdidos, vocês literalmente se foram, não estão comigo, permanecem ausentes em espírito. Tornam mentira aquilo que lhes dou a oportunidade de ouvir novamente esta noite. Vocês entendem o que estou dizendo? O modo como o digo? A tradição da Palavra que coloco em movimento mais uma vez?
A primeira tentativa de redirecionar a atenção de vocês é torná-los conscientes da armadilha do que chamarei comunicação de duplo-clique. Se se recorre a um marco de referência desse tipo para avaliar a qualidade do discurso religioso, ele fica sem sentido, vazio, tedioso, repetitivo, exatamente como o discurso amoroso não-correspondido, e pela mesma razão: pois como este, aquele não traz qualquer mensagem, mas transporta, transforma os próprios emissores e receptores ou, do contrário, falhará. E no entanto, tal é, precisamente, o padrão de referência da comunicação de duplo-clique: ela quer que acreditemos que é factível transportar, sem a menor deformação, uma informação precisa qualquer sobre situações e coisas que não estão presentes aqui. Nos casos mais ordinários, quando as pessoas perguntam "isso é verdade?", "isso corresponde a alguma situação de fato?", o que têm em mente é uma espécie de ato ou comando como o duplo-clique, que permita acesso imediato à informação; e é nisso que se dão mal, porque é assim também que se falseiam os modos de falar que nos são mais caros. O discurso religioso, ao contrário, busca justamente frustrar a tendência ao duplo-clique, desviá-la, rompê-la, subvertê-la, torná-la impossível. A fala religiosa, como a fala amorosa, quer garantir que até mesmo os mais alheados, os mais distantes observadores voltem a estar atentos, para que não percam seu tempo a ignorar o chamado à conversão. Desapontar, em primeiro lugar. Desapontar: "Que tem essa geração, que pede um sinal? Nenhum sinal lhe será dado!".
Transporte de informação sem deformação não é, não é de modo algum uma das condições de felicidade do discurso religioso. Quando a Virgem ouve a saudação do anjo Gabriel assim narra a venerável história , ela se transforma tão completamente, que engravida e passa a trazer dentro de si o Salvador, que por sua agência se faz novamente presente no mundo. Esse não é certamente um caso de comunicação de duplo-clique! Por outro lado, perguntar "quem foi Maria", verificar se era ou não 'realmente' virgem, imaginar de que modo se impregnou de raios espermáticos, resolver se Gabriel era macho ou fêmea, estas são perguntas duplo-clique. Elas querem que vocês abandonem o tempo presente e que desviem a atenção do significado da história venerável. Tais questões não são ímpias, nem mesmo irracionais são apenas um erro de categorização. São tão irrelevantes, que nem é necessário dar-se o trabalho de respondê-las. Não porque conduzam a mistérios inconcebíveis, mas porque, com sua idiotice, produzem mistérios desinteressantes e absolutamente inúteis. Elas devem ser quebradas, interrompidas, anuladas, ridicularizadas e mostrarei adiante de que modo essa interrupção foi sistematicamente buscada numa das tradições iconográficas do Ocidente cristão. A única maneira de compreender histórias como a da Anunciação é repeti-las, isto é, pronunciar novamente a Palavra que produziu no ouvinte o mesmo efeito, a saber, a que impregna vocês, pois é a vocês que me dirijo esta noite, é a vocês que estou saudando, com a mesma dádiva, o mesmo presente da renovada presença. Esta noite, sou para vocês Gabriel! ou vocês não entendem uma palavra do que digo, e então sou uma fraude...
Tarefa nada fácil sei que fracassarei, estou fadado a fracassar: ao falar, desafio todas as probabilidades. Porém minha questão é outra, porque é um pouco mais analítica: quero que percebam o tipo de erro de categorização graças ao qual se produz a crença na crença. Ou bem repito a primeira história, porque volto a narrá-la da mesma forma eficiente como foi originalmente narrada, ou engancho uma estúpida questão referencial em uma relativa à transferência de mensagens entre emissor e receptor, cometendo assim mais que uma estupidez grosseira: estarei desse modo falsificando a venerável história, distorcendo-a até torná-la irreconhecível. Paradoxalmente, ao formatar as questões no leito de Procrusto da transferência de informação, visando chegar ao significado 'exato' da história, eu a estarei deformando, transformando-a monstruosamente numa crença absurda, no tipo de crença que faz a religião vergar-se sob seu peso, até cair no monturo do obscurantismo do passado. O valor de verdade daquelas histórias depende de nós, nesta noite, exatamente como a história inteira de dois amantes depende da habilidade que tiverem em novamente re-encenar a injunção do amor no minuto em que procuram um ao outro, no instante mais escuro de seu estranhamento: se falham tempo presente , foi em vão tempo pretérito que viveram tanto tempo juntos.
Notem que não me referi àquelas frases como irracionais nem desarrazoadas, como se a religião tivesse de algum modo de ser protegida contra uma extensão irrelevante da racionalidade. Quando Ludwig Wittgenstein escreve: "Quero dizer 'eles não tratam disso como uma questão de razoabilidade'. Quem quer que leia as Epístolas verá que está dito: não só não é razoável, mas é loucura. Não só não é razoável, mas não pretende sê-lo"2 2 Citado por Putnam em sua conferência ["The Depths and Shallows of Experience", conferência de Hillary Putnam, parte da mesma série em que esta de Latour foi pronunciada]. , ele parece desentender profundamente o tipo de loucura sobre a qual escreve o Evangelho. Longe de não pretender ser razoável, o Evangelho simplesmente aciona o mesmo raciocínio comum e o aplica a uma espécie diferente de situação: não tenta alcançar estados de coisas distantes, mas trazer os interlocutores para mais perto daquilo que dizem um do outro. A suposição de que, para além do conhecimento racional daquilo que é palpável, também exista uma espécie de crença desarrazoada e respeitável em coisas por demais distantes para serem palpáveis me parece uma forma muito condescendente de tolerância. Prefiro dizer que a racionalidade nunca é excessiva, que a ciência não conhece fronteiras, e que não há absolutamente nada misterioso, ou mesmo não-razoável, no discurso religioso salvo os mistérios artificiais, produzidos, como acabei de dizer, pelas indagações erradas, feitas no modo errado, na tonalidade errada, às argumentações perfeitamente razoáveis que se aplicam à feitura de pessoas. Apoderar-se de algo na fala e ser apanhado pela fala de alguém podem ser coisas bem diferentes, mas para ambas é necessária a mesma bagagem básica mental, moral, psicológica e cognitiva.
Mais precisamente, devemos distinguir duas formas de mistério: uma referida a modos comuns, complexos, sutis de enunciar a fala amorosa para que esta seja eficaz e é com efeito um mistério de aptidão, um jeito especial, como jogar bem tênis, como boa poesia, boa filosofia, talvez alguma espécie de "maluquice" , e outra totalmente artificial, provocada pelo indevido curto-circuito entre dois regimes de enunciação heterogêneos. A confusão entre os dois mistérios é que faz a voz tremer quando as pessoas falam de religião, seja por não desejarem nenhum mistério ótimo, não há mesmo nenhum! ou por acreditarem que estão diante de alguma mensagem críptica que precisam decodificar através de uma chave esotérica que só os iniciados dominam. Mas não há nada oculto, nada cifrado, nada esotérico, nada extravagante na fala religiosa: ela é apenas difícil de realizar, apenas um pouco sutil, demanda exercício, requer grande cuidado, pode salvar os que a enunciam. Confundir a fala que transforma os mensageiros com a que transporta mensagens crípticas ou não não é prova de racionalidade, é simplesmente uma idiotice, agravada pela impiedade. É tão idiota como, digamos, uma mulher que, quando o companheiro lhe pede que repita se o ama ou não, simplesmente aperte a tecla play de um gravador para provar que, cinco anos antes, havia de fato dito "eu te amo, querido". Isso poderia com efeito provar algo, mas não, decerto, que ela tenha presentemente renovado sua promessa de amor; é uma prova, não se há de negar: prova de que ela é uma mulher leviana, desatenciosa e provavelmente lunática.
Basta de comunicação de duplo-clique. As duas outras características proximidade e presença são muito mais importantes para nosso propósito, pois nos levarão ao terceiro termo de nossa série de conferências, a saber, a ciência* * A saber, a série de conferências Science, Religion, and the Human Experience [N.E.]. . É espantoso que a maioria das pessoas, quando querem mostrar generosidade em relação à religião, tenham de formulá-lo em termos de sua necessária irracionalidade. Eu de certo modo prefiro aqueles que, como Pascal Boyer, francamente tentam explicar a religião para livrar-se dela apontando as localizações cerebrais e o valor de sobrevivência de algumas de suas extravagâncias mais bárbaras3 3 Ver a conferência de Boyer ["Gods, Spirits and the Mental Instincts that Create Them", nesta mesma série] e seu livro Religion Explained (Boyer 2001). A teologia evolucionária compartilha com a velha teologia natural do século XVIII a admiração pelo 'ajustamento maravilhoso' do mundo. Não importa muito se isso leva a uma admiração pela sabedoria de Deus ou da Evolução, pois em ambos os casos é essa admirável conformidade que provoca a impressão de que uma explanação foi oferecida. Darwin, está claro, destruiria a velha teologia natural tanto quanto esta outra teologia natural baseada na evolução: não há conformidade, nenhuma adaptação sublime, nenhum ajuste maravilhoso. Mas os novos teólogos naturais não perceberam que Darwin desmantelou a igreja deles ainda mais rapidamente do que a daqueles predecessores que eles tanto desprezam. . Sempre me sinto mais à vontade diante de argumentos puramente naturalísticos do que dessa espécie de tolerância hipócrita que segrega e circunscreve a religião como uma forma de disparate especializado na transcendência e em sentimentos íntimos reconfortantes. Alfred North Whitehead, a meu ver, deu cabo daqueles que querem da religião que "embeleze a alma" com um belo mobiliário (cf. Whitehead 1926). A religião, na tradição que eu gostaria de tornar novamente presente, nada tem a ver com subjetividade, nem com transcendência, nem com irracionalidade, e a última coisa de que ela necessita é a tolerância dos intelectuais abertos e caridosos, que querem acrescentar aos fatos da ciência verdadeiros, porém secos o profundo e encantador 'suplemento de alma' provido por pitorescos sentimentos religiosos.
Aqui, temo que terei de discordar da maioria, se não de todos os conferencistas anteriores sobre o confronto ciência-religião, que falam como diplomatas de Camp David traçando linhas em mapas dos territórios de Israel/Palestina. Todos tentam resolver o conflito como se houvesse um único domínio, um só reino para dividir em dois ou, seguindo essa terrível similaridade com a Terra Santa, como se duas 'reivindicações igualmente válidas' devessem consolidar-se lado a lado, uma relativa ao que é natural, outra ao sobrenatural. E alguns conferencistas, como os mais extremistas zelotes de Jerusalém e Ramala o paralelo é assombroso , rejeitam os esforços dos diplomatas, querendo reivindicar toda a terra para si, e empurrar as hostes religiosas e obscurantistas para além do rio Jordão ou, inversamente, afogar as dos naturalistas no mar Mediterrâneo... Julgo que tais questões se há um domínio ou dois, se há hegemonia ou paralelismo, se a relação é polêmica ou pacífica são igualmente controversas por uma razão que toca no coração do problema: todas supõem que ciência e religião têm reivindicações similares, porém divergentes, à posse e colonização de um território seja deste mundo ou do outro. Acredito, ao contrário, que não há ponto de contato entre os dois, não mais que qualquer competição ecológica direta entre, digamos, rãs e rouxinóis.
Não estou afirmando que ciência e religião sejam incomensuráveis em virtude do fato de que uma apreende o mundo visível objetivo do "aqui", enquanto a outra apreende o mundo invisível subjetivo ou transcendente do além; afirmo que mesmo essa incomensurabilidade seria um erro de categorização. Pois nem a ciência nem a religião se enquadram nessa perspectiva, que as colocaria face a face, e não mantêm entre si relações bastantes sequer para fazê-las incomensuráveis. Nem a religião nem a ciência estão muito interessadas no que é visível: é a ciência que apreende o longínquo e o distante; quanto à religião, ela nem mesmo tenta apreender alguma coisa.
Ciência e religião: uma comédia de erros
Meu argumento poderia a princípio parecer contra-intuitivo, já que intento recorrer simultaneamente ao que aprendi com os estudos de antropologia da ciência sobre a prática científica e àquilo que espero que vocês tenham experimentado esta noite, ao reenquadrar a fala religiosa com ajuda do argumento amoroso. A religião nem mesmo tenta se vocês me acompanharam até agora alcançar qualquer coisa que esteja além, mas sim representar a presença daquilo que é designado, em determinado linguajar técnico e ritual, a 'palavra encarnada' ou seja, dizer novamente que ela está aqui, viva, e não morta nem distante. Não tenta designar algo, mas falar a partir do novo estado que ela produz por sua maneira de dizer, seus modos de discurso. A religião, nessa tradição, tudo faz para redirecionar constantemente a atenção, obstando sistematicamente à vontade de se afastar, de ignorar, de se ficar indiferente ou blasé, entediado. A ciência, inversamente, nada tem a ver com o visível, o direto, o imediato, o tangível, o mundo vivido do senso comum e dos "fatos" robustos e obstinados. Bem ao contrário, como diversas vezes mostrei, ela constrói caminhos extraordinariamente longos, complicados, mediados, indiretos e sofisticados, através de camadas concatenadas de instrumentos, cálculos e modelos, para ter acesso a mundos como William James, insisto no plural que são invisíveis por serem demasiadamente pequenos, distantes, poderosos, grandes, estranhos, surpreendentes, contra-intuitivos. Apenas por meio de redes de laboratórios e instrumentos é possível obter aquelas longas cadeias referenciais que permitem maximizar os dois aspectos contrários de mobilidade (ou transporte) e imutabilidade (ou constância) que constituem, ambos, a in-formação aquilo que chamei, por essa razão, 'móveis imutáveis'.
E notem aqui que a ciência em ação, a ciência tal como é feita na prática, é ainda mais afastada da comunicação do duplo-clique do que a religião: distorção, transformação, recodificação, modelagem, tradução, todas essas mediações radicais são necessárias para produzir informação acurada e confiável. Se a ciência fosse informação sem transformação, como quer o bom senso comum, os estados de coisas mais distanciados do aqui e agora continuariam para nós em completa obscuridade. A comunicação de duplo-clique faz menos justiça à transformação da informação nas redes científicas do que à estranha habilidade que têm, na religião, alguns atos de fala em transformar os locutores.
Que comédia de erros! Quando o debate entre ciência e religião é encenado, os adjetivos sofrem uma inversão quase perfeita: é da ciência que se deve dizer que alcança o mundo invisível do além, que é espiritual, milagrosa, que sacia e edifica a alma4 4 Na pena de William James, a ciência aparece no feminino, ele a designa por she, em vez do neutro usual em inglês, it bela prova de correção política avant la lettre... . E é a religião que deve ser qualificada como local, objetiva, visível, mundana, não-milagrosa, repetitiva, obstinada, de robusta compleição.
Na tradicional fábula da corrida entre a lebre científica e a tartaruga religiosa, duas coisas são inteiramente irreais: a lebre e a tartaruga. A religião nem mesmo tenta correr para conhecer o além; procura, sim, quebrar todos os hábitos de pensamento que dirigem nossa atenção para o longínquo, o ausente, o sobremundo, a fim de conduzi-la de volta ao encarnado, à presença renovada daquilo que fora incompreendido e distorcido, mortal, daquilo do qual se diz ser 'o que foi, o que é, o que será', em direção àquelas palavras que trazem a salvação. A ciência nada apreende de modo direto e preciso; ela adquire lentamente sua precisão, sua validade, sua condição de verdade, no longo, arriscado e doloroso desvio que passa pelas mediações de experimentos não de experiências , de laboratórios não o senso comum , de teorias não a visibilidade; e se ela é capaz de obter a verdade, é ao preço de transformações espantosas que se dão na passagem de um meio ao seguinte. Portanto, a simples montagem de um palco onde o sério e profundo problema da "relação entre ciência e religião" se desenrolaria já é uma impostura, para não dizer uma farsa, que distorce ciência e religião, religião e ciência, para além de toda possibilidade de reconhecimento.
O único protagonista que sonharia com a tola idéia de encenar uma corrida entre lebre e tartaruga, de opô-las a fim de decidir quem domina quem ou de inventar acordos diplomáticos ainda mais bizarros entre os dois personagens , o único animador de semelhante circo é a comunicação de duplo-clique. Só ela, com sua extravagante idéia de um transporte sem transformação e que alcança estados ou situações distantes, só ela poderia sonhar com tal confrontação, distorcendo tanto a prática cuidadosa da ciência quanto a repetição cuidadosa da fala religiosa personificadora. Só ela consegue tornar ambas, ciência e religião, incompreensíveis: primeiro, ao distorcer o acesso mediado e indireto que, pelo duro labor dos cientistas, a ciência tem ao mundo invisível, apresentando-o, ao contrário, como uma simples, direta e não-problemática apreensão do visível; e a seguir, falseando a religião, forçando-a a abandonar o objetivo de representar renovadamente aquilo de que fala, e fazendo-nos alheadamente olhar na direção do mundo invisível do além, que ela não tem recursos, nem competência, nem autoridade, nem capacidade para alcançar e muito menos para apreender. Sim, uma comédia de erros... triste comédia, que tornou quase impossível adotar o racionalismo, já que isso significaria ignorar o funcionamento da ciência, mais ainda do que os objetivos da religião.
Dois modos distintos de conectar enunciados
Os dois regimes de invisiblidade, tão distorcidos pela evocação do sonho de uma comunicação instantânea e não mediada, podem ficar mais claros se recorrermos a documentos visuais. Minha idéia, como espero que já esteja evidente, é deslocar o ouvinte, trazê-lo da oposição entre ciência e religião para uma outra, entre dois tipos de objetividade. A luta tradicional jogava a ciência, definida como apreensão do visível, do próximo, do adjacente, do impessoal, do cognoscível, contra a religião, que supostamente lidaria com o distante, o vago, o misterioso, o pessoal, o incerto e o incognoscível.
Quero substituir essa oposição, que a meu ver é um artefato, por esta: de um lado, as longas e mediadas cadeias referenciais da ciência, que levam ao distante e ao ausente, e de outro, a busca da representação do que é próximo e presente na religião. Já mostrei, em outras oportunidades, que a ciência não é absolutamente uma forma de ato de fala que tenta transpor o abismo entre as palavras e "o" mundo no singular. Isso equivaleria ao salto mortale tão ridicularizado por James; na verdade a ciência, tal como é praticada, seria mais propriamente uma tentativa de deambular novamente, uma expressão de James de uma inscrição a outra, tomando cada uma delas a cada vez, como a matéria da qual se extrai uma forma. 'Forma', aqui, deve ser entendida muito literalmente, muito materialmente: é o papel em que você coloca a 'matéria' do estágio imediatamente anterior.
Já que exemplos sempre ajudam a tornar visível o caminho invisível traçado pela ciência no pluriverso, tomemos o caso do laboratório de Jean R., em Paris, onde se procura obter informação sobre os fatores que disparam um único neurônio isolado. Obviamente, não existe um modo direto, não mediado e não artificial de tomar um neurônio, dentre os bilhões que compõem a massa cinzenta, e torná-lo visível. Assim, é preciso começar com ratos, que primeiro são guilhotinados, para terem os cérebros extraídos e cortados em finas seções graças ao micrótomo; cada uma destas é, a seguir, preparada de modo a ficar viva por algumas horas, colocada sob um potente microscópio e, então, com a ajuda de um monitor de televisão, uma microsseringa e um microeletrodo são inseridos delicadamente em um dos neurônios que o microscópio pode pôr em foco, dentre os milhões que estão simultaneamente a disparar e essa operação pode falhar, pois focar um neurônio e pôr a microsseringa em contato justamente com ele para capturar os neurotransmissores enquanto se registra sua atividade elétrica é um um feito de que poucos são capazes; a seguir, a atividade é registrada, as substâncias químicas liberadas pela atividade neuronal são recolhidas na pipeta, e o resultado é transformado em um artigo que apresenta sinopticamente aquelas várias inscrições. A despeito de todo o interesse do processo pelo qual os neurônios disparam, não pretendo falar sobre ele, mas apenas chamar a atenção de vocês para o movimento, o salto entre uma inscrição e a seguinte.
É claro que, sem a artificialidade do laboratório, nenhum desses caminhos através das inscrições cada uma servindo de matéria para a seguinte, que lhe dá nova forma poderia produzir um fenômeno visível. A referência, a operação de referir, não é o gesto de um locutor, que aponta com o dedo para um gato a ronronar sobre o capacho, mas um negócio muito mais arriscado, um caso bem mais impuro, que conecta literatura publicada fora do laboratório a mais literatura publicada pelo laboratório através de muitas intermediações, uma das quais, claro, é a dos ratos, esses heróis não celebrados de tanta biologia.
O que quero dizer é que essas cadeias referenciais têm características contraditórias muito interessantes: constituem nossa melhor fonte de objetividade e certeza, e no entanto são artificiais, indiretas, folheadas. Não há dúvida de que a referência é precisa; essa precisão, porém, não é dada por nenhum par de coisas mimeticamente semelhantes entre si, mas, ao contrário, por toda uma cadeia de habilíssimas transformações artificiais. Enquanto a cadeia permanece íntegra, o valor de verdade da referência em seu conjunto permanece calculável. Mas se uma inscrição é isolada, se uma imagem é extraída, se o quadro da trajetória contínua de transformações é congelado, a qualidade da referência imediatamente decai. Isoladamente, uma imagem científica não tem valor de verdade, embora possa desencadear, na filosofia mítica da ciência que é usada pela maioria das pessoas, uma espécie de referente-fantasma que será tomado, numa espécie de ilusão de ótica, por modelo da cópia ainda que não seja senão a imagem virtual de uma 'cópia' isolada!
Isso, a propósito, prova que os fatos, os famigerados fatos que alguns filósofos supõem ser a substância de que é feito o mundo visível do senso comum, não são, afinal, mais que um equívoco a respeito do processo artificial porém produtivo da objetividade científica: aquilo que foi descarrilado com o congelamento de uma sucessão referencial de quadros. Não há nada de primitivo ou primevo nos fatos, eles não são o fundamento das percepções5 5 Para um argumento bem mais desenvolvido sobre visualização na ciência, ver Galison 1997; Jones e Galison 1998; e Latour e Weibel 2002. . É portanto inteiramente desencaminhador tentar adicionar às questões de fato algum tipo de estado de coisas subjetivo que possa ocupar a mente dos que crêem.
Embora parte do que eu disse aqui demasiado rapidamente possa ainda ser motivo de controvérsia, é necessário que eu o tome como pano de fundo não contestado, pois quero usá-lo para lançar nova luz sobre o regime religioso da invisibilidade. Assim como há um equívoco sobre o caminho descrito pela deambulação das mediações científicas, há, penso, um desentendimento comum do percurso traçado pelas imagens religiosas6 6 Para o conjunto do que se segue, ver o catálogo da exposição Iconoclash. Beyond the science wars in science, religion and art (Latour e Weibel 2002). . Tradicionalmente, no cristianismo, a defesa dos ícones religiosos tem consistido em afirmar que a imagem não é o objeto de uma 'latria' como em idolatria mas de uma 'dulia', termo grego com o qual se diz que o fiel, diante da cópia uma Virgem, um crucifixo, uma estátua de santo , tem o espírito voltado para o protótipo, o original unicamente digno de adoração. Essa, no entanto, é uma defesa que nunca chegou a convencer os iconoclastas platônicos, bizantinos, luteranos ou calvinistas para não falarmos no mulá talibã Mohammad Omar, que fez passar pelas armas os Budas de Bamiyan, no Afeganistão.
Com efeito, o regime cristão de invisibilidade é tão distinto dessa débil defesa tradicional quanto a trajetória referencial científica está distante dos glorificados 'fatos'. O que a iconografia tentou realizar em incontáveis proezas artísticas é o exato oposto de dirigir o olhar para o modelo distante: ao contrário, despenderam-se esforços incríveis para deflectir o olhar habitual do espectador e atrair sua atenção para o estado presente, o único de que se pode afirmar que oferece salvação. Tudo se passa como se pintores, entalhadores e patronos de obras de arte tivessem tentado quebrar as imagens internamente, a fim de torná-las inadequadas ao consumo informativo normal; como se eles quisessem principiar, ensaiar, iniciar um ritmo, um movimento de conversão que se compreende apenas quando o espectador o espectador devoto toma a si repetir a mesma melodia, no mesmo ritmo e andamento. É a isso que, com meu colega Joseph Koerner, chamo 'iconoclasmo interior': comparado a este, o iconoclasmo 'exterior' parece sempre ingênuo e inócuo para não dizer, redondamente tolo (ver Koerner 2002).
Uns poucos exemplos bastarão. Nesse afresco de Fra Angelico no convento de São Marcos, em Florença, o pintor utilizou múltiplos recursos para complicar nosso acesso direto ao tópico: não só o túmulo está vazio num primeiro momento, uma grande decepção para as mulheres , como também o dedo do anjo aponta na direção de uma aparição do Cristo ressurrecto que não é diretamente visível para elas, pois resplandece às suas costas. Que pode ser mais desapontador e surpreendente do que a declaração do anjo: "Ele não está aqui, ele ressuscitou"? Tudo, nesse afresco, diz respeito ao vazio da apreensão usual. No entanto, não é sobre o vazio, como se a atenção da pessoa fosse orientada para o nada; ao contrário, faz-nos retornar à presença da presença: mas para isso não devemos olhar para a pintura, nem para o que a pintura sugere, e sim para o que nos está presente agora. Como podem um evangelista e, a seguir, um pintor como o frei Angelico tornar mais vívido, novamente, o redirecionamento da atenção? "Vocês estão olhando no lugar errado... vocês não entenderam as Escrituras". E, se formos bastante estúpidos para deixar escapar a mensagem, um monge, colocado à esquerda e que representa o ocupante da cela , servirá de legenda para toda a história; legenda, no sentido etimológico, isto é: nos mostrará como devemos ver. O que ele vê? Absolutamente nada, não há nada a ser visto aí; mas vocês devem olhar aqui, através do olho interno da piedade, para aquilo que o afresco supostamente significa: alhures, não num túmulo, não entre os mortos, mas entre os vivos (ver figura 1).
Mais bizarro ainda é o caso, estudado por Louis Marin, de uma Anunciação pintada por Piero della Francesca, em Perúgia (cf. Marin 1989). Se reconstruímos o quadro na realidade virtual e Piero foi tão grande mestre nessa primeira matematização do campo visual, que podemos fazê-lo com exatidão, usando computadores , percebemos que o anjo realmente está invisível para a Virgem! Ele ou ela? está oculto pela coluna! E isso, tratando-se de um mestre como ele, não pode ser simplesmente um descuido. Piero empregou a poderosa ferramenta da perspectiva e recodificou sua interpretação do que é um anjo invisível, de modo a tornar impossível o ponto de vista banal, usual, trivial, de que se trata aqui de um mensageiro comum que encontra a Virgem no espaço normal das interações diárias. Mais uma vez, a idéia é evitar, tanto quanto possível, o transporte normal de mensagens, mesmo ao empregar o novo e fabuloso espaço de visibilidade e cálculo inventado pelos pintores e cientistas do Quattrocento esse mesmo espaço que será tão poderosamente utilizado pela ciência para a multiplicação daqueles móveis imutáveis que acabo de definir. A meta não é acrescentar um mundo invisível ao visível, mas distorcer, opacificar o mundo visível até que não se possa ser levado a desentender as Escrituras, e sim a re-encená-las fielmente.
Não houve, entre os que retrataram o desapontamento do visível sem simplesmente acrescentar mais um mundo do invisível (o que seria uma contradição em termos), pintor mais astucioso que Caravaggio. Na sua famosa versão do episódio dos peregrinos de Emaús, que não entendem, num primeiro momento, que estão viajando na companhia do Salvador ressuscitado, e só vêm a reconhecê-lo quando ele reparte o pão à mesa da taverna, Caravaggio re-produz na pintura essa mesma invisibilidade, apenas com uma réstia de luz toque de tinta que redireciona a atenção dos peregrinos quando eles subitamente percebem aquilo que tinham de ver. E, por certo, toda a idéia de pintar tal encontro sem acrescentar-lhe nenhum evento sobrenatural é a de redirecionar a atenção de quem olha a pintura; o espectador de súbito percebe que nunca verá mais que esses pequenos intervalos e rupturas, esses traços de pincel, e que a realidade para a qual deve voltar-se não está ausente na morte como os peregrinos vinham discutindo ao longo do caminho até o albergue , e sim presente, agora, em sua plena e velada presença. A idéia não é afastar nosso olhar desse mundo e voltá-lo para um outro mundo do além, mas sim perceber-realizar finalmente, diante dessa pintura, esse milagre de compreensão: o que está em questão nas Escrituras agora se realizou, foi percebido agora, entre pintor, espectadores e patronos, entre vocês: vocês não compreenderam as Escrituras? Ele ressuscitou por que olham para a distância e a morte? Está aqui, novamente presente. "Eis por que ardia nosso coração enquanto ele nos falava".
A iconografia cristã, em todas as suas formas, mostrou-se obcecada por essa questão de representar renovadamente aquilo de que ela trata, e de garantir visualmente que não haja incompreensão da mensagem transmitida, que no ato de fala esteja realmente em questão um emissor ou receptor em transformação, e não uma mera transferência de mensagem incorretamente endereçada. No tema venerável e algo ingênuo da missa de São Gregório banido após a Contra-Reforma , o argumento parece muito menos elaborado do que em Caravaggio, mas é disposto com a mesma intensidade sutil. O papa Gregório, segundo consta, viu subitamente, quando celebrava missa, a hóstia e o vinho substituídos tridimensionalmente pelo real corpo do Cristo com todos os instrumentos da Paixão. A presença real está aqui representada ainda outra vez, e pintada em duas dimensões pelo artista, para comemorar esse ato de re-entendimento pelo papa, ao realizar também no sentido inglês de 'perceber' aquilo que o venerável ritual significava.
Após a Reforma, essa visualização um tanto sangrenta se tornará repulsiva para muitos; mas o ponto que quero ressaltar é que cada um desses quadros, não importa quão sofisticado ou naïf, canônico ou apócrifo, sempre transmite uma dupla injunção. Ela primeiramente tem a ver com o tema que todos eles ilustram, e a maioria dessas imagens, como a fala amorosa com a qual comecei, é repetitiva e chega, não raro, a ser entediante a ressurreição, o encontro de Emaús, a missa gregoriana. Mas há uma segunda injunção que também é transmitida: ela atravessa a tediosa repetição do tema e nos força a recordar aquilo que é a compreensão da presença que a mensagem carrega. Essa segunda injunção equivale ao tom, à tonalidade de que nos conscientizamos na conversa de amor: original não é o que a pessoa diz, mas o movimento que renova a presença através de antigos dizeres.
Amantes, pintores religiosos e patronos da arte devem cuidar para que o modo usual da fala adquira determinada vibração, se querem estar seguros de que seus interlocutores não se deixarão distraidamente levar para longe, no espaço e no tempo. É exatamente isso que acontece subitamente ao pobre Gregório: durante a repetição do ritual, ele é repentinamente atingido pelo próprio ato de fala que transforma a hóstia no corpo de Cristo, pela percepção-realização das palavras sob a forma de um Cristo sofredor. O erro seria pensar que essa é uma imagem ingênua que apenas papistas retrógrados poderiam levar a sério: bem ao contrário, é uma sofisticadíssima versão do que é estar novamente cônscio da real presença de Cristo na missa. Mas, para isso, a pessoa deve ouvir as duas injunções simultaneamente. Essa não é a pintura de um milagre, embora também o seja: antes, essa pintura também diz o que é compreender a palavra 'milagre' literalmente e não no sentido habitual, blasé, da palavra e 'literal' aqui não significa o oposto de espiritual, mas de ordinário, alheado, indiferente.
Mesmo um artista brilhante como Philippe de Champaigne, em meados do século XVII, ainda procurava garantir que espectador nenhum ignorasse que repetir o rosto de Cristo literalmente imprimi-lo num véu não devia ser confundido com mera fotocópia (ver figura 2). Essa meditação extraordinária sobre o que é ocultar e repetir nos é revelada pela presença de três distintos tecidos: aquele de que se fez a tela, duplicado pelo tecido daquilo que é designado como verônica, triplicado por outro véu, uma cortina, esta num trompe l'oeil que poderia dissimular a relíquia com um simples movimento de mão, se fôssemos tolos a ponto de nos equivocarmos quanto ao seu significado. Que magnífico, chamar vera icona 'imagem verdadeira', em latim** ** Kenósis, cenose, é palavra grega para "esvaziamento"; ela se refere à renúncia (ao menos parcial) da natureza divina por Cristo na encarnação [N.E.]. àquilo que é precisamente um quadro falso, três vezes velado: tanto é impossível tomá-lo como fotografia, que, por um milagre de reprodução, é um positivo e não um negativo do rosto de Cristo que se apresenta ao espectador e aqueles artistas, pintores e gravadores sabiam tudo sobre positivo e negativo; portanto, novamente, como no caso de Piero, não pode tratar-se de um descuido. Mas não há dúvida de que este é se posso usar tal metáfora um 'falso positivo', uma vez que a vera icona, o quadro verdadeiro, é, precisamente, uma reprodução, mas não do significado referencial do mundo, e sim uma reprodução no sentido re-presentacional da palavra: "Atenção! Prestem atenção! ver o rosto de Cristo não é procurar por um original, por uma verdadeira cópia referencial que transportaria vocês de volta ao passado, de volta a Jerusalém, mas mera superfície de pigmento gretado, com um milímetro de espessura, que começa a indicar de que modo vocês mesmos, agora, nesta instituição de Port Royal, devem olhar seu Salvador". Embora esse rosto pareça tão diretamente olhar-nos de volta, ele é ainda mais oculto e velado que o de Deus, que recusou revelar-se a Moisés. Mostrar e ocultar é o que faz a verdadeira reprodução, com a condição de que seja uma falsa reprodução pelos padrões das fotocópias, impressoras e da comunicação duplo-clique. Mas o que está oculto não é uma mensagem sob a primeira, uma informação esotérica dissimulada em informação banal, e sim um tom, uma injunção para que você, o espectador, redirecione sua atenção, afastando-a do que está morto e devolvendo-a para o que vive.
Eis por que haverá sempre alguma sensação de incerteza quando uma imagem cristã for destruída ou mutilada (ver figura 3). Essa Pietà foi certamente quebrada por algum fanático, não sabemos se durante a Reforma ou durante a Revolução não faltaram desses episódios na França. Mas quem quer que tenha sido, certamente nunca percebeu quanta ironia podia haver em acrescentar uma destruição exterior à destruição interior que a estátua em si tão bem representou: o que é uma Pietà, senão a imagem da Virgem com o coração partido, amparando em seu regaço o cadáver partido de seu filho, que é a imagem partida de Deus seu pai embora, como a Escritura cuida de dizer, "nenhum de seus ossos tenha sido quebrado"? Como se pode destruir uma imagem já a tal ponto destruída? Como é possível querer erradicar a crença numa imagem que já desapontou todas as crenças, a ponto de Deus em pessoa, o Deus do superior e do transcendente, jazer aqui, morto, no colo da mãe? Quem poderá ir mais fundo, na crítica de todas as imagens, do que já está explicitamente afirmado pela teologia? Não seria antes o caso de argumentar que o iconoclasta exterior não faz mais que acrescentar um ato ingênuo e superficial de destruição a um ato de destruição extraordinariamente profundo? Quem é mais ingênuo: aquele que esculpiu a Pietà da 'kenósis' de Deus*** *** A palavra verônica (latim veronica, anagrama, se não derivado metatético de vera icona, por etimologia popular), em português como em algumas outras línguas, designa o sudário, o tecido com que santa Verônica, segundo a lenda, enxugou o suor de Jesus no caminho para o Calvário, e no qual teria ficado impressa a 'verdadeira imagem' do rosto dele [N.T.]. , ou aquele que acredita haver crentes bastante ingênuos para atribuírem existência a uma mera imagem, em lugar de espontaneamente voltarem o olhar para o Deus original? Quem vai mais longe? Provavelmente aquele que diz não haver nenhum original.
Como continuar o movimento dos enunciados geradores de verdades?
Um modo de resumir meu argumento, como conclusão, é dizer que provavelmente estivemos equivocados em defender as imagens por seu apelo a um protótipo, ao qual elas simplesmente aludiam; no entanto foi essa, como mostrei acima, sua defesa tradicional. A iconofilia nada tem com voltar o olhar para um protótipo, numa espécie de ascensão gradual e platonística. A iconofilia consiste, mais propriamente, em continuar o processo iniciado por uma imagem, num prolongamento do fluxo de imagens. São Gregório dá continuidade ao texto da Eucaristia quando vê o Cristo em seu corpo real e não simbólico; e o pintor prossegue o milagre, quando pinta a representação num quadro que nos faz recordar o que significa realmente compreender aquilo de que fala esse texto antigo e misterioso; e eu, hoje, agora, continuo a continuação pictural da história, reinterpretando o texto, se através do uso de diapositivos, de argumentos, de inflexões da voz, de qualquer coisa que esteja à mão, torno vocês novamente cônscios do que é compreender aquelas imagens sem buscar um protótipo, e sem distorcê-las em meros veículos de transferência de informação. Iconoclastia ou iconolatria, portanto, nada mais é do que congelamento do quadro, interrupção do movimento da imagem e o isolamento desta, sua retirada dos fluxos de imagens renovadas, em função da crença de que a imagem tem, em si mesma, um significado e visto que ela não o tem, uma vez isolada, então deve ser destruída sem piedade.
Ignorando a fluência característica da ciência e da religião, transformamos a questão das relações entre elas numa oposição entre 'conhecimento' e 'crença', oposição que então julgamos necessário superar, ou resolver polidamente, ou ampliar violentamente. O que sustentei nesta conferência é bem diferente: a crença é uma caricatura da religião, exatamente como o conhecimento é uma caricatura da ciência. A crença é modelada por uma falsa idéia de ciência, como se fosse possível propor a pergunta "você acredita em Deus?" segundo o mesmo modelo de "você acredita no aquecimento global?". Ocorre que a primeira questão não traz nenhum dos instrumentos que permitiriam o prosseguimento da referência, e que a segunda conduz o locutor a um fenômeno ainda mais invisível do que Deus ao olho desarmado, uma vez que para chegar a ele devemos viajar por imagens de satélite, simulação computacional, teorias de instabilidade da atmosfera terrestre, química da alta estratosfera... Crença não é questão de um quase-conhecimento e mais um salto de fé para ir além; conhecimento não é uma questão de quase-crença, a que supostamente podemos responder se olharmos diretamente para as coisas próximas, ao nosso alcance.
Na fala religiosa há de fato um salto de fé, mas este não é um salto mortal de acrobacia, que visa superar a referência por meios mais ousados e arriscados; é uma acrobacia, sim, mas que tem por objetivo pular e dançar na direção do que é próximo e presente, redirecionar a atenção, afastando-a do hábito e da indiferença, preparar a pessoa para que seja tomada novamente pela presença que quebra a passagem usual e habitual do tempo. Quanto ao conhecimento, ele não é uma apreensão direta do ordinário e do visível, contra todas as crenças na autoridade; é, sim, uma extraordinária confiança ousada, complexa e intrincada em cadeias progressivamente articuladas e inclusivas de transformações de documentos, as quais, por muitos tipos distintos de provas, conduzem além, para novos tipos de visões, e assim nos obrigam a romper com as intuições e preconceitos do senso comum. A crença é simplesmente irrelavante para qualquer ato de fala religioso; o conhecimento não é um modo preciso de caracterizar a atividade científica. Poderíamos avançar um pouco, se designássemos como fé o movimento que nos traz para o próximo e o presente, e mantivéssemos a palavra crença para essa mistura necessária de confiança e desconfiança com que temos necessidade de considerar todas as coisas que não podemos ver diretamente. A diferença entre ciência e religião não se encontraria, portanto, nas competências mentais diversas associadas a dois reinos distintos a 'crença', aplicada a vagos assuntos espirituais, e o 'conhecimento', às coisas diretamente observáveis , mas na aplicação de um mesmo amplo conjunto de competências a duas cadeias de mediadores que vão em duas direções distintas. A primeira cadeia leva ao que simplesmente está por demais longínquo e é por demais contra-intuitivo para que possa ser diretamente apreendido ou seja, a ciência. A segunda cadeia, a religiosa, também leva ao invisível, porém o que ela atinge não é invisível por estar oculto, cifrado e distante, mas apenas por ser dificil de renovar.
O que quero dizer é que, tanto no caso da ciência quanto no da religião, congelar o quadro, isolar um mediador dos seus encadeamentos, de sua série, impede instantaneamente que o significado seja modulado e transmitido em verdade. A verdade não se encontra na correspondência seja entre as palavras e as coisas, no caso da ciência, ou entre original e cópia, no caso da religião , mas em tomar a si novamente a tarefa de continuar o fluxo, de prolongar em um passo a mais a cascata das mediações. Meu argumento é que em nossa atual economia de imagens talvez tenhamos cometido um ligeiro equívoco em relação ao segundo mandamento de Moisés e faltado ao respeito com os mediadores. Deus não pediu que não fizéssemos imagens de que mais dispomos para produzir objetividade, para gerar piedade? æ; ele disse que não congelássemos a imagem, que não isolássemos um quadro retirando-o do fluxo que, só ele, empresta-lhes, às imagens, seu real repetidamente representado, recorrentemente reparado e realizado sentido.
Muito provavelmente, terei falhado em estender para vocês, nesta noite, nesta mesma sala, esse fluxo, essa cascata de mediadores. Se é assim, então menti, então não estive a falar no modo religioso, não fui capaz de pregar, e simplesmente falei sobre religião, como se houvesse um domínio de crenças específicas, ao qual uma pessoa pudesse vincular-se por alguma espécie de apreensão referencial. Esse teria sido um erro não menor que o do amante que, ouvindo a pergunta "você me ama?", respondesse: "eu já te disse que sim há tanto tempo, por que perguntar novamente?". Por quê? Porque não adianta haver dito no passado, se você não pode mais uma vez, agora, dizê-lo, e tornar-me novamente vivo para você, de novo próximo e presente. Por que haveria alguém de pretender falar religião, senão para salvar-me, converter-me, no ato?
Notas
Recebido em 9 de fevereiro de 2004
Aprovado em 10 de março de 2004
Tradução de Amir Geiger
- BOYER, Pascal. 2001. Religion explained: the human instincts that fashion gods, spirits and ancestors London: William Heinemann.
- GALISON, Peter. 1997. Image and logic. A material culture of microphysics Chicago: The University of Chicago Press.
- JONES, Carrie e GALISON, Peter (orgs.). 1998. Picturing science, producing art London: Routledge.
- KOERNER, Joseph. 2002. "The Icon as Iconoclash". In: B. Latour e P. Weibel, Iconoclash: beyong the image wars in science, religion and art Cambridge, Mass.: MIT Press. pp. 164-214.
- LATOUR, Bruno. 1998. "How to be Iconophilic in Art, Science and Religion?" In: C. Jones e P. Galison (orgs.), Picturing science, producing art London: Routledge. pp. 418-440.
- ___ . 1999. Pandora's hope. Essays on the reality of science studies Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- ___ . 2002a. "Thou shall not take the Lord's name in vain being a sort of sermon on the hesitations of religious speech". Res, 39:215-235.
- ___ . 2002b. Jubiler ou les tourments de la parole religieuse Paris: Les Empêcheurs de penser en rond.
- ___ e WEIBEL, Peter (org.). 2002. Iconoclash: beyond the image wars in science, religion and art Cambridge, Mass.: MIT Press.
- MARIN, Louis. 1989. Opacité de la peinture. Essais sur la représentation Paris: Usher.
- WHITEHEAD, Alfred North. 1926. Religion in the making New York: Fordham University Press.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
26 Set 2005 -
Data do Fascículo
Out 2004
Histórico
-
Recebido
09 Fev 2004 -
Aceito
10 Mar 2004