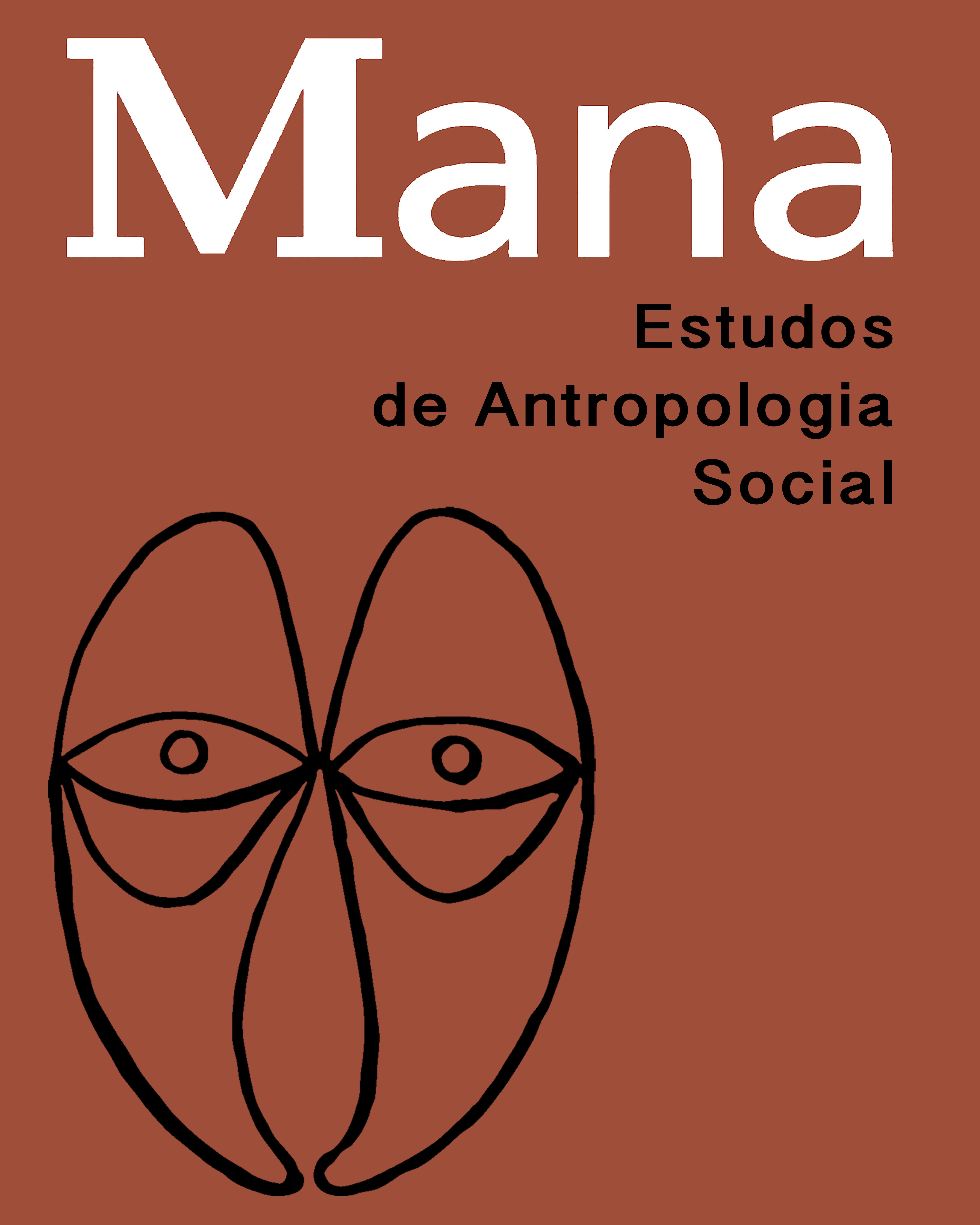RESENHAS
Oscar Calavia Sáez
PPGAS / UFSC
Brumana, Fernando Giobellina. 2005. Soñando con los Dogon. En los orígenes de la etnografía francesa. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 394 pp.
O que mais se pode dizer sobre, ou contra, a etnografia colonial? Os antropólogos pós-modernos têm feito render, e muito, alguns dos seus tropos e ícones: o estilo livre indireto, a varanda, a porta da tenda, o diário stricto sensu. Mas se devêssemos escolher um paradigma do colonialismo antropológico, todos os empreendimentos da escola britânica empalideceriam discretamente ao lado da Missão Dakar-Djibuti, dirigida entre 1931 e 1933 por Marcel Griaule. Colonial na espetacularização do exotismo, que ajuda a financiá-la e que em tantos pontos se vincula às grandes exposições coloniais da virada de século; colonial na infra-estrutura, que evoca mais o rally que o fieldwork, com as empresas automotivas, fotográficas ou de alimentação contribuindo com seus produtos e celebrando a pujança da civilização industrial; colonial na sua intendência, com essa tropa de servidores indígenas que carregam, cozinham e limpam, e uma que outra vez devem ser tratados a gritos e chutes. Especialmente colonial no modo corsário de recolher o patrimônio nativo, se for preciso pelo suborno, ou à sorrelfa, ou pela força; ou de tratar com as autoridades locais, em particular no território etíope, o único Estado africano independente à época. Ou na sua concepção da pesquisa como uma fábrica de fichas, informações e objetos passíveis de exposição; ou no seu interesse pelo primitivo genérico racialmente definido "o negro", seu alvo prioritário. Colonial, enfim, no seu ideário explícito, ensejando melhorar as relações entre os administradores europeus e a população nativa, sem nunca pôr em questão os princípios dessa relação.
Seria isso possível à época? O colonialismo, não sem superar muitos titubeios iniciais, tinha se convertido em obviedade. Seus opositores eram raros. E, sobretudo, não eram a esquerda. As relações entre, por exemplo, a antropologia política de Evans-Pritchard e um certo filo-anarquismo só têm sido sugeridas em revisões recentes, e costumam ser ignoradas em favor de uma descrição conformista dos etnógrafos de Sua Majestade. Por isso, a novidade do livro de Fernando Giobellina quiçá esteja em examinar uma antropologia colonial que, com algumas mediações, se liga à esquerda política e à vanguarda intelectual mais inequívoca a francesa, ou a parisiense inclusive sem uma clara solução de continuidade, e às posições terceiro-mundistas de décadas mais tarde. Muito além de Griaule ex-militar, sempre um pouco militar nas margens ou na esteira do seu projeto, vemos aparecer etnólogos socialistas e comunistas, artistas de ponta, a Resistência cuja primeira célula é fundada e exterminada no Musée de lHomme. Podem mas não devem surpreender as muitas continuidades entre Griaule e Jean Rouch, ícone de um cinema ao mesmo tempo etnográfico e militante.
O livro de Fernando Giobellina tem isso de pós-moderno: trata dos africanistas, não da África. Muito embora faça alusões esparsas à eficácia da Missão nos seus próprios termos, ou aos seus frutos periféricos de maior qualidade os mais ligados à tradição de Mauss, como os de Denise Paulme o seu objeto está alhures, em uma reflexão moral sobre os sujeitos e os objetos da antropologia.
Moral, não moralista: não é fácil transformar a antropologia em uma ciência virtuosa e, assim, o livro trata da antropologia através de anti-heróis. Griaule e Leiris são os dois protagonistas da história; antípodas um do outro, e irremediavelmente inimizados logo depois da aparição de LAfrique Fantôme, a obra mais conhecida de Leiris. Muito além de seu papel como organizador resoluto da expedição o herói que a etnologia francesa esperava para se firmar no campo científico Griaule passa à história da disciplina como o autor de várias obras, a principal delas Dieu dEau, que exaltam a sabedoria, ou a filosofia, do povo Dogon, a ele transmitida por um oráculo apropriadamente cego, o caçador Ogotemmêli.
Raramente lido, Dieu dEau não é por isso menos influente, pois ilustra como nenhum outro texto esse desideratum etnográfico maximalista e vazio: o de penetrar nos segredos de uma cultura outra pela mão de um iniciador providencial. Soñando con los Dogon examina impiedosamente o modo com que essa bíblia exótica é construída, e também o modo com que os herdeiros de Griaule fizeram silêncio em torno das tentativas de desconstruí-la. Dieu dEau é um texto sacro cujo original é obliterado a tradução de Griaule nunca seguiu um original. Pouco sabemos de Ogotemmêli, seus motivos, sua sociedade, suas peculiaridades. O etnógrafo é eficaz em fixar uma tradição plural, em fixar os próprios Dogon em princípio, um conceito lingüístico bastante vago, que acaba sendo solidificado no molde do povoado de Sanga, onde Griaule desenvolveu sua pesquisa. O que interessa a Griaule é a coisa etnográfica: seja no saber revelado, seja nos catálogos de máscaras comentadas, seja na inscrição desses rituais que tenta maximizar com um alarde de câmaras e observadores posicionados em vários pontos do palco (mesmo assim, aspectos importantes se perdem, e partes do ritual devem ser reencenadas para a equipe no dia seguinte). Mas ao lado dessa fissura por penetrar quase sexualmente nos mistérios nunca antes revelados, nenhum esforço é destinado a esclarecer a construção do segredo. O sujeito para Griaule é o correlato epistemológico da bananeira que deu cacho.
A obra de Griaule tem adensado a suspeita que pesa sobre qualquer tentativa de alcançar uma filosofia outra. O que não impede que seja citada respeitosamente por autores ilustres, nem que o seu exemplo seja seguido por gerações ulteriores de antropólogos, menos expedicionárias e menos expeditivas que a de Griaule, mas igualmente seduzidas pelo eldorado de um esoterismo nativo suas marcas podem se identificar, por exemplo, na bibliografia sobre o Candomblé nem que se deixe adivinhar por trás dos discursos sobre a negritude, ou da transformação em patrimônio da sabedoria Dogon, base de uma indústria turística que até hoje perpetua sem muito esforço uma dogonidade que na época se pensava à beira da extinção. Afinal, a obra griauliana institui-se nesse ponto onde coloniais e anticoloniais se encontram: na percepção da cultura como um cofre do tesouro que só cabe roubar ou proteger do roubo.
No extremo oposto desse universo de objetos surge Leiris, um escritor que acaba de romper com o surrealismo. Leiris é o avesso de Griaule, mas também, e sobretudo, um Malinowski às avessas. As confidências penosas, os acessos de fúria ou desprezo contra os nativos, a meditação sobre a própria ou imprópria sexualidade que passariam a marcar, anos mais tarde, a figura de um Malinowski póstumo e não-autorizado perfazem boa parte da substância do diário de pesquisa que Leiris oferece como primeiro e mais explícito fruto da sua experiência.
Leiris colocando Rimbaud onde Malinowski colocaria Conrad parte em busca de um outro desbordante de vida, ingênuo e, em suma, autêntico; o que encontra na sua África Fantasma é, em primeiro lugar (a eterna decepção dos viajantes), algo demasiado parecido com a metrópole, com seus servidores públicos, suas estradas e sua moeda. O sigiso, a língua ritual secreta que estuda entre os Dogon, não é uma via aberta aos mistérios: o seu estudo a revela composta por arcaísmos, vocábulos tomados de outras línguas e, sobretudo, por uma deformação do léxico habitual produzida pelos mesmos meios que são usados alhures para criar as gírias de estudantes ou marginais. O coração do segredo não é segredo, está nas diferenças e no poder que serve para estruturar. Mesmo esse outro de verdade que encontra finalmente na Etiópia, onde Leiris se dedica a investigar o Zar um culto de possessão é, de todos modos, civilizado até a medula, fruto de uma civilização antiga perfeitamente capaz de inautenticidade: o outro sabe mais, finge mais e trama mais do que deveria. Emawayish, a oficiante do Zar que desperta no etnógrafo uma paixão nunca consumada, acaba sendo o símbolo de toda essa aventura. Sem chegar a ser uma amante, ela se torna algo assim como uma irmã, pelo menos e apenas na sua dubiedade, na sua precariedade.
LAfrique Fantôme expõe um olhar autobiográfico na tradição de Rousseau, eivado dessa crueza na confissão (suspeita, desde que escrita para um público) que não se sabe se visa à benevolência ou ao desprezo do leitor (LAge dHomme, a outra grande obra de Leiris, é também autobiográfica e azeda). Mas nessas linhas, às vezes depressivas, a alma e o corpo do pesquisador aparecem como instrumento da pesquisa. As melhores intuições de Leiris que, de resto e segundo Giobellina, serão melhor desenvolvidas por uma geração posterior de antropólogos britânicos surgem precisamente de sensações difusas; especialmente essa onipresença de "la brousse", o terreno inculto em volta da aldeia onde rasteja a força do sagrado. La brousse: nada mais longe de um conteúdo, de uma coisa, de uma peça.
Um apêndice do livro trata da viagem "etnográfica" de Antonin Artaud ao México, ou ao país dos Tarahumara a rigor, bem pouco mexicano. Totalmente deslocada em relação ao tema do livro, essa excursão faz sentido na sua economia geral, porque é com Artaud que a escrita surrealista chega a campo. Leiris pertencia ao círculo surrealista, mas vai à África depois de se divorciar dele, e vai à África para escrever ciência mesmo que no caminho se detenha nas confissões. Não é o caso de Artaud, que permanece fiel ao seu ponto de partida. Demasiado fiel, em definitivo: Artaud fala aos Tarahumara, não os escuta, e não encontra, sequer no peyote, nada que não estivesse previamente acondicionado na sua bagagem. Eis aí o paradoxo que Clifford não anota: o surrealismo etnográfico é tudo menos surrealismo; quando é surrealismo deixa de ser etnográfico.
Em síntese, Soñando con los Dogon sugere, através do exame de uma experiência já velha, um olhar pouco complacente sobre essa espécie de fórum altermundialista da crítica recente, onde discurso nativo, antropologia visual, escrita poética, trabalho trans-multi-interdisciplinar se unem contra a figura imperial (mas comparativamente discreta) do etnólogo que escreve desde a porta da sua tenda. Afinal, todas essas expressões alternativas já se encontravam presentes nas gestas da antropologia colonial sem, com isso, torná-la menos colonial. A etnografia nunca poderá ser muito mais que texto, nem o etnógrafo poderá encontrar-se com o outro a sós, sem fantasmas em volta.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
10 Ago 2006 -
Data do Fascículo
Abr 2006