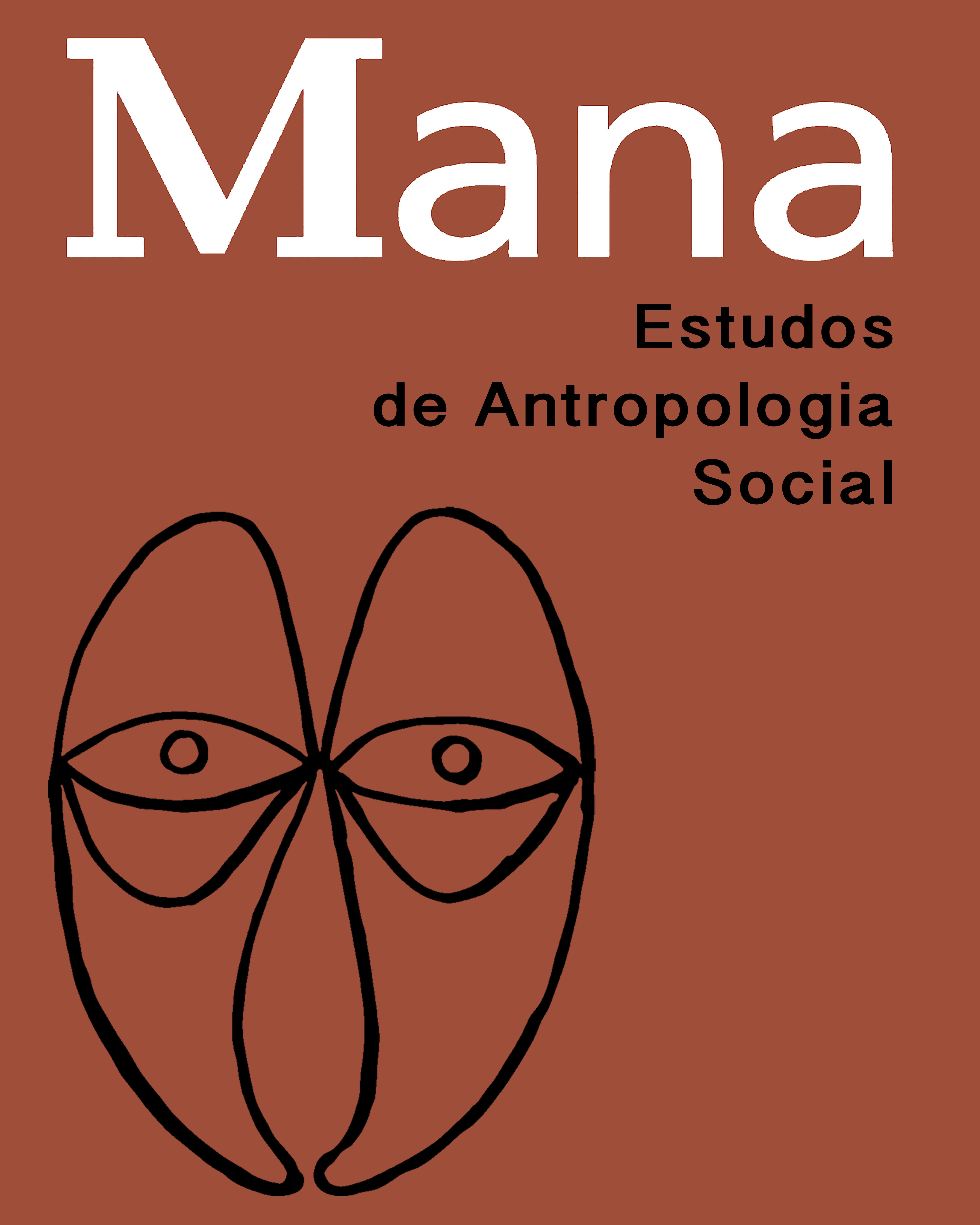Resumos
Evocam-se aqui as linhas gerais de desenvolvimento do trabalho acadêmico do autor, que se dedicou à elaboração de duas teorias a respeito das sociedades americanas: uma teoria sociológica, que estabelece o laço de afinidade como o esquema genérico da relação social indígena; e uma teoria cosmológica, que propõe uma redistribuição dos valores atribuídos pela metafísica ocidental às categorias da Natureza e da Cultura. Em seguida, examinam-se os três esquemas actanciais básicos da noção-chave de "transformação" dentro do discurso antropológico: um esquema "acusativo", um esquema "ergativo" e um esquema "reflexivo". O último deste abre o caminho para uma antropologia simétrica ou reversa, que realiza uma efetiva generalização do projeto da disciplina.
Antropologia; Transformação; Colonialismo; Ecologia; História
Here we evoke the general lines of development of the author's academic work, which has been dedicated to the elaboration of two theories with regard to American societies: a sociological theory, that establishes ties of affinity as the generic scheme for indigenous social relations; and a cosmological theory that proposes to redistribute the values western metaphysics attribute to the categories of Nature and Culture. We then examine the three basic actional schemes of the key concept of "transformation" within anthropological discourse: an "accusatorial" scheme, an "ergative" scheme and a "reflexive" scheme. The last of these three schemes opens the way for a symmetrical or reverse anthropology that allows us to create an effective generalization of the discipline's project.
Anthropology; Transformation; Colonialism; Ecology; History
ARTIGO
“Transformação” na antropologia, transformação da “antropologia”** Conferência proferida em 24 de agosto de 2011, no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, UFRJ, por ocasião do concurso para professor titular da mesma instituição.
Eduardo Viveiros de Castro
Eduardo Viveiros de Castro é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/ UFRJ. E-mail: <eviveirosdecastro@gmail.com>
RESUMO
Evocam-se aqui as linhas gerais de desenvolvimento do trabalho acadêmico do autor, que se dedicou à elaboração de duas teorias a respeito das sociedades americanas: uma teoria sociológica, que estabelece o laço de afinidade como o esquema genérico da relação social indígena; e uma teoria cosmológica, que propõe uma redistribuição dos valores atribuídos pela metafísica ocidental às categorias da Natureza e da Cultura. Em seguida, examinam-se os três esquemas actanciais básicos da noção-chave de "transformação" dentro do discurso antropológico: um esquema "acusativo", um esquema "ergativo" e um esquema "reflexivo". O último deste abre o caminho para uma antropologia simétrica ou reversa, que realiza uma efetiva generalização do projeto da disciplina.
Palavras-chave: Antropologia, Transformação, Colonialismo, Ecologia, História.
ABSTRACT
Here we evoke the general lines of development of the author's academic work, which has been dedicated to the elaboration of two theories with regard to American societies: a sociological theory, that establishes ties of affinity as the generic scheme for indigenous social relations; and a cosmological theory that proposes to redistribute the values western metaphysics attribute to the categories of Nature and Culture. We then examine the three basic actional schemes of the key concept of "transformation" within anthropological discourse: an "accusatorial" scheme, an "ergative" scheme and a "reflexive" scheme. The last of these three schemes opens the way for a symmetrical or reverse anthropology that allows us to create an effective generalization of the discipline's project.
Key words: Anthropology, Transformation, Colonialism, Ecology, History.
Sou antropólogo de formação e profissão, com alguma experiência na área das civilizações nativas americanas, especialmente da Amazônia. Nos últimos anos, tendo, ao que tudo indica, atingido o que os cientistas chamam de filosopausa (fim do período “produtivo”, no sentido empresarial do termo, começo de uma etapa de retrospecção marcada por certa elocução sapiencial), venho buscando refletir sobre as implicações filosóficas da antropologia como disciplina, explorando as transições e as transações entre ela e certos ramos da filosofia, em particular a metafísica, especulativa ou experimental. A palavra não nos deve assustar; de uns tempos para cá, a metafísica voltou a ser uma ocupação muito respeitável, o que é possivelmente um sintoma da crise existencial — já ia dizer, da crise metafísica — que se abate sobre os proprietários nominais do planeta, titulares do direito ao uso e abuso da palavra antropologia e helenismos conexos (economia, política, filosofia etc.).
Minhas inclinações me levaram ocasionalmente para as paragens da antropologia das ciências, da semiótica, da teoria literária, dos “estudos animais” — entre outras. Levaram-me sobretudo a testemunhar, com interesse apaixonado, a elaboração de uma nova filosofia da natureza, o vasto projeto geofilosófico que vai se cristalizando em torno da problemática mal-chamada de ambientalista. Este é, em minha opinião, o fenômeno mais significativo do século presente: a brusca “intrusão de Gaia” no horizonte histórico humano,11. Ver o forte livro de Isabelle Stengers (2009). o sentimento da irrupção definitiva de uma forma de transcendência que pensávamos haver transcendido, e que agora reaparece mais formidável do que nunca. Gaia irrompe entre nós suscitada pela transformação de nossa espécie, ou melhor, de seu etograma hoje dominante, em uma força macrofísica (Chakrabarty 2009). Sugeriu-se recentemente que o planeta entrou, já desde a primeira Revolução Industrial, em uma nova era geológica, batizada de Antropoceno, em uma dúbia homenagem à capacidade humana de alterar as condições-limite da existência da vida na Terra. Ou seja: finalmente aterrissamos. Nosso abrupto choque com a Terra, a comunicação aterradora do geopolítico com o geofísico, tudo isso faz desmoronar a distinção fundacional das ciências sociais, aquela entre a ordem do cosmológico e a do antropológico, separadas desde sempre, isto é, pelo menos desde o século XVII (lembremos da bomba de ar e do Leviatã) por uma dupla descontinuidade, de escala e de essência: evolução das espécies e história do capitalismo, termodinâmica e bolsa de valores, física nuclear e política parlamentar, climatologia e sociologia — em duas palavras, natureza e cultura. Finda a separação, eis-nos agora em pleno Antropoceno, a era da geologia da moral, para falarmos como Deleuze e Guattari. E a clássica luta contra a naturalização passiva da política (ou do poder), especialidade da sociologia crítica, começa a dividir espaço com, se não a perder espaço para, uma tarefa prática e teórica bem mais urgente, a politização ativa da natureza. Se acham que exagero no contraste, e superestimo o ingresso da natureza na política, pensemos em tudo o que significa — metafisicamente, historicamente, politicamente — o debate no Congresso sobre a reforma do Código Florestal, ou a mobilização contra a construção de Belo Monte, ou a campanha do MST a favor da produção agroecológica. Isso para ficarmos por aqui.
Minha relação originária com a etnologia ameríndia foi decisivamente infletida por esse fenômeno de colapso generalizado das escalas cosmológicas (o interesse contemporâneo pelos fractais não tem nada de acidental) e essa entrada em ressonância crítica dos ritmos da natureza e da cultura, signo precursor de uma iminente megatransição de fase. E minha prática intelectual, hoje, se volta para a busca de métodos mais eficazes de transfusão das possibilidades realizadas pelos mundos indígenas para dentro da circulação cosmopolítica global, que se acha em evidente estado de intoxicação aguda ou, para misturarmos as metáforas, em perigosa situação de duplo vínculo, um double bind civilizacional pré-psicótico (nós, civilizações, sabemos agora que podemos enlouquecer — parafraseando Valéry). E já que evocamos Bateson, esse grande entre os grandes da antropologia, recordemos também que ele falava no advento de uma nova “ecologia da mente”, insistindo sobre a continuidade entre os mundos da informação e da energia (definidos por uma mesma ontologia da diferença), e defendendo a unidade, no que muitos ainda veem como profissão de misticismo, entre mind e nature. Remisturando as metáforas, Oswald de Andrade, esse grande entre os grandes da filosofia brasileira, por sua vez, recomendava uma “vacina antropofágica”, nome poético para a urgentemente necessária esquizoanálise altermundialista da cultura em que vivemos, com a qual pensamos, e pela qual, ao que parece, estamos dispostos a morrer. Levando muita gente (humana e não humana) conosco, a começar, como sempre, pelos que não têm nada a ver com isso.
A alternativa ao altermundialismo é o fim do mundo; que de qualquer maneira tem de acontecer, isto é, já aconteceu, visto que, na tão repetida frase de F. Jameson, hoje em dia é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Os célebres temas correlatos do “fim da história” (nome justamente da in-finitude futura do capitalismo) e do “último homem”, que Francis Fukuyama tomou emprestados de Hegel e de Nietzsche, deixaram de ser conceitos filosóficos abstrusos para se tornarem questões meramente meteorológicas. Já estamos em condições de discutir as datas prováveis do fim da história. Tudo depende de quantos graus você acha que vai ser a subida da temperatura do planeta: 2 graus? (isso parece que já era); 4 graus? (estamos indo para lá até 2060); 6 graus? (aí não vai sobrar ninguém). Aceitam-se apostas. Por sua vez, quem sabe o Google Earth não virá, nesse momento não tão distante assim, mostrar a cidade, a rua e o barraco onde mora o último homem, único espectador de si mesmo na tela do computador. (É quase certo que esse homem não será um euro-americano, como o era o último homem filosófico, e aposto que vai ser uma mulher.).22. Constato que F. Ludueña registrou esse mesmo desabar irônico do metafísico no físico para os temas do último homem e do fim da história (Ver Fabián Ludueña Romandini 2011:220-221).
Penso sinceramente que quem não está preocupado com isso não tem muito com o que se preocupar. É muito provável, decerto, que nenhum Armagedom ecológico súbito venha a pôr fim à nossa forma de vida; talvez apenas vivamos todos, os que forem sobrando, cada vez pior, em um mundo cada vez mais parecido com aqueles dos romances de Philip K. Dick, onde o espaço e o tempo começam a apodrecer e a se desintegrar, as ações não se completam, os efeitos precedem erraticamente as causas, as alucinações se materializam em direções divergentes, a vida e a morte se tornam tecnologicamente indistinguíveis, e onde manter a sanidade mental, em meio a uma entropia que corrói ominosamente a própria narrativa, é a única ocupação possível, e em última instância impossível, dos personagens. Como argumentava Leibniz, o número de mundos piores do que qualquer um em que nos encontremos é infinito. Não há o pior mundo possível; mas só há um melhor mundo possível: este nosso mesmo. E houve quem chamasse o velho Leibniz de otimista.
Mas o altermundialismo acrescenta à implacável conclusão leibniziana uma cláusula de otimismo essencial, de esperança mesmo — a esperança, esse urubu pintado de verde, já dizia Mário Quintana. O melhor dos mundos possíveis deve necessariamente ser um mundo onde um outro mundo é possível: mas é necessário que esse outro mundo seja um mundo dentro deste, imanente a este, como uma de suas possibilidades ainda não realizadas. Bem, ou é isso, ou estamos, literalmente, fritos. Perguntem a Davi Kopenawa o que ele acha.
Voltemos à terra firme, se esta é a expressão adequada. Antes da suposta filosopausa — que prefiro ver como o fim daquela longa puberdade intelectual tão comum nas carreiras universitárias — dediquei-me ao estudo da sociologia do parentesco e da economia cosmológica dos povos indígenas da Amazônia. Esse trabalho pode ser descrito como um esforço de extrapolação de certos aspectos ambivalentes ou subdominantes da antropologia de Lévi-Strauss, que foi a base de minha formação disciplinar. Primeiro que tudo, aqueles aspectos que radicavam diretamente em sua atividade de americanista, permitindo uma leitura de toda a sua obra como em continuidade epistêmica com as formas de pensamento ameríndias que nela sempre tiveram posição de destaque. O caso paradigmático, aqui, é naturalmente o da relação recursiva entre as Mitológicas e os mitos, ligados, elas e eles, e elas a eles, por uma comum dinâmica de transformação e de variação. Em segundo lugar, esse prolongamento se fez em uma direção específica, ao longo do vetor de deformação do estruturalismo clássico traçado pela obra de Deleuze e Guattari, que apontará para a importância crucial, dentro da teoria estruturalista, da tese do desequilíbrio perpétuo entre significante e significado, que irá reconceituar a estrutura como multiplicidade rizomática, a qual destacará a centralidade dos códigos semiótico-materiais estudados nas Mitológicas na articulação do socius primitivo, e que acrescentará à problemática da estrutura e da série (o totemismo e sua analogia de proporcionalidade, o sacrifício e sua analogia de proporção) o tema extrasserial do devir, conceito-chave que purga a relação estruturalista de seu último compromisso com a estabilidade ou a anterioridade dos termos, permitindo finalmente pensar uma relação com a alteridade para além da metáfora e da metonímia — para além, isto é, da linguagem.
Um duplo desvio então, de meu trabalho em relação à disciplina em que veio a se inscrever: o primeiro para “dentro” da antropologia, em direção ao pensamento indígena que era sua matéria e, como vim a concluir, também seu espírito; o segundo para “fora” dela, em direção à sua forma discursiva e matriz conceitual englobante, a filosofia. (Esses locativos “dentro” e “fora” poderiam, é claro, ser invertidos, ou talvez devessem sê-lo).
Tais incursões nas fronteiras externas e internas da antropologia estrutural possuíam uma clara motivação política (clara para mim, é claro!). Entendíamos — agora não falo só de mim, mas de outros companheiros de geração — que, se a antropologia tinha algo de distintivo a oferecer ao imaginário político da esquerda, algo de diferente da sociologia da desnaturalização ou da crítica da economia política do capitalismo, esse algo era a alteridade cultural radical. Nas palavras de Ghassan Hage, que me permito citar (e grifar a meu gosto):
Para a história, a sociologia ou a psicologia enquanto disciplinas críticas, os modernos somos apresentados a forças que têm um papel causal sobre nós. Já no caso da antropologia, somos levados para fora de nós sem que haja um tal nexo causal direto entre esta exterioridade e nós mesmos. Aprender algo sobre a cosmologia dos Aranda nos mostra que há modos de se relacionar com o universo que são radicalmente diferentes daqueles dos modernos, mas não somos de forma alguma convidados a ver qualquer relação causal entre a cosmologia dos Aranda e a nossa. E não obstante, somos ao mesmo tempo instados a considerar que o modo de vida dos Aranda possui uma relevância para nossas vidas. Pois haverá sempre algo em nós que permite que nos tornemos Aranda. O trabalho crítico da antropologia nos expõe à possibilidade de sermos outros do que somos, e faz dessa possibilidade uma força em nossas vidas. A sociologia crítica nos convida a ver como nosso mundo social é constituído e como pode ser feito e refeito por nós. A antropologia crítica assemelha-se antes ao ato xamânico de induzir uma presença obsedante (haunting): ela nos encoraja a nos sentirmos “frequentados” (haunted) a cada momento de nossas vidas pelo que poderíamos ser mas que não somos (Hage 2011. Ms.)
Notem que Hage, libanês radicado na Austrália, etnógrafo do conflito israelense-palestino, é, não obstante, um defensor intransigente da centralidade heurística da antropologia “primitivista”, pois entende ser esta o instrumento indispensável para suplementarmos o imaginário crítico do “anti-” — cuja dominância exclusiva e muito ocasional sucesso produziu situações deprimentemente parecidas com aquilo contra o que se lutava (o anti- sempre meio que acaba como antes) — com um imaginário do “alter-” (cf. o altermundialismo), positivo antes que apenas opositivo, possibilista antes que necessitarista, um imaginário lateral ou transversal, um desvio não pavimentado que nos tire de nossa milenar autoestrada messiânica e nos conduza a outros possíveis humanos, possíveis que compõem o que Hage chama, no texto que acabei de citar, de “o espaço do ingovernável”, aquilo que não se deixa domesticar por qualquer dispositivo político atualmente existente, em particular pela forma-Estado (ele pensa, por suposto, no conflito palestino). A alteridade e a multiplicidade como forças revolucionárias. A revolução, ou a essa altura será melhor dizer, a insurreição e a alteração começam pelo conceito. Para além das variações em imaginação, a variação da imaginação.
Em suma, o desafio que nos oferecia essa opção pela antropologia da alteridade cultural radical — e que poderíamos rotular, sem nenhuma ironia, de exotismo estratégico — era o de conectar a crítica dos fundamentos metafísicos do colonialismo, empreendida (ou iniciada) pela antropologia de Lévi-Strauss, com a crítica dos fundamentos colonialistas da metafísica, empreendida pelo pós-estruturalismo filosófico — 1968, o ano que não só não terminou (não deixaram), como não cessa de ameaçar recomeçar.
Meu trabalho concreto como etnólogo consistiu na elaboração de duas teorias a respeito das sociedades americanas: (1) uma teoria sociológica, que estabelece o laço de afinidade como o esquema genérico da relação social indígena, validando assim o espírito (mais que a letra) da doutrina lévi-straussiana da aliança; esta é a chamada “teoria da afinidade potencial”, a caracterização de uma sociologia indígena na qual a diferença antes que a semelhança é o esquematismo relacional fundamental; e (2) uma teoria cosmológica, que propõe uma redistribuição dos valores atribuídos pela metafísica ocidental às categorias da Natureza e da Cultura; esta é a tese do perspectivismo ameríndio, ou “perspectivismo multinatural”, e que pode ser descrita como uma teoria imanente ameríndia que põe a equivocação comunicacional como fundamento da relação (isto é, da comparação) entre as espécies — uma ecologia do equívoco ou da homonímia (por oposição às doutrinas da sinonímia que subjazem à imagem corrente da comparação antropológica), derivada de uma economia ontológica sui generis dos componentes somático e semiótico (o corpo e a alma) dos existentes.
Mas meu forte (ou meu fraco) sempre foi a síntese, a generalização e a comparação antes que a análise fenomenológica fina de materiais etnográficos. Essas duas teorias supracitadas foram o resultado de uma extrapolação, no limite do verossímil, do trabalho de muitos outros pesquisadores além de mim mesmo, entre os quais caberia destacar, com o risco de graves omissões, os nomes de Bruce Albert, Joanna Overing, Peter Rivière, Tânia Stolze Lima, Philippe Descola, Anne-Christine Taylor e Peter Gow. Se respondo por alguma contribuição original aqui, terá sido a consolidação desse vasto trabalho coletivo sobre o parentesco e a cosmologia dos povos amazônicos em uma grande teoria unificada, que não peca, reconheço, por falta de ambição.
O objeto dessa teoria é uma entidade de dimensões continentais, ainda que seu modo de existência seja antes intensional que extensional. Muito mais que um objeto, o que essa teoria define para si é um interlocutor, um (co)respondente dialógico que tem o aspecto de uma sofisticada cosmopolítica indígena, para usarmos o conceito forjado por Isabelle Stengers e popularizado por Bruno Latour. (Essa redefinição é, de certo ponto de vista, a estrutura mesma da teoria, sua “filosofia”.). Poderíamos também chamar essa cosmopolítica de um pensamento, ou de uma tradição intelectual: a tradição-tradução especificamente americana do pensamento selvagem. Para chamá-la “pensamento”, porém, é preciso que sejamos capazes de, imitando ao nosso modo os índios (que não é o modo deles), pensar o pensamento como algo que, se passa pela cabeça, não nasce nem fica lá; ao contrário, investe e exprime o corpo da cabeça aos pés, e se exterioriza como afeto incorporante: predação metafísica, canibalismo epistêmico, antropofagia política, pulsão de transformação do e no outro.
Interlocutor dialógico mas também contrário antilógico, o pensamento ameríndio está disposto em uma relação de tensão constitutiva com sua descrição antropológica. A tensão existe na medida em que essa cosmopolítica indígena — a qual, não custa repetir, é uma construção experimental, resultado de uma técnica de “coloração contrastiva” dos termos em comparação — projeta um campo de pressupostos conceituais muito diverso daquele em que se inscreve nossa disciplina, herdeira legítima, ainda que possa sê-lo a contragosto, da “grande tradição” filosófica da modernidade. Com efeito, o pensamento ameríndio pode ser descrito como uma ontologia política do sensível, um pan-psiquismo materialista radical que se manifesta sob a forma de um perspectivismo imanente: perspectivismo ontológico e topológico, em contraste com os perspectivismos epistemológicos e geométricos dominantes em nossa tradição. Esse pensamento pensa então um universo denso, saturado de intencionalidades ávidas de diferença, que se sustentam reciprocamente de suas respectivas distâncias perspectivas; onde todas as relações são concebidas como sociais (isto é, como formas-forças duplas, com uma face visível e outra invisível), determinando idealmente todos os termos como sujeitos dotados de um ponto de vista; ao mesmo tempo, elas são esquematizadas por uma imagística oral-canibal, uma tópica obsessivamente trófica que declina todos os casos e vozes concebíveis do verbo comer: dize-me como, com quem, e o que comes (e o que come o que comes), e por quem és comido, e a quem dás comida (e por quem te absténs de comer), e assim por diante — e te direi quem és. É pela boca que se predica.
Esses sujeitos então de que se compõe o mundo — é importante notar que eles são o mundo, formando seu tecido perspectivo último, e não apenas estão no mundo como dentro de um quadro neutro que precedesse os pontos de vista33. A alternativa portanto é mais rica que aquela, tão repisada pelos antropólogos de persuasão fenomenológica, entre a noção transcendente de uma “visão de mundo” e a noção imanente de uma “visão no mundo”. O perspectivismo ameríndio postula uma visão do mundo, o mundo como visão, mundo feito de olhos – de olhos e de bocas – mundo vidente-canibal, onde tudo que há, vê e come. — esses sujeitos se acham dispostos ao longo de um único contínuo somático-semiótico, que vai da predação à comunicação e vice-versa. Um mundo que muitos chamariam antropomórfico, mas que ninguém poderia chamar antropocêntrico, pois ali o que o homem dá é a desmedida de todas as coisas, ao mesmo tempo em que é medido e mediado por elas todas. Um mundo, enfim, metafisicamente antropofágico, onde a alteridade é anterior à identidade, a relação superior aos termos, e a transformação interior à forma (Viveiros de Castro 2007).
Em outras palavras, essa cosmopolítica, ou ontologia política da diferença sensível universal, atualiza um outro universo que o nosso, ou outra coisa que um uni-verso — o seu cosmos é um multiverso, para falarmos como William James, uma multiplicidade de províncias e agências intersecantes em relação de “desarmonia preestabelecida”, como procurei mostrar em minhas considerações sobre o “multinaturalismo” indígena (Viveiros de Castro 1996, 2004). Esse pensamento, enfim, reconhece outros modos de existência que o nosso; justifica uma outra prática da vida, e um outro modelo do laço social; distribui diferentemente as potências e as competências do corpo e da alma, do humano e do extra-humano, do geral e do particular, do ordinário e do singular, do fato e do feito; mobiliza, em suma, toda uma outra imagem do pensamento. Alteridade cultural radical. Como explicou um kadiwéu à etnógrafa Mônica Pechincha (1994:140): “O índio é parecido, mas o pensamento dele é muito diferente”. Aforismo contra-antropológico exemplar, visto que alguém de nosso ofício diria, antes, algo como: “o índio parece diferente, mas seu pensamento é muito semelhante”. Eis que o “selvagem”, então, parece que pensa diferentemente sobre o pensamento selvagem.
Tal alteridade, na medida em que a alteridade ela mesma (se posso me exprimir assim) torna-se, como vimos, outra conforme se a tome de um lado ou do outro da interface antropológica, coloca um desafio para sua descrição, pois oferece implicitamente uma contradescrição de nossa própria cosmopolítica, cujo fundamento identitarista, substancialista e antropocêntrico é inegável, e aparentemente inamovível. A menos de conseguirmos, isto é, rasgar a interface que separa o “lado de dentro” (o discurso antropológico) e o “lado de fora” (o discurso do nativo) da relação de conhecimento e dobrá-la em uma fita de Möbius, mediante uma dupla torção idêntica àquela descrita por Lévi-Strauss na célebre fórmula canônica do mito, operação que equivale, nas palavras de Mauro Almeida (2008), a “desorientar um juízo”. Maravilhosa definição esta da missão epistemológica própria da antropologia: desorientar o juízo, relativizar a razão, criar uma continuidade através de uma dupla descontinuidade, fazer variar a verdade demonstrando a verdade da variação. A antropologia do antropólogo está em relação de dupla torção transformativa com a contra-antropologia de seu interlocutor. Uma obvia a outra, diria Roy Wagner: o que é o único modo de compreender o que quer que seja.
Transformação é, precisamente, “o nome do jogo”, como se diz na gíria americana. Ela é o tema de nossa conferência, no qual já entramos faz algum tempo sem nos darmos conta disso. O privilégio que, para além daquele que lhe concedeu seu maior especialista, as culturas ameríndias concedem elas próprias à ideia de transformação — à noção de que todo existente se define exaustivamente como variante de um outro,44. Na definição lapidar de Patrice Maniglier, “a antropologia é uma ontologia formal de nós mesmos enquanto variantes”. Ver seu texto ainda inédito, “The other’s truth: logic of comparative knowledge”. Departmental Seminar of the Department of Philosophy of the University of Essex (17 December 2009). de que toda forma é o resultado de uma metamorfose, toda “propriedade”, um “roubo”, sendo a interiorização contingente de uma captura, uma receptação, uma possessão do im-próprio — esse privilégio oferece uma oportunidade valiosa para a validação reflexiva do grandioso projeto comparativo da antropologia, que exprime, em sua negatividade afirmativa, um desejo incessantemente autocontrariado mas insistentemente reiterado de transformação descentrante de seu próprio enunciador: “o Anti-Narciso”, como chamei certa feita a este projeto. É pela transformação — mas como veremos, a transformação à indígena — que se abre um portal dimensional capaz de nos libertar de nossa própria célula ou clausura cosmológica, com suas paredes decoradas de formas substanciais e de essências imarcescíveis, onde ecoa há séculos a “filosofia messiânica” da produção hominizante, versão laica da teologia monárquica da criação. Se é que há algo de realmente laico na antropotecnia espectral do Ocidente cristão, de São Paulo a Heidegger, a Zizek, e além.55. Ver Fabián Ludueña Romandini (2011), que interpreto muito livremente aqui.
É certo que a palavra e a ideia de transformação gozam de grande popularidade na antropologia, proporcional à sua vagueza e à convicção difusa, na sensibilidade contemporânea, de que ela nomearia uma propriedade essencial da realidade. Mas não é tão certo que essa popularidade esteja inteiramente divorciada do profundo apelo, na cultura ocidental, de uma visão escatológica ou, para voltarmos ao parágrafo anterior, messiânica de progresso ascensional em direção à forma perfeita: a transformação é signo da condição transitória do existente.
Aqui não farei mais que esboçar as linhas gerais de uma decomposição dessa ideia genérica de transformação. Interessa-me seu funcionamento dentro da antropologia “clássica”, aquela que estuda processos e estruturas característicos de coletivos situados em posição de alteridade (variamente especificável) em relação ao coletivo de onde emana o discurso do analista. Interessa-me, sobretudo, mostrar como as transformações do conceito de transformação em antropologia foram transformando o conceito de antropologia — donde nosso título.
Pode-se dizer que, historicamente, a disciplina tem enfatizado dois esquemas “actanciais” básicos (no sentido greimassiano) da noção de transformação. Ambos se referem a processos que incidem focalmente sobre os coletivos estudados, isto é, que não registram nenhum efeito direto significativo sobre o discurso analítico a respeito desses mesmos processos.
O primeiro esquema é aquele subjacente às diversas doutrinas estrutural-funcionalistas da mudança, que se interessam tipicamente pela descrição do impacto da “modernidade” — as sociedades europeias, as formações coloniais e os Estados nacionais — sobre os coletivos não modernos: os povos ameríndios, por exemplo. Esse esquema concebe a transformação como um processo no qual os coletivos-alvo são antes de tudo o objeto e paciente, ainda quando possam ser, contingentemente (e inconscientemente), mediadores do processo. Este é o esquema básico das teorias da aculturação e do contato interétnico.66. Mas ele se aplica igualmente bem nos estudos de “história” pré-colombiana, até porque é esta mesma concepção substancialista que preside aos vários determinismos ambientais ou tecnológicos da escola da ecologia cultural, cujo papel na etnologia e arqueologia sul-americanas teve – e talvez continue tendo – a importância que se sabe. Poderíamos chamá-lo de esquema “nominativo-acusativo”: o coletivo-sujeito A faz o coletivo-objeto B passar de seu estado inicial (muitas vezes concebido como um estado primigênio) a um estado B’, que contém dentro de si “partes” ativas de A (efeitos ou índices de A). O coletivo-ativo A normalmente termina por absorver o coletivo-passivo B como um estado a’ de si mesmo (de A), isto é, como uma transformação duplamente “parcial” de A, uma variante empobrecida do coletivo-sujeito que é incluída como parte sua: as partes que A inoculou em B terminam por fazer de B uma parte de A. A muda B; B é mudado por A; B vira A. Tudo isso segundo uma concepção de sociedade, de história e de mudança definida nos termos em vigor no coletivo A. No mais das vezes, essa concepção, para além de apenas descritiva, é crítico-normativa; ela lamenta a transformação de B, e se acompanha de um generoso desejo de emancipação de B em face de A. Sempre de acordo, porém, com as normas teóricas do discurso de A, entre as quais está a definição de A do que seja emancipação.
O paradigma estrutural-funcionalista da mudança continua em vigor, tendo sofrido uma renovação recente com a problemática neodifusionista da globalização e do sistema mundial. Mas ele compete, já há algum tempo, com o que se poderia chamar de interpretação “estrutural-culturalista” da transformação, emblematicamente ligada ao nome de Marshall Sahlins. O interesse deste último paradigma se volta para as transformações que a “ordem simbólica” indígena — instância definida, é importante observar, segundo critérios não necessariamente indígenas — imprime às transformações suscitadas pelo ambiente histórico que envolve os coletivos-alvo. O processo desencadeado aqui tem, portanto, os coletivos indígenas como seu sujeito, ainda que eles sejam, inevitavelmente (e de modo geral evidente para eles mesmos), também seu objeto autopaciente; um modelo que poderíamos rotular de “quase ergativo” (ou, quem sabe, de “ergatividade cindida”, se eu soubesse exatamente o que é isso...). A mudança histórica é, na caracterização precisa de Sahlins, “externamente induzida mas indigenamente orquestrada” (Sahlins 1985:viii). Notem que ele fala em indução, não em causação; e em orquestração, o que sugere menos uma criação original que um arranjo, uma bricolagem, uma transposição: a música não é nativa, mas os nativos a dançam conforme o ritmo (e os instrumentos, e o que mais) que impuseram a ela. Como sabemos, há arranjos que mudam completamente a música. A causalidade histórica é subdeterminante.
O objeto da descrição antropológica passa a ser, neste paradigma, o processo necessário (universal) de refração simbólica do evento — até mesmo aquilo que conta como evento é, ao menos em parte, dependente desse índice de refração (o evento pode não penetrar na cultura, se o meio de refração for muito elevado para aquele comprimento de onda histórica). O fenômeno típico passa a ser agora aquele, recursivo, mais complexo que a vetorização unidirecional do esquema anterior, da “transformação da transformação”. E a palavra de ordem epistemo-política passa a ser a “agência histórica” dos coletivos em transformação, com o surgimento da tese contra-hegemônica da “indigenização da modernidade”: uma emancipação de direito ou a priori, por assim dizer, antes que a emancipação a posteriori ou de fato propugnada pela primeira doutrina da transformação. O esquema actancial da transformação, neste segundo caso, é algo como: B se transforma em B’ por ocasião e intermédio da entrada de A em seu horizonte de eventos. No decorrer do processo, B-B’ contratransforma A em A’, na medida mesma de sua participação em A (que pode, aliás, ser muito pequena — ou não). Isso transforma o sistema formado por A, B e outras “letras” em um superobjeto C (C é uma boa letra para nos lembrar da China, e do que ela está se mostrando capaz de fazer em matéria de transformação da transformação).
Note-se que a transformação aqui não é hierárquica nem finalizada, no sentido de que os diferenciais de poder entre os coletivos não estão ordenados segundo um princípio transcendente de valor (a história mundial, a evolução do capitalismo, a subsunção real etc.). Isto não significa necessariamente que seja como no ditado popular francês, “plus ça change, plus c’est la même chose”. Tal é sim, de fato, a regra ou a expectativa metodológica inicial do esquema; mas é óbvio que, muitas vezes, quando ça change, então, ce n’est plus du tout la même chose. No mínimo, na falta de uma coluna de mármore ou outro objeto pesado, haverá sempre a proverbial palha que quebra a espinha do camelo.
Essa segunda leitura do conceito de transformação tem muito a recomendá-la, a começar pela desvitimização moral, descolonização teórica ou liberação espiritual (releve-se-nos o adjetivo) dos coletivos indígenas, afastando assim um pesado ônus inerente ao esquema estrutural-funcionalista (Viveiros de Castro 1999), sem que ela desemboque necessariamente em algum elogio romântico da resistência ou, inversamente, em uma celebração pós-modernista da hibridação criativa. (Os adjetivos que grifei são insultos muito em voga, que me sinto cada vez menos inclinado a repetir). Não há dúvida que ela pode induzir certo otimismo antropológico exagerado, e dar margem a mal-entendidos como aquele que opôs nas páginas da revista L’Homme, poucos anos atrás, Lévi-Strauss aos editores do volume sobre a América do Sul da Cambridge History of the Native Peoples of America. Mas ela contém duas possibilidades de desenvolvimento muito fecundas, e que as décadas seguintes aos trabalhos fundadores de Sahlins vieram atualizar.
Em primeiro lugar, a ideia de uma necessária refração simbólica do evento traz embutida a possibilidade de uma interpretação maximalista que dissolva a dualidade (mesmo “dialética”) estrutura/evento, ainda demasiado próxima do esquematismo clássico que postula um objeto pré-constituído a sofrer uma ação reconstituinte ou desconstituinte por parte de um outro objeto também pré-constituído. A interpretação maximalista — radicalmente estruturalista, na verdade — parte do princípio de que o objeto de toda transformação é sempre uma outra transformação, e não alguma substância sociocultural preexistente. O mote da “transformação da transformação” passa com isso a descrever a totalidade do fenômeno, e não uma ação reflexa de um objeto que transforma ou “orquestra” uma transformação “induzida”. É sempre uma transformação que transforma outra transformação. Em outras palavras, plus c’est la même chose, plus ça change (creio que a boutade é de Jean Pouillon): a “coisa” é sempre uma variação. As transformações podem ser comparadas e ponderadas, mas não podem ser mais vistas como ações de coisas, como verbos que modificam substantivos/substâncias tais como culturas, essências, sujeitos pré-relacionais. Em outras palavras, as transformações históricas estão em continuidade com as transformações estruturais, as sociedades em “contato” são forçosamente transformações umas das outras. A dialética entre estrutura e evento é interior à estrutura, que é ela própria um evento para outra estrutura e assim por diante.
Essa interpretação permite que se cruze sem muita hesitação a fronteira entre o paradigma estrutural-culturalista de Sahlins e a teoria propriamente estruturalista (ou pós) da transformação, tal como exposta e sobretudo como exemplificada nas Mitológicas de Lévi-Strauss, obra que, como Peter Gow provocativamente qualificou, é a primeira verdadeira história indígena das Américas. Não esqueçamos que, começando com O pensamento selvagem e culminando nas Mitológicas, o estruturalismo sofre uma transformação fundamental, aquela que substitui o conceito de sistema pelo conceito de transformação como seu operador teórico distintivo. Uma estrutura é apenas um certo arranjo, ou orquestração, de transformações. Não esqueçamos porém, ao mesmo tempo, que a definição de transformação estrutural, a única jamais oferecida por Lévi-Strauss, foi avançada muito cedo em sua obra, em 1955 para sermos exatos: trata-se da já citada, e famigerada, “fórmula canônica do mito” que, como mostrou Mauro Almeida em um artigo memorável, é um operador propriamente ontológico que descreve a transposição de fronteiras semânticas e históricas, ou melhor, que descreve a transposição da fronteira entre a semântica e a história, o pensamento e o real, abrindo-se à invenção do novo. A “fórmula canônica do mito” é a primeira formulação e formalização da “invenção da cultura”.
Mas ela é, também, uma formalização da “transformação da transformação”, que equivale a uma estenografia da capacidade nativa de pensar a transformação. Por outras palavras, a ordem simbólica nativa que refrata o evento deve ser, ela própria, pensada nos termos da ordem simbólica nativa,77. Este é um tema fundamental das antropologias de Roy Wagner e Marilyn Strathern, e que tem sido variamente enfatizado por autores como Annelise Riles, Joel Robbins, Tony Crook, Rupert Stasch e Justin Shaffner, entre outros. o que cria forçosamente uma tensão heurística com o discurso antropológico da transformação e da história. A segunda e decisiva possibilidade que essa indigenização da transformação veio atualizar, então, consistiu na inclusão da teoria antropológica, ela própria, no escopo daquilo que é transformado pelas transformações indígenas. Surge assim o tema das transformações indígenas da antropologia, que seriam o inverso e o correlato das transformações “antropológicas” dos indígenas. Por transformações indígenas da antropologia entendo as transformações da estrutura conceitual do discurso antropológico suscitadas por seu alinhamento em simetria com as pragmáticas reflexivas indígenas, isto é, com aquelas etnoantropologias alheias que descrevem nossa própria (etno-)antropologia precisamente ao e por divergirem dela.88. Mas entendo também, por essa expressão, a incorporação pelas etnoantropologias indígenas de conceitos emblemáticos da etnoantropologia dominante (a nossa), com significados e objetivos próprios. O exemplo mais conhecido desse fenômeno é o que Manuela Carneiro da Cunha vem chamando de “cultura entre aspas”: a apropriação pelas culturas nativas do conceito antropológico de cultura. Teríamos neste caso uma complexa transimetrização, ou transfusão recíproca de equivocidades homonímicas, entre os dois lados da interface antropológica. Nesta terceira configuração actancial, então, os estilos de pensamento dos coletivos “antropológicos” (aqueles povos estudados pela disciplina ocidental do anthropos) são o sujeito, e a disciplina antropológica é o objeto da transformação. Note-se que aqui já não se trata mais de “emancipar o nativo”, de direito ou de fato, mas de emancipar a antropologia de sua própria história. Vacina antropofágica: é o índio que virá (que eu vi) nos emancipar de nós mesmos. Antes de sairmos a emancipar os outros (de nós mesmos), emancipemo-nos nós mesmos, com a indispensável ajuda dos outros.
É claro que a antropologia irá necessariamente transformar essa transformação, refratá-la conceitualmente: refração da refração, transformação da transformação da transformação. Pois não se trata de supor que, uma vez superada a fase em que a antropologia era um discurso sobre o pensamento (e a ação etc.) dos povos que estudava, possamos passar, ou devamos passar, a pensar como esses povos, invertendo a pulsão missionária irrefreável que nos faz pensar que, se não se trata mais de fazer os outros pensarem como nós, então devemos, nós, pensar como eles. O que podemos, e devemos, no mínimo e no máximo, é pensar com eles, levar, em suma, seu pensamento a sério — a diferença de seu pensamento a sério. É apenas pela acolhida integral dessa diferença e dessas singularidades que se poderá imaginar — construir — o comum.
As concepções nativas da transformação incluem as concepções nativas do que se transforma, e ambos estes conjuntos de concepções impõem uma transformação das concepções antropológicas sobre a transformação. As transformações indígenas da antropologia são, assim, o objeto de um esforço de “repensar a antropologia” em outro (mas não contraditório) sentido que o classicamente proposto por Leach (1961). Um sentido em que isso signifique um “reantropologizar o pensamento”: o pensamento antropológico e, por via dele, a tradição intelectual em que ele banha. Em suma, pensar a antropologia ocidental por via das antropologias indígenas antes que o contrário. É assim que entendo a ideia latouriana de uma “antropologia simétrica”. Não a entendo como uma tentativa de descobrir igualdades, semelhanças ou identidades entre antropólogos e nativos, teorias científicas e cosmologias indígenas, e assim por diante (Viveiros de Castro; Goldman e Almeida 2006). A simetrização é simplesmente uma operação descritiva que consiste em tornar contínuas as diferenças entre todos os termos analíticos: a diferença entre a “cultura” (ou “teoria”) do antropólogo e a “cultura” (ou “vida”) do nativo, em especial, não é considerada como possuidora de qualquer privilégio ontológico ou epistemológico sobre as diferenças “internas” a cada uma dessas “culturas”; ela não é mais nem menos condicionante que as diferenças de ambos os lados da fronteira discursiva. O que não é a mesma coisa que dizer que não há diferenças essenciais entre nós e eles. Pois não se trata de dizer, como Rorty (1991), que a distinção antropológica entre o intercultural e o intracultural é falaciosa, já que a diferença entre culturas não difere em natureza da distinção entre teorias encontráveis dentro de uma mesma cultura. A solução para este equívoco está, mais uma vez, em Lévi-Strauss. Primeiro, quando este observava, já lá vão muitos anos, que uma “cultura” é a designação de um conjunto de afastamentos diferenciais, e que, como tal, seus limites são função das questões que o antropólogo se coloca — a objeção de Rorty pressupõe ilegitimamente o que quer desprovar — e segundo, quando nos damos conta de que é possível percorrer, por transformações topológicas contínuas, todos os diferentes esquemas conceituais, estilos de pensamento e formas de vida de que é capaz a espécie humana (e de passar dela a outras espécies pela mesma via), os quais — estilos, esquemas, formas — não são mais que pontos de cristalização historicamente transitórios e contingentes desse fluxo transformacional universal.
O postulado da continuidade possui assim algumas implicações. A primeira delas é que as transformações “socioculturais” de que a antropologia tradicionalmente se ocupa não são incomensuráveis com as transformações intrassemióticas que ocorrem entre “discursos”, como a antropologia ocidental e as “cosmologias” indígenas (até porque estes últimos objetos existem sob a forma de pragmáticas rituais, interacionais e corporais tanto quanto sob a forma de textos míticos, especulativos ou exegéticos dotados de semantismo propriamente linguístico). As transformações indígenas da antropologia e as transformações antropológicas dos indígenas são processos mutuamente conversíveis do ponto de vista de sua inteligibilidade, ainda que não sejam de forma alguma o mesmo processo. Um conceito rigorosamente (pós-)estruturalista de transformação recusa a estanqueidade entre processos que se passam no plano do signo e processos que ocorrem no plano do referente, uma vez que tal distinção é tão relativa e contextual como aquela — trata-se, no fundo, da mesma distinção — entre sentido literal e sentido figurado, que Lévi-Strauss, certa feita, comparou ao sexo dos caramujos (Lévi-Strauss 1985:254). A segunda e correlativa implicação é que o postulado da continuidade bloqueia o automatismo conceitual “unilateralista” que engloba hierarquicamente o discurso do observado pelo discurso do observador (Viveiros de Castro 2002), uma vez que, como vimos, cada um dos discursos passa a ser visto estritamente como uma versão — uma transformação — do outro, estando assim ambos em relação de pressuposição recíproca. A terceira e última implicação, e aqui repito algo que disse há pouco, é que a distinção entre processos intraculturais e processos interculturais é vista igualmente como uma distinção relativa e relacional, não possuindo nenhuma substância, exceto a que lhe foi emprestada pelo recorte analítico requerido para a boa posição de um problema, com o importantíssimo adendo de que esse recorte analítico não se faz no papel, mas na interação concreta e vivida do “momento etnográfico”: as culturas se inventam ao se encontrarem, e encontros diferentes inventam culturas diferentes — não apenas “em teoria”, mas na prática real e política da interação entre antropólogo e nativo. A lição geral é que a descontinuidade ou o estabelecimento de “afastamentos diferenciais” entre termos em transformação comparativa — e a comparação é um caso particular da transformação — não exclui, mas ao contrário supõe, a continuidade entre as diferenças.
Concluo. Indicar a capacidade dessa outra cosmopolítica — um outro cosmos e uma outra política — entrar em transformação, isto é, em situação de diferença inteligível com as correntes conceituais que atravessam nossa própria tradição é, no meu entender, a missão que hoje se impõe à antropologia. Em primeira instância, esse pensamento não pode deixar de se apresentar para nós — a menos de o vermos como uma versão antecipatória bisonha das verdades que soubemos desenvolver com nossos meios técnicos e mentais superiores — como ecoando estranhamente o outro lado de nosso pensamento, ou seja, aquilo que nosso pensamento vê como seu outro lado, seu lado menor, marginal, excêntrico: o lado dos perdedores da história intelectual do Ocidente moderno. Não é assim de se espantar (Lévi-Strauss já o notara, com intenção irônica ou polêmica, para o caso de alguns pensadores de seu tempo) que a etnografia ameríndia, por exemplo, mostre espantosas convergências com o que Pierre Montebello (2003) chamou de “a outra metafísica”, aquela corrente submersa de pensamento alheia ou antagônica à revolução kantiana que gerou os gêmeos inimigos mas profundamente solidários da filosofia contemporânea, a saber, a filosofia analítica anglo-saxã e a fenomenologia “continental”, ambas tributárias da “virada linguística” que converteu todas as questões ontológicas em questões epistemológicas, e subordinou toda indagação sobre o real à questão das condições de nosso acesso a ele — é o que se chama hoje de “hipótese correlacionista”.99.Ver Quentin Meillassoux (2006). Não é de se espantar, por exemplo, que as descrições das cosmologias amazônicas se deixem traduzir quase que linha a linha nos termos da microssociologia de Gabriel Tarde, com seu pan-psiquismo “animista”, com seu perspectivismo “canibal” de mônadas ávidas formadas pelas forças elementares da crença e do desejo (como pequenos espíritos xamânicos) e movidas por um impulso de absorção universal, com sua ontologia da diferença enquanto “fundo substancial das coisas” — com a ideia de que a identidade é um caso particular e, diz nosso autor, raríssimo, da diferença. Quando Tarde encontra assim inesperadamente Lévi-Strauss, que repete várias vezes em sua obra que “a semelhança não existe em si, mas é apenas um caso particular da diferença”, o caso em que esta “tende a zero, sem jamais se anular completamente” — quando autores que não podiam ser mais… diferentes tornam-se casos particulares de uma mesma ontologia da diferença — a qual, e este é o ponto, é muitíssimo mais visível do planeta Amazônia do que do planeta Europa — então algo nos faz pensar que a outra metafísica de Montebello (linhagem que inclui Tarde, Nietzsche, Whitehead, Bergson, Simondon e, bem entendido, Deleuze) tem muito a conversar, senão mesmo a aprender, com a metafísica dos outros.
As implicações filosóficas dessa cosmopolítica foram perfeitamente percebidas por Lévi-Strauss, a quem não se pode acusar de simpatia pela filosofia, ao menos pela “sua” filosofia, aquela que existia em seu país e cultura antes de sua própria obra ter vindo decisivamente modificá-la. Em uma passagem que se referia apenas à vertente sociológica do trabalho da “Escola do Rio”1010. “Escola do Rio” é o nome que alguns colegas franceses deram (para atacar outros colegas franceses, a quem acusavam de imitar esta escola) à etnologia de inspiração estruturalista (isto é, ao menos originalmente, francesa) feita no Museu Nacional a partir dos anos 1980. — o perspectivismo iria levar o tema muito adiante — o autor escrevia, em um posfácio a uma coletânea sobre parentesco publicada no ano 2000, estas linhas que me marcaram profundamente, tanto no que contêm de advertência, como de clarividência:
É digno de nota que, a partir de uma análise crítica da noção de afinidade, concebida pelos índios sul-americanos como ponto de articulação entre termos opostos: humano e divino, amigo e inimigo, parente e estrangeiro, nossos colegas brasileiros tenham vindo a extrair o que se poderia chamar de uma metafísica da predação. [...] Sem dúvida, essa abordagem não está livre dos perigos que ameaçam qualquer hermenêutica: que nos ponhamos insidiosamente a pensar no lugar daqueles que acreditamos compreender, e que os façamos dizer mais, ou outra coisa, que aquilo que eles pensam. Ninguém pode negar, porém, que ela tenha transformado os termos em que se punham certos grandes problemas, como os do canibalismo ou da caça de cabeças. Dessa corrente de ideias, resulta uma impressão de conjunto: quer nos regozijemos, quer nos inquietemos, a filosofia está novamente no centro do palco antropológico. Não mais a nossa filosofia, aquela de que minha geração queria se livrar com a ajuda dos povos exóticos; mas, em uma notável reviravolta, a deles (Lévi-Strauss 2000:719-720).
Não é de se espantar, enfim e sobretudo, que a chamada “virada ontológica” que vem acontecendo na “nossa” filosofia (por isso falei que a metafísica tornara-se novamente uma ocupação respeitável), e que equivale a um certo “dar as costas” para a linguística, ou pelo menos ao abandono da linguagem como paradigma do fenômeno humano, venha cada vez mais mostrando interesse por alternativas ao correlacionismo antropocêntrico derivado da revolução copernicana de Kant, e que as metafísicas indígenas ofereçam aqui um tesouro de ideias para esse projeto de reontologização do que havia sido reduzido ao epistêmico e ao categorial. Trata-se de repor no mundo o que havia sido posto no eu. Por outro lado, a crise existencial do anthropos — o fim do mundo de que eu falava acima, o sentimento de que a espécie eleita por Deus está tendo um efeito propriamente diabólico sobre a criação divina — tem feito a filosofia contemporânea mostrar um interesse inaudito pelos não humanos, pelas potencialidades conceituais (espirituais, dir-se-ia então) da materialidade mesma do mundo,1111. Ver, por exemplo, Martin Holbraad (2007). pela agência das coisas, a consciência e a personalidade (jurídica inclusive) dos animais, tudo isso na tentativa meio desesperada de reanimalizar metafisicamente o homem depois de séculos de dominância de uma teologia política fundada em sua espectralização (cf. Ludueña). O cansaço com a linguagem — o epítome mesmo do que seria o “próprio do humano” — passa por essa crise; já não queremos mais tanto saber o que é próprio do humano: se a linguagem, o simbólico, a neotenia, o trabalho, o Dasein… Queremos saber o que é próximo do humano, o que é próprio do vivente em geral, o que é próprio do existente. O que é, enfim, o comum. Aqui também há muito que aprender com a “filosofia deles” — com as metafísicas indígenas, que afirmam a humanidade como condição original comum da humanidade e da animalidade, antes que o contrário, como em nossa vulgata evolucionista, e que, ao princípio solipsista e dualista do “penso, logo existo”, contrapõem o pan-psiquismo perspectivista do “existe, logo pensa”, que instaura o pensamento imediatamente no elemento da alteridade e da relação, fazendo-o depender da realidade sensível do outro. Uma grande transformação. As transformações por que passa a disciplina antropológica refletem transformações na nossa antropologia, entenda-se, no modo de ser da nossa espécie, de sua ontologia. A disciplina está em mudança não só porque o logos não é mais o que foi, mas porque o anthropos não será mais o que é.
Notas
Referências bibliográficas
ALMEIDA, Mauro. 2008. “A fórmula canônica do mito”. In: Caixeta de Queiroz, Rubem & Freire Nobre, Renarde (orgs.), Lévi-Strauss: leituras brasileiras. Belo Horizonte: Editora da UFMG. pp. 147-182.
CHAKRABARTY, Dipesh. 2009. “The climate of history: four theses”. Critical Inquiry, 35:197-222.
HAGE, Ghassan. 2011. Critical anthropologial thought and radical political imaginary today. Ms. Inédito.
HOLBRAAD, Martin. 2007. “The power of powder: multiplicity and motion in the divinatory cosmology of Cuban Ifá”. In: Henare, Amiria; Holbraad, Martin & Wastell, Sari (orgs.), Thinking through things: theorising artefacts ethnographically. London: Routledge. pp. 189-225.
LEACH, Edmund. 1961. “Rethinking anthropology”. Rethinking anthropology. Londres: Athlone. pp. 1-27.
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1985. La potière jalouse. Paris: Plon.
___. 2000. “Postface”. L’Homme, 154-155:719-720.
LUDUEÑA ROMANDINI, Fabián. 2011. La comunidad de los espectros. I. Antropotecnia. Buenos Aires: Mino y Dávila Editores.
MANIGLIER, Patrice. 2009. “The other’s truth: logic of comparative knowledge”. Departmental Seminar of the Department of Philosophy of the University of Essex (17 December 2009). Ms. Inédito.
MEILLASSOUX, Quentin. 2006. Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence. Paris: Seuil.
MONTEBELLO, Pierre. 2003. L’autre métaphysique. Essai sur Ravaisson, Tarde, Nietzsche et Bergson. Paris: Desclée de Brouwer.
PECHINCHA, Mônica T. S. 1994. Histórias de admirar: mito, rito e história kadiwéu. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade de Brasília.
RORTY, Richard. 1991. “Solidarity or objectivity?” Objectivity, relativism, and truth. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 26-28.
SAHLINS, Marshall. 1985. Islands of history. Chicago: University of Chicago Press.
STENGERS, Isabelle. 2009. Au temps des catastrophes: résister à la barbarie qui vient. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond/ La Découverte.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1996. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 2(2):115-144.
___. 1999. “Etnologia brasileira”. In: Sérgio Miceli (org.), O que ler na ciência social brasileira (1970-1995), v.1, Antropologia. São Paulo: Sumaré/ANPOCS; Brasília: CAPES. pp. 164-168.
___. 2002. “O nativo relativo”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 8(1):113-148.
___. 2004. “Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation”. Tipití (Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America), 2(1):3-22.
___. 2007. “A floresta de cristal: notas sobre a ontologia dos espíritos amazônicos. Cadernos de Campo, 14/15:319-338.
___. ; GOLDMAN, Marcio & ALMEIDA, Mauro. 2006. “‘Etnologia Indígena’ e ‘Antropologia das Sociedades Complexas’: Um Experimento de Ontografia Comparativa”. Projeto de pesquisa do Núcleo de Antropologia Simétrica (NAnSi), Rio de Janeiro. Ms. Inédito.
Aprovado em 5 de março de 2012
- ALMEIDA, Mauro. 2008. “A fórmula canônica do mito”. In: Caixeta de Queiroz, Rubem & Freire Nobre, Renarde (orgs.), Lévi-Strauss: leituras brasileiras. Belo Horizonte: Editora da UFMG. pp. 147-182.
- CHAKRABARTY, Dipesh. 2009. “The climate of history: four theses”. Critical Inquiry, 35:197-222.
- HAGE, Ghassan. 2011. Critical anthropologial thought and radical political imaginary today Ms. Inédito.
- HOLBRAAD, Martin. 2007. “The power of powder: multiplicity and motion in the divinatory cosmology of Cuban Ifá”. In: Henare, Amiria; Holbraad, Martin & Wastell, Sari (orgs.), Thinking through things: theorising artefacts ethnographically. London: Routledge. pp. 189-225.
- LEACH, Edmund. 1961. “Rethinking anthropology”. Rethinking anthropology Londres: Athlone. pp. 1-27.
- LÉVI-STRAUSS, Claude. 1985. La potière jalouse. Paris: Plon.
- ___. 2000. “Postface”. L’Homme, 154-155:719-720.
- LUDUEÑA ROMANDINI, Fabián. 2011. La comunidad de los espectros. I. Antropotecnia Buenos Aires: Mino y Dávila Editores.
- MANIGLIER, Patrice. 2009. “The other’s truth: logic of comparative knowledge”. Departmental Seminar of the Department of Philosophy of the University of Essex (17 December 2009). Ms. Inédito.
- MEILLASSOUX, Quentin. 2006. Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence. Paris: Seuil.
- MONTEBELLO, Pierre. 2003. L’autre métaphysique. Essai sur Ravaisson, Tarde, Nietzsche et Bergson. Paris: Desclée de Brouwer.
- PECHINCHA, Mônica T. S. 1994. Histórias de admirar: mito, rito e história kadiwéu. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade de Brasília.
- RORTY, Richard. 1991. “Solidarity or objectivity?” Objectivity, relativism, and truth Cambridge: Cambridge University Press. pp. 26-28.
- SAHLINS, Marshall. 1985. Islands of history. Chicago: University of Chicago Press.
- STENGERS, Isabelle. 2009. Au temps des catastrophes: résister à la barbarie qui vient. Paris: Les Empêcheurs de Penser en Rond/ La Découverte.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1996. “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 2(2):115-144.
- ___. 1999. “Etnologia brasileira”. In: Sérgio Miceli (org.), O que ler na ciência social brasileira (1970-1995), v.1, Antropologia. São Paulo: Sumaré/ANPOCS; Brasília: CAPES. pp. 164-168.
- ___. 2002. “O nativo relativo”. Mana. Estudos de Antropologia Social, 8(1):113-148.
- ___. 2004. “Perspectival anthropology and the method of controlled equivocation”. Tipití (Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America), 2(1):3-22.
- ___. 2007. “A floresta de cristal: notas sobre a ontologia dos espíritos amazônicos. Cadernos de Campo, 14/15:319-338.
- ___. ; GOLDMAN, Marcio & ALMEIDA, Mauro. 2006. “‘Etnologia Indígena’ e ‘Antropologia das Sociedades Complexas’: Um Experimento de Ontografia Comparativa”. Projeto de pesquisa do Núcleo de Antropologia Simétrica (NAnSi), Rio de Janeiro. Ms. Inédito.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
01 Ago 2012 -
Data do Fascículo
Abr 2012
Histórico
-
Recebido
01 Mar 2012 -
Aceito
05 Mar 2012