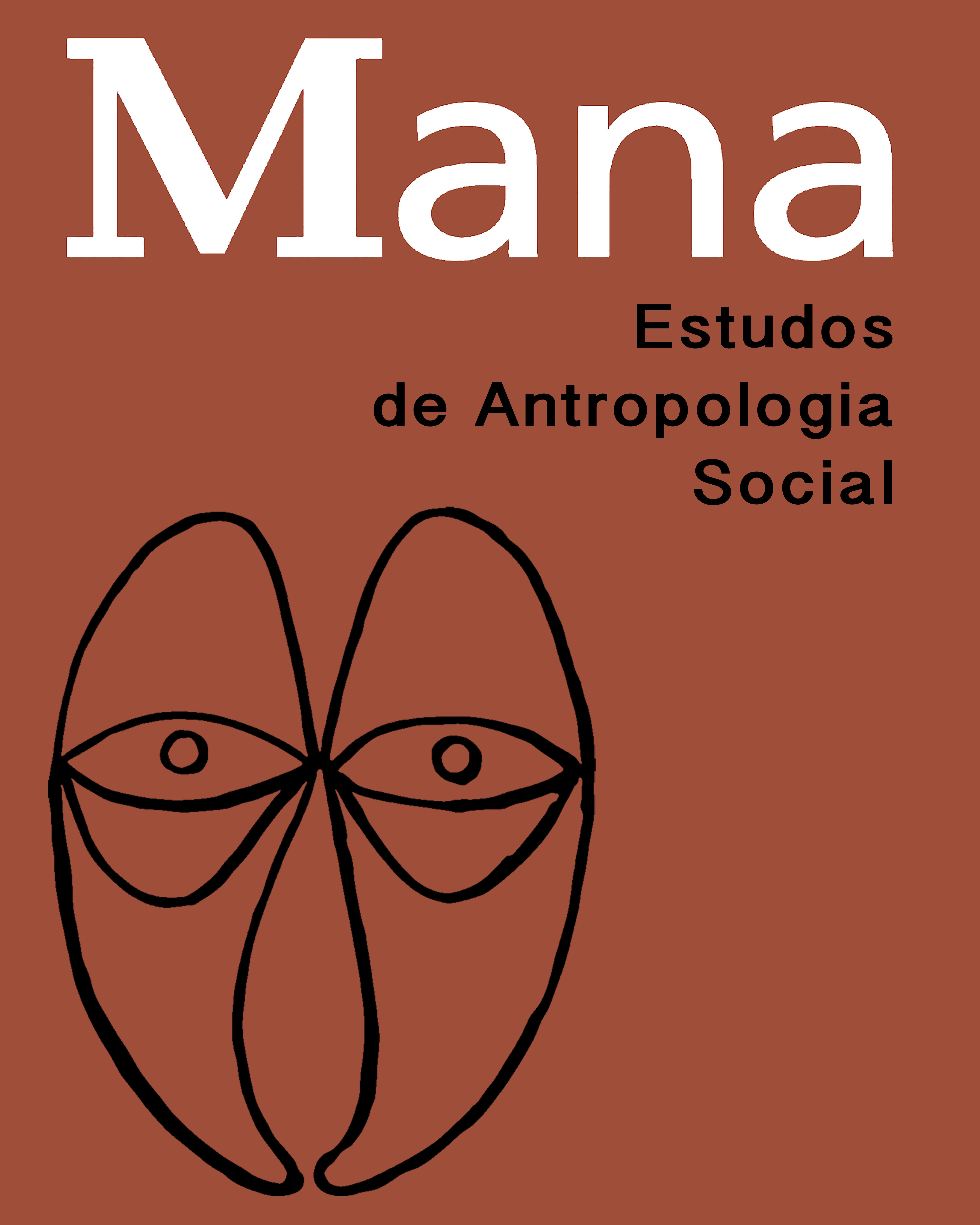ENTREVISTA
O mundo desmagicizado
Lygia Sigaud
Quando Guillhermo Vega Sanabria, então doutorando do PPGAS/MN, procurou os editores de Mana para saber do interesse em publicar uma entrevista que fizera com nossa colega Lygia Sigaud em julho de 2004 (portanto, alguns anos antes de seu falecimento, em abril de 2009), fomos gratamente surpreendidos, pois o material oferecido possibilitaria trazer a público, mesmo que de forma fragmentária, uma das facetas importantes da atuação de Lygia como antropóloga, que era a sua atividade docente.
Aluna da primeira turma do Programa, a de agosto de 1968, Lygia Sigaud foi convidada a tornar-se professora do PPGAS antes mesmo da defesa de sua dissertação de mestrado.1 1. Lygia Sigaud realizou seu mestrado noPPGAS/MN/UFRJ entre agosto de 1968 e abrilde 1972, quando defendeu a dissertação A Nação dos Homens: um Estudo Regional de Ideologia, sob a orientação de David Maybury--Lewis (lembre-se que à época o mestrado era um curso de cerca de quatro anos e as dissertações eram maiores e mais densas que as regidas pelos padrões atuais). Seu doutorado foi realizado na Universidade de São Paulo, no período de 1972 a 1977, concluído com a tese Os Clandestinos e os Direitos, estudo sobre trabalhadores da cana-de-açúcar de Pernambuco, orientada por Ruth Cardoso. Desde essa ocasião até seu afastamento do trabalho, ela ministrou cerca de 50 cursos de pós-graduação no Programa. O primeiro que consta de nossos arquivos é Análise de Sistemas de Representações, datado do segundo semestre de 1971, juntamente com Roberto DaMatta, no qual a questão das representações, um tema constante em sua carreira, já aparecia. O último, no segundo semestre de 2008, que infelizmente não conseguiu concluir por conta da doença que a acometeu, foi Teoria Antropológica II, no qual estabeleceu uma relação particularmente próxima com os alunos de mestrado e doutorado do primeiro ano.
Assim, sob as rubricas regimentais Teoria da Ideologia e da Cultura, Sociedades Camponesas, Antropologia do Poder, Teoria Antropológica, Sociologia do Desenvolvimento, Problemas de Antropologia Comparada, seguiram-se cursos criativos, sempre renovados, em que Lygia punha em questão suas preocupações intelectuais do momento. Eram programas de curso compostos por uma extensa bibliografia dissecada à exaustão e com discussões em nível elevado, em aulas em que os olhos verdes faiscantes e fascinantes eram capazes de colocar em suspensão aqueles que porventura ousassem abrir a boca sem ter lido os textos… E, no entanto, os alunos exaustos, por vezes assustados, mas sempre instigados a pensar e a olhar as coisas de um ângulo inusitado saíam de suas aulas cheios de novas expectativas.
Muito além de apresentar concepções de ensino, a entrevista, ao tratar especificamente da disciplina Teoria Antropológica, considerada um dos pilares da formação em Antropologia do Museu, permite-nos também compreender a modalidade do fazer antropológico que está em jogo. As diferenças sutis, mas significativas que Lygia aponta entre "teoria antropológica" e "história da antropologia", entre "método como um conjunto de questões e um modo de produção de conhecimento" e "método como técnica e como cozinha da pesquisa", ou ainda sua reflexão sobre a diferença entre um aluno que repete respostas e um aluno que é capaz de formular questões, além da articulação que defende entre o aprendizado teórico e o aprendizado "prático" no bojo de experiências de pesquisa, nos colocam diretamente em contato com o estilo de antropologia defendido e desenvolvido por ela.
Agradecemos, portanto, a Guillermo pela cessão deste material que nos permitiu, mais uma vez, ter contato com as ideias de Lygia, numa curta mas significativa homenagem, dando sequência à iniciativa de publicar em Mana documentos que registrem a memória do Programa.2 2. Refiro-me aqui à homenagem à própria Lygia feita por José Sérgio Leite Lopes (2009), e àquela a Gilberto Velho, feita através da publicação de seu memorial de titular (2012).
Renata Menezes,
pelos Editores.
O diálogo com Lygia Sigaud teve lugar na sua sala do PPGAS do Museu Nacional em 15 de julho de 2004. A entrevista foi parte de minha pesquisa de mestrado, intitulada O ensino de antropologia no Brasil: um estudo das formas institucionalizadas de transmissão da cultura (PPGAS/UFSC, 2005). Há tempo interessado em problemas sobre transmissão de conhecimentos entre gerações em ambientes altamente especializados, devotei a dissertação à formação de antropólogos no Brasil. A primeira parte dessa pesquisa consistiu na análise das grades curriculares e dos programas das disciplinas obrigatórias dos PPGAS da UnB, UFRGS, UFSC, USP, Museu Nacional e UFPE. O objetivo era identificar os autores, os tipos de textos, as línguas e outros aspectos formais que permitissem caracterizar o ensino de antropologia em virtude do cânone disciplinar representado pelo conteúdo e a organização formal de grades e disciplinas.
A segunda parte da pesquisa consistiu na revisão de arquivos e entrevistas com os coordenadores dos PPGAS e com os professores que ministraram as disciplinas obrigatórias no período 2001-2003. Além de explorar a história dos PPGAS a partir das trajetórias dos professores entrevistados, o objetivo desta fase da pesquisa era reconstruir o processo de montagem das grades curriculares e das disciplinas, assim como conhecer os critérios que norteavam as escolhas dos conteúdos no ensino das disciplinas obrigatórias.
Lygia tinha ministrado o curso de Teoria Antropológica II no PPGAS do Museu Nacional em 2001, e foi nesse contexto que teve lugar nosso diálogo. Este depoimento, rico em memórias pessoais e institucionais, constitui também uma rápida síntese de seu modo de entender a antropologia. Afinal, como mostra a entrevista, as opções que nortearam o engajamento de Lygia na formação de novos antropólogos no Brasil se revelam em perfeita sintonia com a antropologia que ela sempre fez. A entrevista se desenvolveu assim:
Guillermo Vega Sanabria Nossa conversa aponta basicamente para dois temas. O primeiro tem a ver com sua experiência como aluna de antropologia no Programa do Museu Nacional. No começo de nossa conversa gostaria que relembrasse sua experiência enquanto aluna deste Programa. Depois me interessa saber um pouco de sua experiência enquanto professora, especificamente a propósito da montagem dos cursos, mas também da própria ideia do ensino de antropologia no Museu Nacional. Para começar, gostaria de saber quais eram os cursos nessa primeira turma da qual você fez parte, e como era uma aula naquele momento.
Lygia Sigaud Fui da primeira turma. Acho que você vai ter uma resposta melhor se consultar os arquivos.Minha resposta, como a de qualquer outro colega, a não ser que tenha uma memória esplêndida, vai ser um pouco precária. Você tem que pensar que aquilo era o início, era um padrão que estava se construindo. [Aliás], não havia um padrão, uma referência.
Lembro que Organização Social e Parentesco era um dos cursos importantes, um dos cursos que éramos obrigados a fazer. Outro curso forte de que me lembro foi Mudança Social e Sociedades Camponesas. Depois, Organização Social e Parentesco continuou sendo um curso importante, até quando houve uma reforma no Programa e instituímos os cursos de Teoria Antropológica I e II, que eram mais amplos do que Organização Social e Parentesco.
Naquela época eu era bolsista do Programa. Então, tinha que fazer quatro cursos. Era bem pesado, era bem puxado. Fiz os cursos do meu mestrado praticamente num ano só. Fiz três cursos, depois quatro e depois fiz um curso intensivo ou uma coisa assim.
Tudo isso no primeiro ano?
É. E depois fui direto para o campo, e aí fiz uma disciplina no primeiro semestre do meu segundo ano, com o professor Roberto DaMatta. Fiz uma parte da disciplina e o resto do tempo estava em campo. Depois não fiz mais nada e fui convidada para ser pesquisadora de um projeto e, logo, para ensinar no Programa, quando terminei meu mestrado. A ideia, quando nós entramos aqui, era de que o ensino estava intimamente vinculado à pesquisa. Todos nós tínhamos que participar, todos nós participamos de um projeto que foi criado e acoplado ao ensino da pós-graduação. Era um projeto chamado "Estudo comparado de desenvolvimento regional", era uma comparação entre o Nordeste e o Brasil Central. Eu e outros colegas fomos fazer pesquisa no Nordeste.
Quando foram para o campo, quando foram desenvolver essa pesquisa, ainda eram estudantes de mestrado?
No final do primeiro ano do mestrado nós fomos todos para o campo, a turma inteira.
Então isso foi parte do trabalho de campo de suas dissertações naquele momento?
Não, não era ainda, não. Era um trabalho, uma experiência de campo que a gente estava tendo. Eu defini meu projeto depois. É que a pós-graduação começou em 68… Aliás, não foi no final do primeiro ano, foi no final do primeiro semestre. [É] que o curso começou em agosto de 68 e nós fomos para o campo no final desse ano. O campo que eu fiz para minha pesquisa individual foi já no final, foi em outubro de 69 quando comecei a fazer o campo. Fiz uma parte do meu trabalho de campo e depois voltei ao campo em 70, ainda. Fiz um campo longo para uma dissertação de mestrado.
Esse período inicial, da primeira vez que foram para o campo, constituía uma exigência do Programa?
Formal não, mas de fato sim. De fato sim, era coercitivo… [risos]. Não tinha muito como escapar, não.
Se não me engano, os coordenadores do projeto eram o professor Roberto Cardoso de Oliveira e o professor David Maybury--Lewis. Eles eram professores aqui. Como era uma aula típica então?
Eu não poderia falar de aula típica porque, eu acho, cada professor tinha seu estilo. Mas sempre tinha uma coisa, uma apresentação em cada aula e depois uma discussão dos textos. Logo o professor fechava. Era seminário mesmo, não eram aulas expositivas.
Quais eram os textos que tinham que ler naquela época? Quais os autores que eram lidos?
Dependia da disciplina. Por exemplo, em Organização Social e Parentesco líamos muito de antropologia social britânica, de Lévi-Strauss, alguma coisa da antropologia norte-americana. Mas o grosso mesmo era antropologia britânica. E em Mudança Social também era antropologia britânica, mas também tinha um pouco de antropologia francesa, Balandier etc. Na disciplina Sociedades Camponesas, era uma época forte dos chamados Peasant Studies. Então, era uma bibliografia com Eric Wolf, Sidney Mintz, George Foster, Teodor Shanin, Robert Redfield, Thomas Snanieck. Era mais antropologia norte-americana, embora tivesse muita coisa da antropologia britânica, de autores como Paul Bohannan e Edmund Leach, que trabalharam sobre populações camponesas. Bohanann com os Tiv, Leach em Pul Elya.
Entendo que houve dois momentos na história da grade curricular no PPGAS do Museu Nacional. Um primeiro em que tinha pelo menos três disciplinas obrigatórias que representavam mais ou menos campos temáticos: Organização Social e Parentesco, Sociedades Camponesas e Antropologia Urbana. Um segundo em que passaram a ter Teoria Antropológica I e Teoria Antropológica II. Como foi a configuração dessa grade curricular no primeiro momento e como se passou para o segundo modelo de Teorias Antropológicas I e II?
Não tenho uma reflexão sobre isso, mas a impressão que tenho é que Organização Social e Parentesco tinha uma espécie de núcleo duro das discussões sobre o parentesco, e havia variações em torno desse núcleo duro. Tinha Radcliffe-Brown, Lévi-Strauss, Meyer Fortes, Leach. Você tinha esse núcleo duro em torno da organização social e do parentesco. Acho que Sociedades Camponesas foi o curso que se manteve mais ou menos igual durante esse período. A estrutura do curso é mais ou menos a mesma, quer dizer, você varia a bibliografia, acrescenta, mas Sociedades Camponesas é um curso que toca em todas as temáticas que são contempladas em todos os outros cursos: a organização social, as lutas sociais, a economia camponesa, a cultura camponesa, a comunidade, a religião. Então, é um curso que não tem muita variação, pois a discussão em torno do campesinato é uma discussão em torno de categorias sociais. De todos esses cursos, acho que o curso sobre campesinato era o mais estável. Acho que o curso Antropologia Urbana também tem uma certa estabilidade.
Agora, já o TA I e o TA II foram produtos de uma discussão, de uma negociação. A ideia era que a gente tinha que dar um panorama das antropologias, da antropologia desde seu início. Então a gente concebeu, um pouco cronologicamente, alguma coisa que fosse até os anos 50 para TA I, e dos anos 50 para cá, no caso de TA II. Claro, isso depende de professor para professor, porque às vezes o professor de TA I vai até os anos 60, depende um pouco. Mas a ideia era dar um panorama da antropologia, sem necessariamente um viés histórico, embora haja um viés cronológico, porque TA I pega o início e TA II pega um período mais recente. Quer dizer, não há uma explicitação, existe uma ementa, mas não é uma coisa explicitada. Há um acordo implícito do que devem ser TA I e TA II e acho que os colegas se conformam a esse acordo implícito para não estarem sujeitos às críticas dos outros. É um pouco isso.
Quase todos os professores com quem conversei sempre falam de que mais ou menos em torno dos anos 50 ou 60 se faz um primeiro corte. Isto marcaria uma diferença cronológica entre Teoria I e Teoria II. Por quê? Qual a razão desse acordo mais ou menos implícito de que deve ser por aí?
Acho que não tem nenhuma razão teórica para isso, acho que é uma razão prática. Se fosse um curso de Teoria Antropológica com duração de um ano, seria igual. Dependeria de onde você conseguisse chegar. Por exemplo, um professor que, ao dar TA I, queira desenvolver mais a antropologia francesa ou queira desenvolver mais a antropologia britânica dos anos 30 ou 40, talvez necessite de mais tempo para fazer os alunos lerem. E se ele quiser incluir o estruturalismo em TA I, talvez vá ter que diminuir alguns autores para poder pegar os outros. Então, acho que não tem uma razão. Eu, por exemplo, já dei mais de uma vez esse curso e às vezes começo TA II nos anos 50.
Que é o caso do curso que ministrou em 2001.
É, começo dos anos 50. Acho que depende um pouco também da concepção que cada professor tem do que é mais importante que os alunos conheçam. Porque essas coisas não têm a ver com o volume da produção dos antropólogos, mas têm a ver com a qualidade da produção também.
Parece ser uma particularidade da grade curricular do PPGAS do Museu Nacional o fato de esses dois cursos obrigatórios serem nomeados de "Teoria Antropológica". Nas grades curriculares de outros programas, cursos como esses são chamados de "História da Antropologia", diferentes daqueles chamados de "Teoria Antropológica". Em outros casos há cursos de "História e Teoria Antropológica". Por que no Museu Nacional esses cursos são chamados de "Teoria Antropológica"?
Porque de fato não é história. Se fosse história da antropologia seria outro curso. Você vai privilegiar uma outra bibliografia. Uma história da antropologia é a história de como foram se constituindo os antropólogos, as instituições da antropologia. Os pontos de vista teóricos são apenas uma parte da história, mas a história não é apenas a teoria. A história são as instituições, os conflitos, as pessoas, os indivíduos etc. Este não é o objetivo de TA I nem de TA II. Se você observar os programas, há uma preocupação de contextualização histórica, mas não em ter a história como objeto. É completamente diferente. Por exemplo, se eu fosse dar um curso sobre a antropologia produzida na Inglaterra entre os anos 1910 e os anos 1950, uma coisa é a teoria e outra coisa é a história da antropologia daquele momento na Inglaterra, são coisas completamente diferentes. Não sei como são os outros cursos, mas acho que é pertinente que nós chamemos de teoria, porque de fato é teoria e não história.
Em algum momento do Programa apareceu essa discussão? Decidir que esses cursos seriam chamados de Teoria Antropológica suscitou algum tipo de discussão?
Não, era consensual. Foi consensual que era teoria mesmo e que não era história. Para nós sempre foi evidente. Tanto que, por exemplo, eu dou cursos na área de história da antropologia. São cursos completamente diferentes, é outra coisa.
Também poderia ser considerada uma particularidade da grade curricular do PPGAS do Museu Nacional o fato de não ter nas disciplinas obrigatórias um curso sobre metodologia da pesquisa antropológica ou alguma coisa assim. Por quê?
Não, não tem. Agora não tem, mas há muitos cursos que lidam com os métodos da antropologia. E depende do professor. Por exemplo, quando eu dou o curso de TA II, o método é um objeto que contemplo em sala de aula. Isso não aparece no programa. É o estilo de cada um, possivelmente outros colegas fazem isso também. Mas um bom curso de teoria não pode ignorar o método. Por exemplo, as distinções entre determinadas teorias passam pelo modo de conhecer e passam pelo método, pelas questões. Então, esta é uma questão central. Outra coisa, digamos, é a cozinha do método. Mas aí, para a cozinha, você tem oficinas de trabalho de campo.
Aquela parte mais orientada para as técnicas, os procedimentos…
Esses são outros cursos. Agora, se você pensa a metodologia em termos das questões, elas, as questões, estão intimamente ligadas à teoria. Quais são as perguntas que são feitas pelos autores? É impossível você dar um curso de teoria sem tratar da metodologia. Quais são as perguntas, por exemplo, que Mauss fazia, que Durkheim fazia, que Radcliffe-Brown fazia, quais são as questões? Não interessam apenas as respostas. Se você dá ao aluno apenas as respostas, ele vai ficar repetindo as respostas sem saber, sem controlar a sociogênese da resposta. A sociogênese da resposta é a questão. A questão remete a uma teoria do conhecimento, a um modo de conhecer. Então, é claro que a metodologia é contemplada.
Outra coisa é aquilo que eu lhe disse: as técnicas propriamente ditas são objeto de cursos específicos, têm sido objeto de cursos específicos. E são objetos muito mais ligados à discussão de seminários com os orientandos, variando de professor para professor. Agora, de fato, não há um consenso entre nós de que isso deva ser uma disciplina obrigatória, por exemplo. Um curso sobre o método, o método no sentido de técnicas. Não há um consenso.
Os cursos voltados para a questão metodológica, orientados para o trabalho de campo, a escrita das dissertações e teses ficam como disciplinas eletivas ou dependem do trabalho direto com o orientador. Como se garante, na prática, que os estudantes consigam desenvolver seus projetos de pesquisa?
Posso lhe falar da minha experiência. Quando um aluno faz um trabalho de curso, por exemplo, se ele faz um trabalho de curso a partir de um tema de pesquisa dele, eu vou entrar nessa discussão. Se ele faz uma apresentação em sala de aula, eu vou dizer: "Como é que você sabe isso? Você está se apoiando apenas numa entrevista, você tem que incorporar a observação". Há todo um ensinamento que é dado ao longo dos cursos. Acredito que os outros colegas também façam assim, embora isso não seja, digamos, uma orientação do Programa. Eu acho que, como nós fomos um grupo formado mais ou menos na mesma época, a gente compartilha certas coisas. E quando você vê as dissertações de mestrado e as teses de doutorado, você observa que há um afinamento da orquestra, sem que haja um ensinamento sistemático. Ou às vezes há… Eu já dei cursos sobre isso, foram interessantes. Recentemente, dei um curso sobre entrevista e observação e foi muito interessante. Pessoalmente, acho que faço isso mais com meus orientandos.
No programa de TA II que você ministrou em 2001, logo na ementa, diz que "o curso visa examinar as contribuições de um elenco de antropólogos que lograram se impor como referência obrigatória nos últimos 50 anos". Como é definido esse elenco de autores? Como são escolhidos, como se faz o recorte que finalmente aparece no programa?
Quando me refiro a um elenco de autores que conseguiram se impor no panorama da antropologia, como está formulado aí, trata-se daqueles que se tornaram uma referência no campo da antropologia. Mas nesse curso coloco outros autores que não são muito habituais. Norbert Elias, por exemplo, está nesse curso. O começo com Elias, neste caso, tinha por objetivo afinar a orquestra, dar o tom do curso, quer dizer, mostrar a partir de que ponto de vista, de que tipos de problemas examinaríamos essa corte de autores, as questões mais gerais sobre a produção do conhecimento em antropologia.
Em relação à escolha dos autores é claro que alguns ficaram de fora. Mas qualquer pessoa que vá falar da antropologia na França não pode deixar de lado Lévi--Strauss, não pode ignorar os trabalhos de Bourdieu sobre a Argélia. Se você fala dos Estados Unidos, tem Sahlins, Geertz. São figuras incontornáveis e, mais recentemente, os pós-modernos. É nesse sentido.
Mas é uma boa pergunta a que você está fazendo, porque, de fato, não está explicitado qual foi o critério para a escolha do elenco. O que presidiu minha escolha foi o fato de achar que isso era importante naquele momento. Se você está lidando com antropologia, são essas as referências, as referências dos antropólogos, são esses autores. Eu poderia fazer o caminho inverso, uma coisa meio intuitiva, mas se você pegar, por exemplo, a antropologia americana, ela não ignora nem Geertz, nem Sahlins, nem Bourdieu e nem outros, como Foucault, Derrida. Estes são os que eu chamo de os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, porque estão em toda parte… Foucault, Derrida, Michel de Certeau…
E, aliás, às vezes geram tanto medo quanto os Cavaleiros do Apocalipse… [risos].
[Risos] É, os Cavaleiros do Apocalipse… Bom, na França o estruturalismo é absolutamente hegemônico. Há um autor que não é hegemônico, embora seja muito prestigiado; é um autor sobre o qual eu trabalho e que incluí, é o Leach. Achava que era importante os alunos conhecerem esta perspectiva, porque muita coisa que se diz na antropologia em 2000 parece estar inventando a roda, mas a roda já foi inventada nos anos 40. Então, eu o incluí porque achava que era importante que eles conhecessem este autor, e também porque era onde eu podia dar mais, porque o conheço bem. Eles poderiam se beneficiar dos conhecimentos que eu tenho.
Outra ideia que também presidiu a montagem desse curso foi a de apresentar para os alunos quais foram as questões mais gerais que preocuparam os antropólogos nesse período, mostrar de que forma as resolveram, e comparar as questões. O início do curso a partir de Elias tem a ver com isso: quais são os problemas, como os problemas são construídos. Não interessa você dar um autor, apenas a teoria substantiva do autor. O que Geertz diz da briga de galos não tem interesse nenhum, o que tem interesse é quais são as perguntas, quais são as questões de Geertz na briga de galos, em Negara; de que forma as questões que ele coloca são diferentes das questões colocadas por Sahlins e se distinguem das questões colocadas pela Escola Sociológica Francesa. A ideia é dar um curso que permita ao aluno ter os princípios de compreensão da disciplina. Quer dizer, o objetivo não é transformar o aluno num repetidor, que diga apenas "fulano diz isso, beltrano diz aquilo, sicrano aquilo outro", mas fornecer a ele instrumentos para compreender a problemática dos diferentes autores que marcaram a disciplina. Tentar fazê-lo compreender por que determinados autores se tornaram referência e outros não. Mas isso já entra no domínio da história da antropologia. Como esta é uma área que me interessa e que eu conheço um pouco, quando dou um curso, falo sobre isso também.
Parecem existir dois critérios que funcionam na hora de fazer o recorte. Por um lado, aqueles autores que você chamou de incontornáveis, autores que têm que ser colocados. Por outro lado, os autores e os temas que fazem parte daquilo que cada professor conhece melhor. Como é que você resolve a tensão que pode existir entre aquilo que se estabelece como canônico e aquilo que faz parte da bagagem mais querida de um professor?
Quando dou um curso de TA I ou de TA II, há autores que estão aí e sobre os quais não tenho interesse nenhum, porque acho que as coisas que eles fazem são furadas. Porém, também acho que um aluno de antropologia, uma pessoa que está fazendo uma formação em antropologia, não pode ignorá-los. Não pode ignorar determinados textos, em função da carreira que os textos fizeram, da carreira de quem os fez, de quem os produziu. Vou lhe dar um exemplo, o livro de Geertz, Works and lives. Acho este um livro lamentável, mal escrito, mal construído, com problemas de honestidade intelectual. Acho uma série de coisas deste livro. No entanto, é um livro superreferido e é importante que o aluno tenha contato com este texto de uma forma crítica e controlada. Veja bem, quando digo "crítica", quero, primeiro, que o aluno me diga o que é que o autor diz. Depois, quero saber o que o aluno acha do que ele diz. Não é que ele vá criticar sem antes compreender. Por exemplo, eu dou este texto para discutir a construção do senso comum em antropologia. Eu dou este texto, mas de acordo com uma lógica completamente diferente.
Nos cursos de TA I e TA II, porém, você não pode ser guiado pelas suas preferências teóricas e intelectuais. Eu faço isso quando dou outros cursos, mas não nesses. Nesses, eu acho, temos a obrigação de apresentar ao aluno a plêiade mais ampla de autores. É claro que o investimento, o conhecimento e o controle que temos é diferenciado. Para dar alguns autores, eu preciso estudar. Para dar outros, preciso estudar menos, porque os conheço bem. Mas, para encerrar a resposta à sua questão, se a gente pensar um contínuo entre as minhas preferências e o que me parece canônico num curso de TA I e TA II, eu estou sempre perto do polo canônico. O que marca um curso, minha marca [pessoal] está na maneira de lidar com os autores e não na escolha deles.
Como você chegou a ministrar essa disciplina? Como é que os professores distribuem esse trabalho?
É voluntária.
Voluntária…
Se você for examinar, há colegas que nunca deram essa disciplina. Nunca! Eu acho que é importante, de vez em quando tenho vontade de dar esses cursos. Às vezes é para quebrar um galho, mas às vezes é porque quero, estou a fim de dá-los. Alguns de nós damos essa disciplina, mas não são todos.
O que faz com que você tenha vontade e certa disposição para dar essas disciplinas, justamente quando há professores que nem sempre querem dá-las ou, de fato, nunca as deram?
Idiossincrasia pessoal… [risos]. Às vezes me dá vontade, não sei te explicar. Às vezes há um pouco o sentimento: "Não, fiquei um tempo fora, é importante". Porque é pesado, é o curso mais pesado que tem. É pesado para o professor, é muito trabalhoso esse curso, porque você lida com uma turma que não escolheu trabalhar com você. E às vezes é o momento do aparecimento de todas as vaidades, de exibição. É diferente de um curso em que o aluno escolheu trabalhar com você. Ele escolheu por causa da bibliografia, por exemplo. O aluno de TA I [e TA II] é um aluno compulsório e você tem que lidar com esse aluno compulsório. Embora dependa muito da turma, da dinâmica da turma, das idiossincrasias dos alunos, às vezes se torna um palco para brilhar. Você tem que lidar com aquilo, tem que ser generoso e pensar: "Bom, não, está querendo brilhar, deixa brilhar um pouquinho"…
Você tem ministrado cursos de antropologia para a graduação e para outros cursos da pós-graduação que não antropologia?
Já dei aula de antropologia em uma espécie de pós-graduação, mas na França. No Brasil, há muitos anos atrás, fui dar aulas na UnB. Há vinte anos atrás.
Para alunos que não eram da antropologia?
É, dei aula de Introdução à Antropologia para gente que não era da antropologia.
Tem alguma lembrança da percepção, da experiência mesmo de ensinar antropologia para pessoas que não são estudantes de antropologia. É diferente?
Eu já dei aulas em mestrados, em especialização, para gente da área ambiental também. Acho fascinante dar um curso de introdução à antropologia para quem está começando. Para um professor pode ser uma experiência muito gratificante. De repente você contribui para que o aluno comece a se perguntar coisas a respeito do mundo que ele nunca se perguntou. Tenho uma ótima recordação da minha experiência na UnB. Era um grupo misturado. A UnB tem um sistema interessante, porque o curso é um só para quem está fazendo graduação em ciências sociais e para quem vem de outras áreas, como a biologia ou o direito. É o momento também de seduzir os alunos para a antropologia [risos]. Eu gosto de dar aulas. Quer dizer, é minha profissão, gosto de dar aulas, gosto de orientar alunos. É muito gratificante para um professor quando ele sente que contribuiu para que o aluno tivesse uma outra visão. Tenho recordações memoráveis. Uma vez, numa Introdução à Antropologia, ou uma coisa assim, no início, explicando a importância dos rituais em todas as sociedades, de repente uma moça que não tinha ido a um enterro, que faltou ao enterro, caiu em prantos no meio da sala. Isso era uma coisa que a incomodava. Foi de repente. Quer dizer, você está fornecendo instrumentos para as pessoas. Elas não vão fazer antropologia, mas vão entender melhor o mundo em que elas vivem. Acho que a antropologia serve para isso. Pelo menos para quem não vai fazer antropologia, para quem não vai se dedicar a isso.
Uma última pergunta que não resisto a fazer. Tem a ver justamente com as reações e a maneira como o ensino de antropologia afeta a vida dos alunos. No caso dos alunos de antropologia, é possível observar alguma mudança nesse estudante que começou lá no mestrado e aquele que chegou ao doutorado?
Claro, claro. Posso lhe dizer daqui, da experiência que tenho aqui no Museu Nacional. Nós recebemos alunos com uma formação diversificada, não apenas os alunos de ciências sociais. Em geral, com exceção dos que vêm da Argentina e já têm uma graduação em antropologia, a maioria dos nossos alunos tem um conhecimento não aprofundado da antropologia. Eles não têm, eu acho, a cartografia, não têm o mapa. O que observo aqui, ao longo de um curso, é que as primeiras intervenções de um aluno são às vezes intervenções que remetem ao senso comum puro e duro. O senso comum se expressa na linguagem, no uso dos verbos, numa apreciação do mundo social muito valorativa. Ao chegar ao final do curso por exemplo, agora, nesse curso que acabei de dar sinto que os alunos entenderam que o mundo social é mais complexo.
Acho que há um desencantamento da antropologia também. Porque a antropologia tem uma certa dose de encantamento, uma representação encantada. "Ó, que máximo a antropologia! Ó, o outro!…" Chamo isso de bobagens. Estou te falando da minha experiência. Acho que só o fato de você conseguir que por meio do ensino da disciplina o aluno tenha uma visão desmagicizada do mundo social já é um progresso extraordinário. Desmagicizar significa também fazer boas perguntas porque, quando você encanta o mundo, quando o mundo social está encantado, você não pergunta como as coisas se passaram. Você vai e é igual a quando a abóbora virou carruagem. A representação do mundo é desse jeito, e não tem mais nenhuma outra pergunta para fazer, fica tudo encantado, mágico.
Notas
- LEITE LOPES, José Sérgio. 2009. "A ponta do novelo: em busca da trajetória de Lygia Sigaud". Mana. Estudos de Antropologia Social, 15(1):257-278.
- VELHO, Gilberto. 2012. "Homenagem a Gilberto Velho". Mana. Estudos de Antropologia Social, 18(1):173-212.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
20 Jan 2014 -
Data do Fascículo
Dez 2013