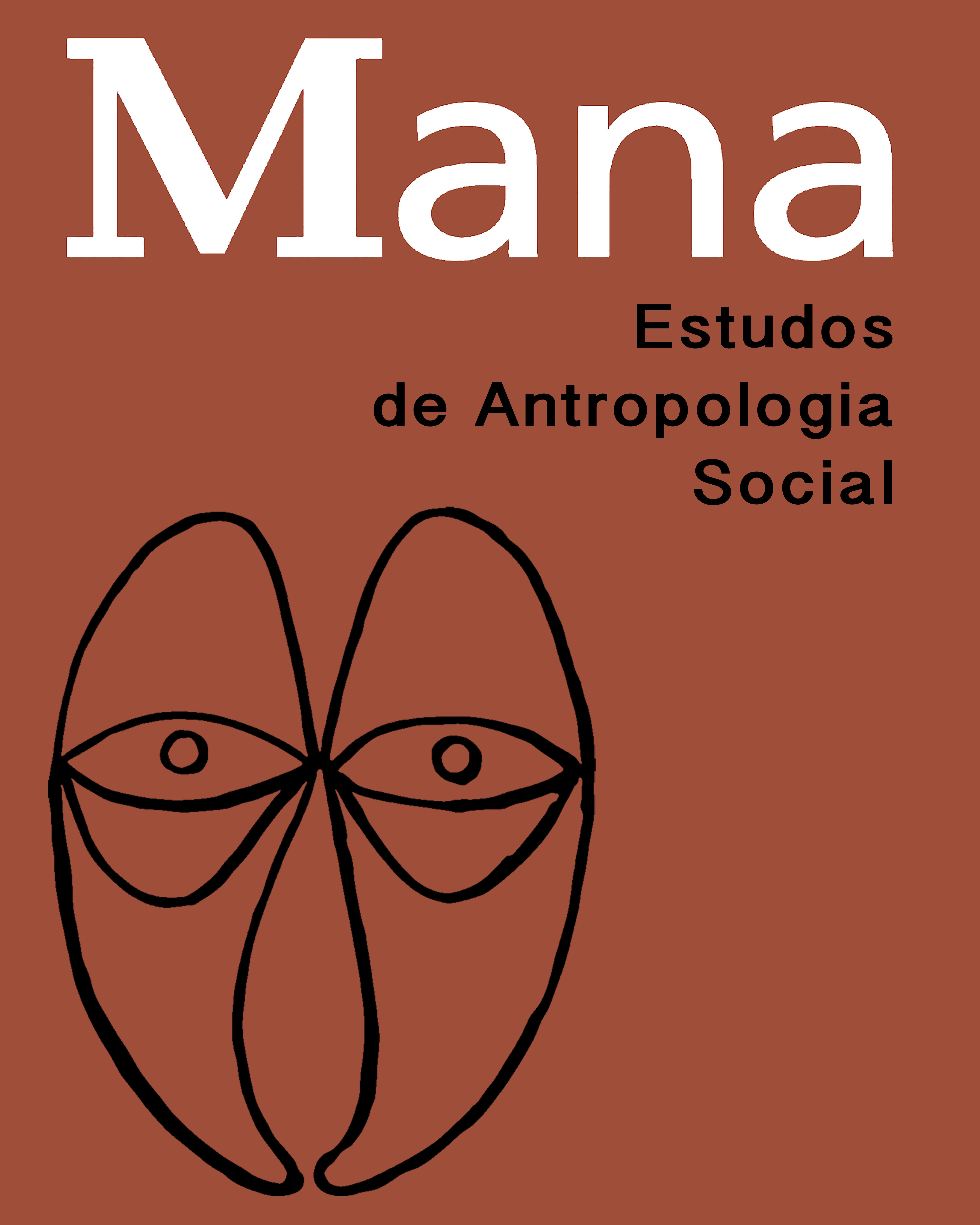George Emmanuel Marcus formou-se em Política e Economia pela Universidade de Yale e concluiu seus estudos na área de Antropologia Social no Queens' College, Cambridge, em 1968-69. Doutorou-se em Antropologia pela Universidade de Harvard em 1976, com um estudo sobre as elites em Tonga. Lecionou na Universidade de Rice, onde foi chefe do Departamento de Antropologia de 1980 a 2005, recebendo mais tarde o título de Professor Emérito.
Ali escreveu alguns dos livros e textos mais lidos e debatidos na Antropologia contemporânea, organizando duas coletâneas que se tornaram referências na disciplina Anthropology as cultural critique: An experimental moment in the Human Sciences (Chicago University Press, 1986), em colaboração com M. Fisher, e Writing Cultures: The poetics and politics of ethnography (University of California Press, 1986), em colaboração com James Clifford. Propõe também uma abordagem inovadora em diversos artigos, entre os quais destacaríamos a resenha temática "Ethnography in the World System: The emergence of multi-sited Ethnography" (Annual Review of Anthropology, 24:95-117, 1995), e em diversos livros - enfatizaríamos, em especial, Ethnography Through Thick & Thin (Princeton University Press, 1998).
Foi o editor da coleção Late Edition: Cultural Studies for the End of the Century, série de publicações anuais iniciadas em 1990 pela University of Chicago Press, e também o fundador da revista Cultural Anthropology, da Society for Cultural Anthropology, entidade que integra a American Anthropological Association (AAA). Além de sua etnografia em Tonga, desenvolveu pesquisas nos Estados Unidos (Galverston, Texas) e em Portugal. Atualmente é Chancellor´s Professor da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI), onde fundou em 2006 o Center for Ethnography, uma tentativa bastante original de conjugar o exercício da etnografia com os debates teóricos contemporâneos, experiência que tem resultado em suas publicações mais recentes.
Considerando a inserção da antropologia no campo das Ciências Sociais e das Humanidades, Marcus empreendeu uma reflexão sistemática sobre os contextos em que a etnografia é realizada, problematizando o caráter canônico dos paradigmas e indicando os usos e os significados que concretamente adquirem. É um crítico permanente do pressuposto de que as situações pesquisadas se desenrolam em comunidades isoladas e fechadas, chamando a atenção para a profundidade histórica da integração de mercados, a diferenciação social e a interação dos nativos com diferentes grupos de referência e tecnologias de comunicação. Os processos de modernização e inovação tecnológica e a interação com mídias eletrônicas contribuem para a diversificação dos papéis assumidos pelos atores sociais, apontando a necessidade cada vez maior de desenvolver práticas de pesquisa multissituadas.
Com uma forte ênfase na ação social, desmonta a noção de "informante", enfatizando as relações de cumplicidade com atores vinculados a práticas preestabelecidas e com o próprio terreno no qual teorias antropológicas se constituíram. Para ele, a reflexividade é um componente básico da etnografia e da interpretação antropológica, devendo passar pela intertextualidade, pela análise das condições de produção da intersubjetividade e pela crítica cultural.
Em entrevista concedida em setembro de 2013, em Águas de São Pedro (SP), durante o 37º. Encontro Nacional da Anpocs, no qual participou da Mesa Redonda "Crítica Cultural e Reflexividade: Alteridade e Etnografia", coordenada por João Pacheco de Oliveira (MN/UFRJ) e integrada também por Priscila Faulhaber (MAST) e Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (USP), George Marcus, que veio ao Brasil a convite do Museu de Astronomia (MAST), nos fala da sua formação acadêmica, de pesquisas anteriores e dos trabalhos em que está atualmente envolvido no Center for Ethnography.
João Pacheco de Oliveira e Priscila Faulhaber: Conte-nos um pouco sobre sua trajetória intelectual.
GM: Minha formação como antropólogo foi resultado do meu interesse pela metodologia de pesquisa de campo. Eu tinha um cunhado, Robert Knox Dentan, que era antropólogo de povos aborígenes da Malásia, e minha irmã o acompanhou em sua viagem ao campo. Durante os dois anos em que estiveram entre os Semai, nas selvas da Malásia, ela escreveu cartas à família regularmente. Naquela época, eu tinha um certo interesse juvenil por arqueologia, mas não sabia o que era antropologia - antropologia sociocultural. Em arqueologia, eu gostava muito das tecnologias e seus afins (minha primeira publicação foi sobre endrocronologia), mas eu sentia falta de um espírito de risco interpretativo - isto só apareceu muito mais tarde na arqueologia, a partir dos anos 80 nos EUA, talvez um efeito do "momento" da teoria crítica cultural do qual o Writing culture fez parte. Assim, a minha introdução à antropologia sociocultural se fez por meio daquelas cartas vindas do campo de pesquisa. O processo de investigação da antropologia me fascinou através daquele veículo epistolar.
Quando fiz a graduação na Universidade de Yale, no período 1964-68, não privilegiei a antropologia. Meu foco de interesse estava, na ocasião, em política e economia, o que me deu uma ótima formação em ciências sociais clássicas e em ciências sociais tal como praticadas no pós-guerra. Os cientistas sociais liberais estavam particularmente interessados no desenvolvimento econômico e social no chamado "Terceiro Mundo". A maior parte dos meus créditos foi em ciência política e economia, mas eu também fiz seminários com alguns dos estudiosos que haviam dado forma às organizações globais pós-Bretton Woods (como Robert Triffin e o FMI). Nunca planejei seguir carreira nessas arenas, por isso eu mantive meu interesse em antropologia sempre em paralelo.
Fiz cursos no Departamento de Antropologia de Yale, os quais me pareceram fracos. Suas figuras notáveis do passado já haviam se afastado, como Edward Sapir e George Peter Murdock, e havia remanescentes de outras tendências, como a etnociência. O programa de graduação atendia a uma clientela de pessoas como George W. Bush, que, aliás, foi meu colega de classe - consta que o cavalheiro fez um curso da professora Margaret Mead com outros 800 colegas e obteve o único B da sua carreira de Cs! Meu cunhado tinha sido anteriormente aluno do departamento na graduação e, enquanto tal, havia feito uma pesquisa de campo fascinante em torno do tipo de etnolinguística praticada pelo brilhante Floyd Lounsbury, então vivo e ainda em atividade. Pode-se dizer que meu interesse por antropologia em Yale foi mantido pelo que eu havia aprendido antes (1961-63) por meio daquelas cartas escritas por minha irmã, diretamente vindas do campo de pesquisa, e depois complementado na fonte - a etnociência altamente esotérica que era então ensinada aos alunos da graduação em Yale. Mas, na verdade, foi tudo muito indireto para mim como bacharelando, um subtexto bastante pessoal na minha educação formal, muito mais do que explícito e didático.
Um outro ponto a respeito da minha formação antropológica em Yale foi, sem sombra de dúvida, a Guerra do Vietnã. Eu mesmo fui convocado em 1969, um ano depois de sair de Yale. Mas ainda em Yale, eu fiz um curso memorável de palestras ministradas pelo historiador Harry Benda sobre o Sudeste asiático, e outro do notável acadêmico francês Paul Mus sobre o Camboja e o Vietnã. Ambos, em suas respectivas tradições, possuíam níveis altíssimos de informação nas áreas de antropologia/ etnologia. Benda, em particular, me apresentou ao trabalho de Clifford Geertz, então galgando o auge da sua fama e influência, tanto em antropologia como em desenvolvimento, o que incluiu sua oferta de consultoria para o projeto americano de "construção de nação" no Sudeste asiático. Em 1966, Geertz apresentou a primeira versão do seu artigo "Deep Play"1 1 Traduzido em português como "Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galo balinesa". 1989. In: Clifford Geertz, A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC. em um simpósio em Yale. Ninguém pareceu entender uma única palavra do que ele dizia. Eu, entretanto, li seu texto sobre a Indonésia, voltado para a questão do desenvolvimento, e achei muito empolgante se comparado às literaturas de ciência política e economia a que vinha sendo exposto até então. O que mais me impressionou foi sua maneira de escrever. Com Geertz eu obtive a percepção inicial da questão da "representação", da linguagem descritiva e narrativa como elemento-chave do método propriamente dito em antropologia.
Em Yale, ainda bem inexperiente, eu fiz três meses de trabalho de campo na Guiana Britânica - na ocasião, recém-proclamada República da Guiana - entre trabalhadores indígenas em plantações que haviam sido recentemente transformados em pequenos arrendatários de fazendas de arroz. Eu era absolutamente inocente sobre a guerra racial que havia precedido a minha chegada, engendrada por interesses americanos e britânicos para garantir a liderança da Guiana aos afro-guianenses. Politicamente falando, eu não fazia a menor ideia de onde estava metido. Mesmo assim, eu adorei a minha estreia no trabalho de campo, e produzi uma monografia, que veio a ser premiada, sobre a transformação de um proletariado agrícola em pequenos arrendatários rurais. Minhas notas de campo foram bem menos ingênuas do que o estudo de caso sobre desenvolvimento econômico que produzi. Subjacentes a essas notas, surgiam formulações de questões sobre antropologia e interdisciplinaridade, sobre o que essa disciplina produz de dados a partir da experiência, e o que produz pelo interesse em outros paradigmas de conhecimento, além do seu próprio.
Após concluir o bacharelado em Yale, consegui uma bolsa de pesquisa de um ano em Cambridge para estudar antropologia social. Isso foi entre 1968 e meados de 1969. Meu objetivo era fazer o currículo da graduação deles de forma intensiva. Meyer Fortes era então professor titular, Jack Goody, professor assistente, e Edmund Leach, reitor acadêmico do King's College. Na literatura do curso algumas luzes se acenderam para mim. Naven, de Gregory Bateson, se destacava na lista, mas, em geral, eu estava tão entediado quanto o resto dos estudantes. À exceção de Stanley Tambiah sobre antropologia econômica, e de Malcolm MacLoed sobre os povos Ashanti, as palestras eram pobres. Todos os grandes nomes da época eram chamados para dar palestras (Evans-Pritchard, Needham, Mair Gluckman), mas vê-los em pessoa era a única inspiração. Reo Fortune vagava pelos corredores do Museu como um totem. Andrew Strathern era o jovem acadêmico ambicioso. Marilyn Strathern, que eu me lembre, ficava placidamente sentada a seu lado. A parte mais interessante daquele ano foi a presença do radicalismo no Departamento de Antropologia, trazido pelos estudantes americanos e por outros estudantes estrangeiros com privilegiadas bolsas de pesquisa, e o efeito provocado sobre os estudantes ingleses da graduação em antropologia.
Havia um esforço interessante e ao mesmo tempo mal-educado para se adotar um programa alternativo e, com isso, aulas alternativas cuja literatura fugisse das fontes do funcionalismo ortodoxo. Fazia parte do momento, é claro, e eu era mais um observador do que um ator, mas, como em Yale, o que eu via era um outro centro famoso pelo desenvolvimento da antropologia necessitando urgentemente de renovação. Por exemplo, eu achava maçante o estruturalismo produzido pela antropologia britânica. Achei interessante a escrita discursiva de Leach, na sua apropriação de Lévi-Strauss que, diga-se de passagem, eu nunca lera. Mas as discussões resultantes eram áridas, meros exercícios formais de classificação e debate técnico. Havia ali uma promessa, só que não instigava ninguém. Eu logo passei a me interessar pela história da antropologia, da qual havia muito pouco material. Lembro-me que o jovem George Stocking veio e deu uma palestra bastante árida sobre a antropologia americana, que foi acompanhada respeitosamente, mas não muito compreendida. Eu queria entender o contexto no qual a antropologia britânica havia se tornado o que era naquele momento, em contraste com a antropologia americana. Foi aí que, muito cedo, cheguei a um entendimento dessas diferentes "tribos" - se me permitem - da antropologia.
Eu ainda não era um estudante de pós-graduação, mas através daquilo tudo eu me interessava por trabalho de campo, pela leitura de relatos de trabalhos de campo, que eram bem poucos ainda. Eu estava interessado em aprender sobre como uma conclusão, ou como resultados, ou ideias teóricas se desenvolviam a partir da atividade do trabalho de campo. Afinal, era este o assunto das conversas de bar! Ouvir aquilo tudo podia ser fascinante... Dentre as muitas "simples" histórias, e em meio a todo aquele afã por fama e reconhecimento, havia também, na realidade, um tipo de conversa mais objetiva sobre experiências e como as ideias tomavam forma no contexto da pesquisa. Nunca em nenhum outro lugar eu tive um contato tão pedagógico ou "etnográfico" com o trabalho de antropólogos em pesquisa. Bem, eu cheguei perto de experimentar esse tipo de ambiente mais tarde em outros lugares de colonização britânica - conversas de bar na Nova Zelândia e Austrália - mas nunca nos Estados Unidos. Assim foi que as minhas velhas "cartas vindas do campo" se tornaram "contos de bar"! Esse interesse em trabalho de campo enquanto experiência, enquanto processo, e como ele surge como assunto de textos e conversas e adentra as "grandes ideias" da antropologia em qualquer período tem sido o fio condutor de toda a minha carreira.
Suponho que o padrão distintivo do meu início de carreira tenha sido o seguinte: sempre como o "estranho no ninho", eu entrei em programas de treinamento em departamentos que tinham sido dominados por experimentos em interdisciplinaridade entre as ciências sociais, e nos quais antropólogos tinham que se adequar, sempre como um parceiro menor, periférico. Isto é verdade em relação ao meu próprio programa em Yale, e igualmente verdade sobre o Departamento de Relações Sociais de Harvard no qual ingressei em 1971, depois de dois anos de serviço militar, durante a Guerra do Vietnã. Por falar nisso, durante a Guerra ensinei, em tempo parcial, na Universidade da Carolina do Sul e conduzi um trabalho de campo inconclusivo entre os povos falantes de gullah da região das Sea Islands, na costa da Carolina do Sul.
O Departamento de Relações Sociais tinha sido fundado por Talcott Parsons sobre um plano funcionalista, no qual a antropologia abordava questões de cultura. (A propósito, Geertz havia se graduado por aquele Departamento e produzido ali seu primeiro trabalho voltado para o desenvolvimento, na Indonésia, nos anos 50, através de um projeto interdisciplinar de Harvard). Portanto, uma característica do início da minha carreira é que me vi envolvido em programas interdisciplinares nos termos em que a antropologia tinha que se autodefinir e orientar-se. Em Yale, embora eu já estivesse profundamente interessado em antropologia em função da minha experiência com as velhas cartas escritas por minha irmã, lá eu estava integrado nos objetivos de economistas e cientistas políticos. Em Harvard, embora eu já tivesse provado da experiência de trabalho de campo na região das Sea Islands e na Guiana, eu estava no histórico Departamento de Relações Sociais, onde a antropologia tinha que se enquadrar nas propostas prioritárias de sociólogos e psicólogos. Ao longo do caminho, fui percebendo que paradigmas clássicos, e anteriormente sólidos, da pesquisa antropológica nos EUA e na Grã-Bretanha pareciam esgotados. Como se revelou a posteriori, o Departamento de Relações Sociais em Harvard, quando eu lá cheguei, estava vivendo seus derradeiros anos. Tanto foi que, muito embora eu assistisse a palestras de Talcott Parsons, Daniel Bell e vários outros luminares, acabei recebendo o meu diploma pelo Departamento de Antropologia.
Paralelamente, o Departamento de Antropologia também estava passando por uma transição no começo dos anos 70. Os grandes projetos colaborativos de longo prazo, que haviam firmado a sua reputação - como o projeto Chiapas, no México, o projeto Ge, no Brasil, o projeto Bushman, no sul africano - já estavam todos envelhecidos; as pesquisas mais interessantes e importantes já haviam sido feitas. Eu me juntei a um retardatário no estilo - o projeto colaborativo de longo prazo sobre gerenciamento de conflito, organizado por Klaus-Friedrich Koch, quase todo centrado em Fiji. Para a minha pesquisa de doutorado, eu concordei em fazer um estudo na vizinha ilha de Tonga. Sobre o quê? Sobre a política de monarquia e nobreza, e de como ela se materializava. Isto fez de mim um especialista sério em Polinésia, com conhecimento de todo o instigante trabalho que estava acontecendo na Melanésia, durante os dez primeiros anos da minha carreira como estudante de pós-graduação (de 1970 a 1980).
Como sempre, eu fui um tipo de metaobservador de tudo, meio à margem, no meu estilo contínuo de "estranho no ninho", de membro-intruso. Pessoalmente, nunca absorvi quaisquer dos principais paradigmas da antropologia que informasse esse tipo de trabalho regional - em particular o da história estruturalista de Marshall Sahlin que veio a dominar completamente, por certo tempo, os estudos polinésios e a crescente conexão da antropologia para trabalhar em contextos da história social colonial e pós-colonial. O "quente" e na moda em antropologia durante os meus últimos anos em Harvard era a sociobiologia, liderada por Edward O. Wilson, Robert Trivers e Irven DeVore, este último da antropologia, famoso por seus seminários chamados de "simianos". Naquele momento, aquilo tinha mais energia do que quer que estivesse acontecendo em quaisquer dos outros projetos mais antigos de antropologia social em Harvard. Eu admirava a energia intelectual do movimento, mas não estava convencido.
Quando eu assumi o meu primeiro e praticamente único emprego de carreira (1975-2005), na Universidade de Rice, em Houston, Texas, eles tinham um pequeno, ainda que desconhecido, mas excelente Departamento de Antropologia. Na época, eu poderia ser descrito como um antropólogo com as seguintes características: alguém com considerável experiência em trabalho de campo, que estava mais interessado em questões metodológicas/ filosóficas e na natureza do conhecimento antropológico do que nos antigos ou "reinantes" paradigmas de pesquisa propriamente ditos. Por exemplo, eu estava mais interessado em ler sobre como Boas e Malinowski e Lévi-Strauss executavam seus trabalhos do que nas suas teorias. Ou melhor, eu estava interessado apenas nas ideias que podiam ser rastreadas nas suas experiências de pesquisa. Também poderia ser visto como um antropólogo sempre sensível às políticas de pesquisa, à interdisciplinaridade e às formas colaborativas, assim como às ideologias através das quais a antropologia moldava a si mesma e era moldada. E quanto a isso, eu tinha um entendimento prático bastante "político".
Outra característica minha, naquela época, era a de ser um antropólogo com muita leitura sobre a ascensão do pensamento francês pós-estruturalista (Foucault, Derrida etc.), dos primórdios do feminismo, e da teoria crítica da pós-Escola de Frankfurt, muito lida pelos alunos de Harvard no meu tempo, durante o declínio das Relações Sociais e da letargia na Antropologia Social. Em suma, tendo passado por famosos Departamentos de Antropologia anglo-americanos em decadência, eu era basicamente autodidata e influenciado pelo que estivesse "no ar" na cultura estudantil, por assim dizer, e motivado por preocupações pessoais, diretas e bibliograficamente sustentadas, com a história e a prática do método moderno da antropologia - e, igualmente, como esse método poderia ser moldado por diferentes experiências de parcerias interdisciplinares ao longo da trajetória histórica dessas parcerias até o presente.
Em razão de uma oportunidade especialíssima em Rice, um colega mais velho, Stephen Tyler (a propósito, sobre Stephen Tyler, à época, ele já era um linguista reconhecido, mas em início de carreira na antropologia cognitiva. Stephen assumiu riscos e eventualmente tornou-se diretamente envolvido com o momento pós-moderno, nos seus altos e baixos) e eu conseguimos reerguer um departamento, que havia sido reduzido a duas unidades por volta de 1980, e trazê-lo, com o tempo, à condição de um departamento com dez escolas, todas em antropologia sociocultural, representativas dos nossos gostos e senso de direção para onde a antropologia estava caminhando. Minha educação real e profunda em antropologia se deu nesse processo de recrutamento, e nas associações e redes que foram criadas. A "conversa de bar", em certa medida, foi substituída pelas entrevistas de trabalho e visitas que patrocinamos ao longo dos anos, incluindo aí o recrutamento de alunos da pós-graduação compatíveis com nossos propósitos - por ano, quatro novos alunos, saídos de um grande grupo de candidatos talentosos pré-selecionados.
O momento Rice em antropologia durou, eu diria, do início dos anos 80 até o final do século XX. Quando eu me mudei para Rice, a moda de conversação e interesse interdisciplinar já havia transitado das ciências sociais para as humanidades, por causa do que hoje é conhecido como movimento pós-estruturalista, de intenso interesse em repensar as teorias de cultura, língua e literatura no mundo de falantes do inglês, e talvez além. Durante aquele período - digamos, do final dos anos 70 passando pelos anos 80, indo até o começo dos anos 90 - os estudos literários demonstravam grande interesse pelas questões da antropologia e nutriam muito interesse pela natureza de outras culturas. Havia muitos tipos interessantes de movimentos interdisciplinares, como o novo historicismo de [Stephen] Greenblatt, que combinava um tipo de estudo cultural com estudo literário e história. O eixo principal era formado por história e literatura, com um interesse (sempre) periférico em antropologia. Esse deslocamento das ciências sociais para as humanidades me foi muito simpático no meu modo inicial de pensar a antropologia. Mas eu ainda me sentia constantemente na obrigação de explicar a antropologia para aqueles que não eram da antropologia, mas que se interessavam por ela. O entendimento não especialista da antropologia como o estudo do exótico, do irracional e baseado nas raças ainda permanece um risco até os dias de hoje.
Durante o meu período na Rice foi quando eu realmente aprendi antropologia pela primeira vez, trabalhando, através dos colegas e outros, em todas as perspectivas que me fizeram falta nos programas decadentes pelos quais já havia passado. Havia muitas matérias da minha formação que eu não sabia bem (linguística, semiótica, estruturalismo) e que eu realmente aprendi ensinando na minha primeira turma.
Alguns poderiam dizer que eu passei a minha carreira inteira na Rice (30 anos) antes de me transferir para a Universidade da Califórnia, Irvine, minha atual posição, onde já estou há 10 anos. Dos meus 30 anos na Rice, fui chefe de departamento por 25 anos. Minha principal realização na carreira foi ter criado um "departamento butique" que era, ao mesmo tempo, uma espécie de local coletivo de pesquisa - diria sem exagero, a mais gratificante antropologia universitária em todos os tempos e lugares na sua história. Era uma universidade pequena, muito rica, com um pequeno e seleto programa de pós-graduação, em um momento intelectual único de mudança disciplinar, pelo menos nos EUA. Por isso, o departamento tinha uma invulgar coerência e nenhum conflito interno. A edição do Writing culture foi o maior fenômeno - a identidade da antropologia no "movimento" da teoria literária / cultural2 2 Nota dos entrevistadores: Na entrevista, George Marcus utilizou o termo "revolution" para se referir a esta questão. . Rice era um lugar onde se jogava para valer! Por isso também eu posso dizer que a realização principal da minha carreira foi como um construtor de departamento, ou de gerente de um "laboratório coletivo" de ideias-chave de um dado momento. Meu próprio pensamento e desenvolvimento em antropologia era bastante dependente dessa coletividade, embora eu tivesse minha própria pesquisa sobre as elites, o mundo das artes, sobre as variadas formas e significados da riqueza, a respeito do início do pensamento antropológico sobre a natureza do capital financeiro - do que podemos falar, se vocês quiserem.
Assim, tenho grande apreço pelo desenvolvimento do conhecimento em ambientes colaborativos. Dou muito valor ao pensamento independente nos espaços entre as disciplinas, mas os resultados devem ser frutos das parcerias e dos coletivos - lembrando que não foram as questões originais da antropologia que me trouxeram para esta disciplina. Há vários anos venho produzindo todas as minhas publicações importantes em diversos tipos de coletâneas e coautorias. Depois de vir para a UC Irvine, fundei um Centro para Etnografia (2005), onde o tema colaboração tem sido explorado como um dos principais e mais consistentes. Não só porque a colaboração se tornou especialmente popular e ficou na moda como a ideologia de trabalho administrativo de todos os tipos neste novo século altamente tecnológico (o que não é exatamente uma coisa boa), mas também porque eu sempre fui parcial em relação a ela na minha própria experiência profissional.
João Pacheco de Oliveira e Priscila Faulhaber: Como o senhor distingue a crítica cultural em antropologia da interpretação geertziana de cultura?
GM: A ideia de antropologia em si não foi desafiada pela obra Writing culture. O que foi questionado foram as suas formas típicas de expressão, não só sua escrita, mas alguns dos seus conceitos fundamentais, como cultura, e todo aparato que a elaborou - o tradicional, parentesco, mito, ritual etc. Estas questões continuaram sendo assuntos importantes, naturalmente, mas foi abalada a confiança no modo como foram desenvolvidos na antropologia como representações e como fatos (sugiro que essa confiança fazia tempo tinha sido prejudicada, na verdade, por modernidades do pós-guerra, mas esta percepção permaneceu como uma atitude ou "estrutura de sentimento" na antropologia, até então inarticulada). O Writing culture, assim, forneceu os meios para uma crítica interna criativa do que poderia ser dito em discussões e análises antropológicas, do que seria o "assunto" da antropologia no ato da pesquisa. Eu acho que nós registramos três áreas problemáticas que vinham crescendo pelos anos 50 e 60. Uma era o problema com o modo pelo qual o conceito de cultura era usado na produção de etnografia, ou seja, o conceito holístico, funcionalista de cultura que isolava os povos da história. Assim, este era um tipo de problema teórico que havia sido abordado por vários outros, mas não com um instrumento crítico tão poderoso, qual seja, explorar as questões em torno da representação.
Depois, havia o problema da política da antropologia, que ao que parece foi contestada e debatida durante os anos 60 em livros como Repensando a antropologia, de Dell Hymes. O contexto político da antropologia não se tornou de repente um novo tema, mas já não estava mais no centro da discussão, pelo menos nos EUA, entre os anos 70 e 80. Assim, nos mais silenciosos e politicamente mais conservadores anos 70 e além, a crítica da representação etnográfica trouxe de volta a crítica política da antropologia como cúmplice do colonialismo. Naturalmente, em outros lugares, esse tipo de crítica política nunca andou separada da ideia de antropologia. Nos EUA, tem sido episódico. Além disso, seria possível creditar às feministas estarem lá em peso antes da crítica do Writing culture, mas elas tinham objetivos bem maiores do que criticar uma disciplina e seus conceitos centrais.
Em terceiro lugar, veio o impacto da teoria pós-estruturalista através da literatura, tentando se reestruturar como uma forma mais abrangente de estudos culturais, de estudos literários. Então, a literatura levantou a questão da representação, e focou no gênero fundamental da expressão antropológica: a etnografia. E metodologicamente legitimou uma forma bastante elaborada de reflexividade que nunca tinha sido tão aprovada na condução de trabalho de campo.
Desse modo, estas três dimensões constituíram um paradigma crítico distintivo, pelo menos na antropologia norte-americana, além de terem sido influentes em outros lugares. O livro Antropologia como crítica cultural (1986), de minha autoria e de Michael Fisher, refinou, especificamente para antropólogos, esse paradigma crítico que o Wrinting culture levou para além da disciplina da antropologia. A obra absorveu a importância da crítica da representação e da reflexividade no método, mas focou preferencialmente na função crítica há tempos incorporada à pesquisa antropológica, e tornou isso óbvio pelo alinhamento dessa crítica com certos movimentos ocidentais clássicos de crítica cultural, tais como a Escola de Frankfurt, entre outros. A obra também foi escrita bem de acordo com a tradição da antropologia interpretativa, muito influente na época, e da qual Clifford Geertz era inquestionavelmente o protagonista.
Agora, quanto à sua pergunta específica sobre a diferença entre o argumento da crítica cultural e Geertz: em várias fases de sua carreira, Geertz foi realmente a última grande expressão do tipo de teoria cultural que era tão característica da antropologia americana boasiana. A longa fase final foi, é claro, marcada por seu livro A interpretação das culturas (1973). Partindo de um interesse anterior em análise e teoria simbólicas, a obra de Geertz foi uma exploração das fontes de teoria fenomenológica e hermenêutica para fixar a análise cultural antropológica contemporânea em fundamentos filosóficos mais sólidos e profundos. Em termos da forma dos até então debates, estava em oposição quase natural ao materialismo e às perspectivas marxistas correntes e dominantes nos anos 60 e 70 na antropologia americana. A proposta da "crítica cultural" atraiu uma geração mais jovem para escapar completamente das condições de dois campos opostos em torno dos quais muito da antropologia americana parecia se organizar, e assim o fez em favor de atentar para como a análise cultural estava se abrindo para o pós-estruturalismo e diversos outros movimentos, dos quais o mais importante era o feminismo.
Um novo interesse em movimentos anteriores de crítica cultural baseados em métodos documentais se mesclou com os debates da época sobre representação para definir um objetivo para a pesquisa antropológica sobre as mudanças emergentes na vida contemporânea fora da colocação dogmática das estruturas históricas mundiais ou das teorias da história. O próprio Geertz, acho eu, estava de acordo com o movimento em direção à crítica cultural - isto resultaria em inúmeros trabalhos etnográficos sobre o "saber local" de qualquer natureza, pesquisados a fundo, imparciais e historicamente contextualizados. Escaparia da rotina das determinações materialistas e dos paradigmas ultrapassados sobre o desenvolvimento do "Terceiro Mundo", em cujos termos os antropólogos elencam seus estudos sobre a vida contemporânea e a modernidade em geral. Ele foi muito mais crítico daquilo que se tornou a ideologia da "virada literária" no Writing culture.
Para nós, uma geração mais jovem de antropólogos, a "crítica cultural" tornou-se uma oportunidade de abrir a antropologia para novas questões e áreas de pesquisa - estudos da ciência, da mídia, dos novos movimentos culturais e sociais - livre dos velhos debates e categorias. A antropologia, naturalmente, já vinha desenvolvendo subcampos sobre muitos desses fenômenos contemporâneos - vida urbana, desenvolvimento etc. A crítica cultural foi um convite para nos apropriarmos desses interesses através do reestabelecimento de uma lógica para persegui-los como perguntas de pesquisa no núcleo da própria disciplina.
João Pacheco de Oliveira e Priscila Faulhaber: O senhor poderia nos falar sobre a teoria da crítica cultural?
GM: Bem, eu acho que o "jogo" mudou completamente desde a era da crítica cultural, e a antropologia, talvez mais do que qualquer outra ciência social, está lutando de forma bastante entusiasmada para redefinir suas tradições de estudo. Como tradição e campo de estudo, a antropologia tem sido imensamente ajudada pela emergência da autoconsciência global de que esta é a era da "antropocena" - um sentimento compartilhado globalmente de crise climática/ambiental na qual as questões históricas básicas da antropologia sobre a natureza do humano são preocupações centrais da própria humanidade. Entretanto, de forma alguma a antropologia está se reinventando recorrendo ou esperando pela "grande teoria". "Antropologia", neste sentido, é agora uma aposta explícita de toda ciência humana. Minha preferência, entretanto, por consistência com a minha afinidade biográfica pela antropologia como uma opção de carreira, que já expliquei, é entender como seus métodos consagrados, construídos sobre pesquisa etnográfica e trabalho de campo estão mudando.
Fazendo uma retrospectiva do que a chamada "crise da representação" fez à antropologia durante e depois dos anos 80, juntamente com a poderosa crítica pós-colonial da história na qual estava inserida, nós poderíamos dizer que se estabeleceu uma condição limite para enquadrar e afirmar antigas questões e projetos antropológicos, e que se deu licença a jovens acadêmicos para percorrerem novas direções. Os velhos temas - os mundos da alteridade e as condições dos povos indígenas, para os quais o método etnográfico foi historicamente idealizado para estudar em profundidade - têm mantido uma bússola ideológica central enquanto muitos outros tópicos e assuntos têm se espalhado. Como a etnografia tem sido ao menos repensada como modelo da pesquisa - ou crítica cultural, para usar o jargão das décadas de 1980-1990 - neste universo mais eclético e diversificado de questionamentos?
1. Por um momento, durante e após a década de 80, os etnógrafos incorporaram suas práticas a contextos definidos pela pesquisa histórica mundial, social e colonial. Eles mudaram para permanecerem os mesmos.
2. Cada vez mais, à medida que os etnógrafos abordam problemas contemporâneos e emergentes, eles investem mais profundamente em suas preocupações públicas e ativistas de sempre, e se justificam mais explicitamente nesses termos. A mudança e as múltiplas gradações de expressão dos públicos de questões contemporâneas definem os tópicos das pesquisas para as quais o antropólogo contribui de forma pontual enquanto durarem as tendências.
3. Eles se voltam para dentro, tornam-se hiperteóricos e arquivistas, e reinventam a relevância de problemas clássicos e os seus termos para a antropologia atual. Esta é a proposta de um ensaio de "tomada de posição" de Timothy Ingold, intitulado "Anthropology is definitely not ethnography". Esta proposta reflete também o desejo de refazer a antropologia nas bases de seus programas ambiciosos mais recentes, historicamente falando, como o estruturalismo, e isto ocorre em lugares onde a reputação da antropologia se assentava em determinadas conquistas etnológicas - seu extraordinário arquivo histórico e contemporâneo expressando as condições dos povos indígenas. De acordo com o polêmico comentário de Terence Turner, por exemplo, esta é a antropologia corrente na Amazônia, numa fase de "estruturalismo tardio", que imediata e ambiciosamente cria para si ideologias de teoria como "ontologia" sobre as quais debates antropológicos podem ser organizados.
4. Etnógrafos absorvem suas novas colaborações tanto dentro como fora da academia ou do museu e criam com elas novos recursos e formas de pesquisas para si próprios. Aqui, métodos estabelecidos se tornam fontes importantes de inovação que requerem novas parcerias. Método é muito mais do que simplesmente método, e etnografia se transforma em terreno reforçado de experimentação com as técnicas clássicas e a ideologia de trabalho de campo. Aqui, a etnografia de alguma forma se junta às colaborações globais às vezes variadas, outras vezes sistematizadas, e faz delas seu próprio "trabalho de campo".
Estas quatro tendências não são mutuamente excludentes na prática contemporânea, mas alinhado com meus próprios interesses desde a década de 90, estou mais interessado pela quarta. Esta opção aparece mais obviamente para abordar questões de método, mas não é apenas isso. Nela há o interesse de ir até a fonte no processo de pesquisa no qual as ideias antropológicas são articuladas, pensadas, induzindo um tipo de etnografia, ou seja, uma etnografia que é compartilhada tanto no nível intelectual elevado como no nível prático aplicado em conjunto com sujeitos e parceiros na pesquisa. Uma expressão desse conhecimento - textual, ou não - é igualmente um produto especializado e um meio de pesquisa antropológica. O que é exclusivo da etnografia, creio eu, é a construção de suas ideias - e seus conceitos e teorias - a partir daquelas dos sujeitos e parceiros encontrados no trabalho de campo. Nesse sentido, a teoria é a forma primitiva dos dados - não o seu resultado - mas como tal deve ser localizada nos sítios e nas situações do trabalho de campo. Isto requer formas dialógicas de recepção que o antropólogo tem que produzir, encenar, projetar e incorporar às noções clássicas de trabalho de campo e à produção de textos etnográficos provenientes delas. Como tudo isso pode ser encenado, mediado e circulado em um projeto "padrão" de pesquisa antropológica contemporânea é assunto de profundo interesse para mim, como já enfatizado em escritos recentes, e que tenho tentado submeter à experimentação em um modesto Centro para Etnografia que criei na minha universidade assim que cheguei, em 2005 (Cf: www.etnography.uci).
Assim, meu impulso é trazer de volta a produção da etnografia - os textos publicados - para dentro da experiência contemporânea de construir o campo do trabalho de campo. E para isso é preciso que haja formas e normas para corrigir as formas textuais que já temos, tornando-as performativas e, em parte, mais ativamente intervencionistas, além de redimensionar os próprios ideais regulatórios clássicos do método etnográfico. Desta maneira, o que procuro são formas de atuação, colocação e textualização dentro e ao longo do trabalho de campo. Aparecendo para tornar-se teatro, atuação, ou experimental no sentido estético, por um lado, ou trabalho de estúdio de designers, por outro, sugiro que essas alianças criam as formas de atingir os fins respectivamente históricos, analíticos e teóricos da pesquisa antropológica conforme sua evolução desde a década de 1980.
João Pacheco de Oliveira e Priscila Faulhaber: Gostaríamos de ouvi-lo falar um pouco mais sobre esse Centro para Etnografia na UCI.
Organizar um centro para etnografia depois da minha mudança para a Universidade da Califórnia, Irvine, em 2005, proporcionou a mim e a outros a oportunidade de refletir e modestamente testar essas formas de produção etnográfica dentro e ao lado das políticas e dos dilemas de estabelecer locais e condições segundo o espírito clássico de trabalho de campo, no qual a observação participativa contínua, as ações dialógicas e os relacionamentos sérios e significativos para a pesquisa possam ser cultivados. Estes são os meios para experimentar a textualização da etnografia no tempo real do trabalho de campo. O Centro tem oferecido uma oportunidade de pensar sobre formas que trouxessem o processo da escrita etnográfica de volta para os problemas práticos, reais de constituir o trabalho de campo em universos diversamente construídos desde a base. Pessoalmente, venho pensando sobre essas formas desde a década de 90, quando me interessei pelo surgimento de uma "etnografia multissituada", com sua metáfora de "seguir", como a condição de produzir esse tipo de pesquisa - semelhante a outros imaginários de pesquisa e teoria sobre processos móveis ou circulantes de construção de conhecimento, muito em voga naquela década - sendo a mais influente a teoria ator-rede, ainda em voga.
Entretanto, hoje em dia, aquela visão da vida social do método etnográfico está bastante solitária. Sugiro que ela deveria ser reimaginada e desafiada a abordar novamente o problema de situar as virtudes e os efeitos do trabalho etnográfico de microescala num mundo interconectado e globalizado no qual colaboração veio a ser a palavra-chave, quase expressão normativa universal de relações sociais desejáveis. A etnografia permanece multissituada, mas sua composição não pode ser compreendida seguindo-se e explicando-se os processos que são autoritária e esteticamente percebidos nos relatos resultantes. Um problema capital é que a evocação da etnografia multissituada veio a ser entendida de forma literal como a reprodução e a multiplicação de sítios de pesquisa individual onde modos e padrões de pesquisa aplicáveis a um seriam produzidos em cada um deles. Naturalmente, esta questão estava aberta a óbvias críticas de viabilidade, que eu já previra no ensaio original. O que mais me interessava pessoalmente era como o trabalho em um lugar suscitava rotas frequentemente ocultas para outros, precisamente através do trabalho teórico ou conceitual que o etnógrafo pudesse fazer com assuntos específicos e não outros, ou seja, o informante-chave tornando-se o parceiro epistêmico em relações de cumplicidade - um construto com o qual eu já trabalhara na década de 1990. Esta é também a forma como múltiplas escalas e caminhos de consequências não intencionais foram evocados no magistral trabalho de Anna Tsing, de 2005, Frictions, por exemplo.
Nesta trajetória, eu realmente vi o construto multissituado tornar-se algo como as conectividades emergentes, e caminhos de recursão gerados por ideias características da etnografia produzidas de forma colaborativa surgirem nas cenas de trabalho de campo - como uma tecnologia de fazer perguntas que dava início a uma trajetória de fato multissituada. O que faltava era pensar sobre as formas literais que pudessem então materializar esse sentido de processo de trabalho de campo. Mudanças na maneira como o mundo se apresenta a etnógrafos para projetos de trabalho de campo, e mudanças extraordinárias na mídia e nas tecnologias de comunicação finalmente tornaram explícita e urgente a questão de fazer coisas de forma diferente com o método clássico. Na formulação multissituada original, esta questão não estava aprofundada, mas só se tornou gradualmente mas nunca claramente dizível em tempos recentes. Estas têm sido as maiores preocupações e experimentações com forma que têm surgido no Centro em UCI até agora:
1. Colaboração: A colaboração foi o primeiro e talvez óbvio interesse da consideração do Centro, e assim tem permanecido. Muito embora a colaboração, na prática, seja um componente mais ou menos explícito de projetos etnográficos individualmente escritos desde o início do método, a colaboração é em toda parte agora um padrão e uma expressão normativa de associação. É um "bem" universal a ser fomentado com muito poucas sombras. É, por isso, o meio de acesso prático, formal e realista para se constituir o trabalho de campo entre grupos, projetos grandes e pequenos, locações, sítios e lugares. É tanto o éter como o casulo de projetos de pesquisa concebidos individualmente, e que se tornam colaborativos em toda parte, por tração ou empurrão. Em suma, as colaborações não são uma escolha no trabalho de campo, são a condição para a sua constituição. Experimentos dentro de colaborações e suas políticas de relações de pesquisa definem o grau de liberdade que os etnógrafos podem reservar para fazerem suas próprias perguntas.
2. Experimentos pedagógicos: Os tipos de alunos que se tornam antropólogos atualmente, e que passam pelo processo de iniciação da etnografia, são distintos por quase sempre terem estado onde querem chegar (como jornalistas ou trabalhando em ONGs de variadas causas e tamanhos), tendo experiência e sabendo línguas relevantes para a alteridade antes definidora do lugar do objeto etnográfico.
Eles chegam e são recrutados com base nos compromissos, e curiosidades que já possuem sobre os problemas para os quais se tornaram antropólogos irão ajudá-los a conhecê-los de novo ou mais profundamente. Assim, normas regulatórias do método clássico curvam-se pragmaticamente para se ajustarem ao que é trazido pelos novos alunos. O impulso é levar a produção de etnografia de volta para a experiência de campo, mas torna-se necessária uma pedagogia para fazê-lo. Os ideais regulatórios de Malinowski constituem ainda as bases do treinamento teórico e metodológico antes da aventura no literalmente desconhecido. Em vez disso, experimentos com forma etnográfica - no estúdio ou na sessão colaborativa de planejamento (charrette) - expandem a imaginação para projetos para os quais os alunos já vêm comprometidos. As possibilidades experimentais aumentam consideravelmente em revisões de dissertações de pós-doutorado, e nos imaginários para um segundo projeto, quando os antropólogos recém-formados estão sozinhos. Trabalhos de pós-dissertação e projetos posteriores não são mais tão malinowskianos. Mas o primeiro trabalho de campo é confuso, especialmente se em meio a envolvimentos em rede de projetos colaborativos grandes e pequenos, preexistentes, altamente reflexivos e às vezes até para etnográficos na aparência. Formas e expedientes alternativos poderiam ajudar, se ao menos eles fossem incentivados pela experiência pedagógica.
3. Terceiros espaços, estúdios, parassítios e formas intermediárias de trabalho conceitual dentro do trabalho de campo e em paralelo com ele: Os terceiros espaços foram evocados no trabalho recente de Michael Fischer no esforço de imaginar uma antropologia distinta da ciência e da tecnologia. Eles surgem em momentos "platôs" do trabalho de campo, que são oportunidades dialógicas para os antropólogos, quando questões éticas são debatidas e articuladas pelos atores sociais no processo. Sua emergência sugere estratégias alternativas e performativas de levantamento etnográfico. Parassítios evocam experimentos com a encenação real desses eventos de terceiro espaço, mais no espírito de estúdios do que de seminários, em meio ao trabalho de campo ou em paralelo com ele, como um modo de desenvolver linhas de pensamento ou trabalho conceitual entre as partes relevantes e cooperativas. "Terceiros espaços" e "parassítios" são expressões específicas de ou protótipos para as formas intermediárias que tenho em mente.
4. Plataformas e experimentos digitais com composição, comentário, relacionamento, recepção, micropúblicos e textualidades: Plataformas digitais são, em sua concepção e manutenção, na verdade, terceiros espaços que estão se tornando formas primárias do gênero para a etnografia - elas aglutinam textos e trabalho de campo. Elas prometem ainda condensar muitas das funções que eu imagino como formas intermediárias para realçar, se não deslocar, a produção tradicional de textos etnográficos do trabalho de campo. Entretanto, são grandes empreendimentos coletivos, envolvendo coordenação considerável, devotado trabalho de gerenciamento e curadoria, além da luta por recursos, quando estes não são provenientes de fontes externas. O Centro não patrocina ou produz nenhuma delas, mas se interessa por projetos em andamento. Nós estamos, por exemplo, especialmente interessados em acompanhar os Arquivos da Asma, plataforma concebida e mantida há vários anos por Kim e Mike Fortun, que têm escrito em detalhe sobre a derivação do projeto da sua plataforma da linhagem do Writing culture e, mais genericamente, do fermento da teoria cultural durante as décadas de 80 e 90. Algumas plataformas permanecem pequenas e lutam produtivamente. Outras começam no interior de ou são assimiladas por enormes e bem financiados projetos filantropo-capitalistas.
5. Expedientes contemporâneos, em geral: nidações, cimbramentos, recursões, recepções e micropúblicos: Experimentos e projetos digitais para pesquisa e escrita etnográficas são tipos especiais de expedientes, improvisações com a forma clássica de etnografia segundo as restrições e as possibilidades das tecnologias midiáticas. Eu pessoalmente estou mais envolvido com um tipo de expediente que trabalha com as formas clássicas, tecnologicamente mais primitivas da etnografia (observação participante, anotações durante a imersão no campo, escrita feita in loco etc.). Eles são experimentos em pesquisa contextualizada e pensada em contextos naturais com parceiros encontrados e colaboradores, embora tenham desenvolvimento complexo, abordando as questões de gradação e circulação que o meu interesse original no surgimento da etnografia multissituada na década de 1990 começou a abordar. Esses experimentos têm caminhos muitas vezes inesperados e disjuntivos, ou trajetórias que surgem no trabalho de campo, mas que têm uma coerência de ideia ou um problema que os define.
Isto implica uma espécie de reformulação do quadro multissituado em que a ideia de mover-se entre sítios intensamente investigados de trabalho de campo foi imaginada como processos de seguimento. Expedientes significam um redimensionamento da função desse estilo de pesquisa multissituada saídos de processos de seguimento intensamente investigados, em sítios apropriados e encontrados, em direção à ideia de construir e montar micropúblicos e recepções para as ideias e as percepções criadas como tentativas nas arenas iniciais de investigação, e transformadas em argumento, em dados etnográficos, em teoria à medida que se deslocam. Como vou argumentar, este é o movimento do modesto projeto de pesquisa etnográfica em direção a um eventual "encaixe" ou limite de autoridade, mas não ao chegar, com a apresentação de um modelo, uma explicação ou uma descrição analítica simplesmente, ou principalmente como ponto final ou produto, mas com um outro apelo para recepção, em meio a história alheia, por um caminho recursivo de circulação, que pode ser um caso decisivo, ou talvez limitador - do tipo que é articulado na linguagem dos modelos, consequências, resultados e conhecimento por avaliadores do projeto na academia ou alhures.
Em certo sentido, isto é uma chamada para a preservação e o progressivo refinamento de protótipos enquanto núcleo da pesquisa etnográfica, e o que em um projeto colaborativo em andamento, no qual estou envolvido, estamos chamando de "encontros produtivos". Protótipos são as formas de trabalho da inovação, das ideias especulativas e criativas que, no entanto, estão ligadas à realidade de um produto que irá funcionar nas sociedades tecnologicamente motivadas de hoje. Na tecnologia, protótipos são descartáveis, talvez lembrados pelos aficionados por tecnologias, mas, caso contrário, eles são criados para serem inevitavelmente esquecidos. Antropólogos em seu pensamento conceitual também tratam com protótipos, mas investem mais neles. A riqueza do que eles têm para oferecer perdura como tal no campo. As ideias firmes e peremptórias que os antropólogos produzem como conceito ou teoria frequentemente não são mais fortes ou duradouras que os protótipos. O debate antropológico contemporâneo depende da preservação de ideias prototípicas, como uma forma de dados, revitalizando-as para outras possibilidades, e algumas vezes resgatando-as de conceitos "prontos" do jeito com que aparecem em textos e publicações para pesquisa contínua. Em antropologia, ideias prototípicas unem os espaços do experimental e do oficial. A "dádiva", por exemplo, é uma das ideias de protótipo mais duradouras da antropologia.
A multissitualidade aqui está sendo proativa e levando tais protótipos de pensamento de campo para locais de recepções e micropúblicos de variados níveis, e para quem essas ideias não seriam de outra maneira apresentadas, ou não apresentadas em fóruns compostos. O que se deseja como o papel do experimento é abraçar recepções em um trabalho de campo ainda embrionário antes que este atinja pontos de autoridade ou "ancore" neles, oferecendo relatórios e debates com a academia, ou que sejam assimilados por projetos patrocinados por instituições ou fundações filantrópicas capitalistas. Anteriormente, algo deste tipo seria o ponto final da pesquisa etnográfica no papel e no exercício da competência antropológica nos paradigmas de desenvolvimento das décadas de 50 e 60. Seus sucessores são a colaboração baseada em projetos filantropo-capitalistas, como a Fundação Gates, e muitas outras em outras partes do mundo, que se baseiam nesse modelo. Meu argumento é que a pesquisa etnográfica na sua modesta escala tradicional pode trabalhar fora de tais domínios de autoridade por períodos consideráveis, embora estes definam um limite inevitável para isso, que chamei de pontos de "encaixe" da etnografia. Enquanto isso, esse paradigma multissituado para a etnografia é capaz de uma trajetória que não segue processos, mas movimenta resultados etnográficos, tais como pensamento, conceitos, especulações fundamentadas - protótipos - por entre diferentes micropúblicos que ela modestamente constitui para seus propósitos através de colaborações, por exemplo, com designers e artistas, minha atual tendência. O projeto de pesquisa da universidade é suficiente ou será, como penso, para oferecer meios para que seja criada uma escala de recepção diversificada na pesquisa - um variado campo comunicativo de experimentação.
Colaborações estreitas de trabalho, específicas para o projeto, são essenciais para a produção deste tipo de etnografia multissituada, mesmo quando ela é imaginada como o trabalho solitário do pesquisador de campo. Por exemplo, Kim Fortun, em sua etnografia de 2001, Advocacy after Bhopal, faz um relato excelente sobre o trabalho dentro dos circuitos de ativismo que define os tipos de micropúblicos e recepções granulares (ela os chama de comunidades enunciativas) que um projeto etnográfico inserido pode evocar para seus próprios propósitos. Um bom exemplo seria como as representações midiáticas, as campanhas de defesa e as respostas legais contribuem repetidamente para transformar um incidente em evento, e como a etnografia cria paralelamente suas próprias recepções, provas de conceito e similares. Nós pretendemos com os projetos do Centro o mesmo tipo de inserção parcial e calculada da pesquisa etnográfica em outras práticas relevantes, mas, no nosso caso, os parceiros inspiradores, ou referentes, têm sido a concepção de designs e métodos, por um lado, e certos movimentos de arte contemporânea (arte de área específica e participativa e seus predecessores), por outro.
Para a etnografia, essas esferas alternativas prometem oferecer alguma imaginação, inventividade e alguns "truques do ofício" para as normas e as formas com as quais nós conduzimos experimentos. Portanto, na minha carreira recente, eu "fecho o círculo" permanecendo fiel à minha fascinação por aquelas cartas que chegavam do campo de pesquisa enviadas por minha irmã das selvas da Malásia há muitos e muitos anos...
-
3
Tradução de Stela Oliveira
-
1
Traduzido em português como "Um jogo absorvente: notas sobre a briga de galo balinesa". 1989. In: Clifford Geertz, A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC.
-
2
Nota dos entrevistadores: Na entrevista, George Marcus utilizou o termo "revolution" para se referir a esta questão.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Ago 2015