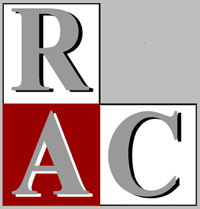DOCUMENTOS E DEBATES
Estratégia e gestão estratégica das empresas: um olhar histórico e crítico(1 1 Os autores agradecem Kamal Argheid de Concordia e Steve Maguire, da McGill University pelos comentários sobre uma versão anterior que permitiu uma melhoria sensível da qualidade deste texto. Pamela Sloan, da HEC Montréal e Howard Thomas, da Warwick Business School, enriqueceram nossa compreensão e estimularam nossas intuições durante numerosas discussões sobre o assunto. O artigo foi originalmente publicado na revista Gestion, Revue internationale de gestion, 32(3), 88-98, publicada pela HEC-Montréal, em 2007, e é aqui reproduzido, especialmente para a seção Documentos e Debates da RAC, com autorização dos autores e permissão da Gestion, Revue internationale de gestion. Tradução por Marc O. Abadie e revisão técnica de Roberto C. Fachin. )
Strategy and strategic management of companies: a historical and critical review
Taïeb HafsiI, * * Endereço: 3000 Chemin de la Côte St. Catherine, Montréal, Qb, Canadá, H 3 T 2 A 7. E-mail: Taieb.Hafsi@hec.ca ; Alain-Charles MartinetII
IDBA (Business Policy), Harvard University, Estados Unidos. Professor Titular da HEC/Montréal, Québec, Canadá
IIDoutor pela Universidade Paris-Dauphine, França. Professor Titular da área de Estratégia da Universidade de Lyon III, França
ESTRATÉGIA E GESTÃO ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS: UM OLHAR HISTÓRICO E CRÍTICO
A Harvard Business School foi criada um século atrás(2 2 HEC Montreal, cujo centenário está ora sendo celebrado, foi criada no mesmo ano. ). Nessa época, estava-se à procura de um tipo de profissionalização do trabalho dos empresários, mas não se sabia realmente o que ensinar. O sucesso das empresas não parecia obedecer a regras claras. Pelo menos, era difícil associar sucesso a práticas claras na gestão. Mudava-se o tempo todo. Inspirando-se na medicina, os primeiros pesquisadores e professores descobriram a abordagem prática enunciada por Hipócrates que se pode resumir da seguinte maneira (Roethlisberger, 1977):
O primeiro elemento do método é um trabalho difícil, persistente, ininterrupto, no quarto do paciente e não na biblioteca; uma adaptação completa do médico à sua tarefa, uma adaptação que não era simplesmente intelectual. O segundo elemento do método apóia-se em observações precisas das coisas e dos acontecimentos, na escolha, guiada por um juízo baseado no conhecimento e na experiência, dos fenômenos recorrentes e que ressaltam, além da sua classificação e da exploração metódicas. O terceiro elemento é a construção judiciosa de uma teoria - não de uma teoria filosófica, nem tampouco um grande esforço de imaginação, nem um dogma quase-religioso, mas um modesto processo pedestre ou talvez, dever-se-ia dizer, um bastão, útil para a caminhada, e a sua utilização posterior.
A abordagem de Hipócrates inspirou o método de casos. O caso de gestão descrevia uma situação real, complexa onde os múltiplos aspectos que influenciavam a situação eram apresentados para discussão com o propósito de entender a problemática, logo após a aplicação da abordagem analítica de Hipócrates, para chegar à construção judiciosa de uma teoria rústica, um modesto processo pedestre... um bastão útil para a caminhada cuja finalidade é a ação. É esta teoria rústica da direção da empresa que era progressivamente conceituada como a estratégia corporativa (Learned, Christensen, Andrews, & Guth, 1965).
O lançamento da abordagem estratégica tornou-se progressivamente o núcleo central da preparação educacional em Harvard. O MBA foi concebido lá como um programa de formação com um espírito estratégico. Os alunos aprendiam progressivamente a ter uma perspectiva de conjunto, a preocupar-se com a coordenação e com a integração que se tornou a marca distintiva do campo da estratégia. Harvard teve o monopólio de fato da abordagem estratégica até ao fim dos anos 50, quando a Ford Foundation pediu um estudo global sobre os estudos de gestão e incitou fortemente todas as instituições americanas a introduzir um curso de fecho (« capstone ») de política de negócios (« business policy ») para facilitar a capacidade dos alunos de integrar os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas especializadas.
Desde essa época, que considerava o mundo das organizações como complexo demais para ser tratado a partir das abordagens conceptuais simplificadas dos professores universitários, Harvard continuou a aperfeiçoar a abordagem de ensino centrada nos estudos de casos. A partir dessa abordagem, empresas de consultoria de prestígio foram constituídas e literalmente criaram uma verdadeira indústria da gestão estratégica(3 3 Ver o caso Harvard, McKinsey and Co., 9-396-357 (2000). ). Simultaneamente, trouxeram também melhorias sensíveis à análise estratégica tradicional e prepararam a objetivação e a aproximação das disciplinas científicas que iam seguir. Desde os anos 1960, a conceitualização da estratégia prosseguiu-se ininterruptamente. Os modelos básicos desenvolvidos por Harvard para a empresa mono-produto e por Ansoff para a empresa diversificada, foram significativamente enriquecidos, primeiramente pelos novos pesquisadores em estratégia e segundamente pelos pesquisadores dos domínios mais especializados, como o marketing, as finanças, a economia, a psicologia e a sociologia.
Hoje, esta objetivação foi tão adiante que os aspectos especializados, como os aspectos financeiros em particular, que são conceitualmente mais elegantes, eclipsaram a necessidade de integração, que é menos precisa e baseada no julgamento, levando ao que muitos observadores consideram como um impasse ou um ato de morte do campo da estratégia (Martinet, 2007).
Neste artigo, que se considera sobretudo como um relato retrospectivo e uma análise histórica, apresentamos em primeiro lugar a estratégia, o seu nascimento e os seus primeiros desenvolvimentos. Argumentaremos que a essência deste campo é tratar de perguntas vastas e complexas, difíceis de ser estruturadas e conceituadas. Numa segunda seção, descreveremos o processo que levou à transformação deste campo dominado pelo julgamento, para um campo científico. Após a descrição das modalidades técnicas que trouxeram contribuições significativas para a nossa compreensão e a utilização da idéia de estratégia, mostraremos que esta evolução conduz também à uma gestão amoral e distante do contexto, que se torna imoral e ineficaz. A partir desses grandes problemas e das suas características profundas buscamos, então, sugerir soluções que poderiam levar a um renascimento do campo.
A EVOLUÇÃO DA ESTRATÉGIA: DE BENGALA PARA CEGO(4 4 O texto em francês usa, literalmente, a expressão bâton d´aveugle que preferimos traduzir por bengala para cego. (N.R.T.) ) À ANÁLISE CIENTÍFICA
A Estratégia como Bengala para Cego(5 5 Os elementos desta seção são extraídos em parte de Hafsi, T., & Thomas, H. (2005). The field of strategy: In search of a walking stick. European Management Journal. 23(5), 507-519. )
O ensino em estratégia na Harvard Business School, nos anos 1950, começava sempre com um caso aparentemente muito simples. O caso Midway(6 6 Infelizmente, o caso Midway não é mais referenciado pela HBS Press. Os autores dispõem de cópias em versão papel que poderiam ser disponibilizadas, caso fossem solicitadas por um de nossos leitores. ) era típico. Uma pequena empresa de doces de Chicago que não parecia ter problema específico, nem provocar algum interesse em particular. Progressivamente, introduzindo, através dos casos B, C, D e E, informações complementares, o professor ajudava os alunos a descobrir os múltiplos aspectos da gestão global de uma empresa. Assim descobria-se que os líderes eram confrontados com problemas de mercado (compreensão das necessidades dos clientes, das ações dos concorrentes), problemas operacionais (fazer funcionar as fábricas), problemas de gestão de pessoas, problemas de direção e de liderança, problemas de poder e de motivação, e muitos outros, que afetavam, de maneira inesperada, o funcionamento do grupo de direção e geravam um sentimento de confusão que a dimensão da empresa ou a sua aparente simplicidade não prenunciavam. Esta introdução era destinada a sugerir que o dirigente navegava um pouco no escuro. Portanto, era necessária uma ferramenta para ordenar, um guia, não uma grande teoria filosófica, mas como já dizia Hipócrates um modesto processo pedestre, uma bengala para um cego. Esta ferramenta foi em seguida popularizada como o Conceito de estratégia corporativa de Harvard (Andrews, 1987). O Conceito tirava a sua força de exemplos de pequenas e médias empresas e de atividades essencialmente empreendedoras (ver a primeira versão, em Learned et al., 1965). Paralelamente, uma outra versão era desenvolvida por Ansoff (1965) que focava nos desafios estratégicos aos quais era confrontada uma grande empresa. Os elementos do modelo eram, pois, diferentes, apesar do seu objetivo ser o mesmo: colocar ordem no processo de tomada de decisão.
O modelo Harvard, que chamaremos, de agora em diante, de modelo de Andrews, compreendia dois grandes segmentos, um segmento 'formulação' e um segmento 'implementação', separados, de acordo com os autores, apenas por necessidades da exposição. O primeiro segmento, formulação, era baseado em quatro aspectos fundamentais, o que poderia fazer a empresa levando em conta as exigências e as oportunidades do seu ambiente, o que podia fazer levando em conta seus recursos e competências, o que queriam fazer os seus diretores e os seus colaboradores e o que deveria fazer se levasse em conta suas obrigações éticas e societárias. Esses quatro aspectos eram considerados como inseparáveis para a integração das atividades da organização. Sua coerência era uma marca de sucesso. O segundo segmento, implementação, focava sobretudo na relação estratégia - estrutura, como descrito por Chandler (1962) e no processo de gestão no sentido de Barnard (1938). O modelo de Andrews foi mais popular na América do Norte, talvez porque os Americanos, geralmente muito pragmáticos, estavam à procura de uma filosofia que encontraram neste modelo.
O modelo de Ansoff era mais fragmentado para levar em conta a diversidade das atividades e dos recursos que se encontra na grande empresa. Todavia, focava em cinco aspectos fundamentais: (1) os objetivos, em seguida os elementos que definem o fio condutor (common thread) da empresa, (2) a configuração em matéria de produtos - mercados, (3) o vetor de crescimento, (4) os elementos distintivos ou de vantagem competitiva, e (5) a sinergia. Tais elementos especificados de maneira sistemática forneciam uma abordagem para guiar a tomada de decisão, mesmo em situações particularmente complexas. O modelo de Ansoff foi mais popular na Europa, talvez porque os Europeus, mais filosóficos por natureza, estavam à procura de ferramentas concretas. O modelo de Ansoff, mais preciso, foi também utilizado de forma mais direta em atividades de consultoria que o modelo de Andrews.
Os dois modelos distinguiam-se também em sua concepção da relação com a prática. O modelo de Andrews considerava a realidade como um fenômeno a compreender e utilizava o modelo essencialmente como uma ferramenta de pesquisa. O diagnóstico era uma ação de descoberta e chegava à estratégia como uma criação de natureza artística, um salto a executar a partir dos elementos de análise para melhor integrá-los. Assim, o ensino teórico era reduzido ao mínimo e focava no estudo de casos. A abordagem era descoberta e dominada através dessa relação com a realidade. Enquanto que o modelo de Andrews definia-se como uma abordagem, o de Ansoff foi mais um modelo de estruturação sistemática da decisão. Fornecia um manual de instruções. Aliás, foi ensinado mais freqüentemente como um conteúdo técnico com eventualmente o apoio de exercícios de lógica quase - matemática e foi raramente associado a casos.
De qualquer modo, os dois modelos tiveram uma influência considerável sobre o mundo dos negócios e serviram para definir a estratégia de maneira definitiva. Todas as definições da estratégia referiram-se, de uma maneira ou outra, a esses dois textos. Pode-se também notar que eles acompanharam e talvez tenham inspirado também um dos períodos mais favoráveis para o desenvolvimento das empresas na Europa e na América do Norte.
O Mal-estar dos Generalistas frente aos Acadêmicos Especialistas: a Transição
Todavia, nem o modelo de Ansoff, e ainda menos o de Andrews, satisfaziam aos cânones de construção da ciência. Apareciam, no melhor dos casos, como ferramentas prescritivas, talvez úteis, mas sem grande fundamento científico empírico ou teórico. Andrews, por sinal, escreveu um artigo famoso sobre a diferença entre o generalista e o especialista que foi incorporado na versão mais recente do modelo (Andrews, 1987). Este artigo mostrava o desafio trazido pelo conceito de estratégia. Era uma abordagem generalista, visando a coordenar, a integrar, em vez de desenvolver. Era por conseqüência necessariamente multidisciplinar. Deve-se ainda dizer que os fenômenos estratégicos manifestam-se em múltiplos níveis e sob múltiplas formas e portanto são difíceis de estudar de maneira sistemática.
Em decorrência, o generalista está em situação pobre em face do especialista. Seu território parece sem substância e demasiado geral. No entanto, sem o generalista, o trabalho dos especialistas, mesmo quando é brilhante, pode ser destrutivo porque parcial e desorganizador para o conjunto. É o que levou os acadêmicos de Cambridge, MA, a afirmar que o rio Charles era um verdadeiro mar que separava a Harvard Business School da Faculty of Arts and Sciences (McNair, 1954). Este período de debate sobre a definição do que seria a gestão como ciência e o que seria a estratégia em particular, foi um dos mais férteis nos campi universitários de gestão na América (Roethlisberger, 1977).
Durante esse período, houve também um dos primeiros esforços de conceitualização da estratégia. Bower (1968) propôs uma conceitualização mais acadêmica do conceito da estratégia e apresentou-o como uma teoria da decisão pela resolução de problema. Esse esforço permitiu dar uma certa respeitabilidade acadêmica ao conceito e evitou que desaparecesse.
Enquanto Bower e os seus colegas lutavam para salvar o conceito de estratégia, uma onda, iniciada por Lawrence e Lorsch (1967), Thompson (1967) e a teoria da contingência, ia perturbar o campo e abrir o caminho a contribuições analíticas que iriam dissecar, desenvolver e finalmente desnaturar o modelo de estratégia.
Os Progressos da Análise Estratégica: do Posicionamento à Vantagem Competitiva
Segundo Pamela Sloan (2005) a pesquisa examinou mais sistematicamente as quatro grandes influências sugeridas pelo modelo de Andrews: (1) a influência do mercado, (2) a influência da própria empresa, (3) a influência das pessoas, e (4) a influência societária. Acrescentaríamos a estes elementos, mais ligados à formulação estratégica, os progressos consideráveis feitos na compreensão das questões de implementação, com os desenvolvimentos em teoria das organizações. Estas cinco grandes linhas de pesquisa marcaram o campo da estratégia desde o fim dos anos 1970, até hoje. Cada uma destas influências trouxe respostas essenciais e decisivas para a teoria e a prática.
A Teoria do Posicionamento de Porter
Depois das contribuições consideráveis da teoria da contingência à compreensão dos efeitos do ambiente-tarefa sobre a estratégia e a estrutura (Chandler, 1962; Lawrence & Lorsch, 1967; Thompson, 1967), as contribuições da economia industrial foram substanciais. A economia industrial foi inicialmente destinada a servir de guia à ação governamental. A compreensão da dinâmica da indústria devia permitir às agências de regulamentação garantir a eficiência das regras de gestão da concorrência e manter uma competição ativa e justa. A teoria sugeria em particular que a Estrutura da indústria determinasse a estratégia das empresas, o que afetava o seu desempenho. Supõe-se, assim, que o governo deva agir sobre a estrutura da indústria para obter os comportamentos desejados das empresas. Porter (1980) inverteu a lógica da teoria Estrutura - Conduta - Desempenho, de Caves (1967) propondo que o conhecimento da estrutura da indústria fosse a base do desenvolvimento das estratégias das empresas. Porter propunha assim que o conhecimento da indústria pudesse permitir a escolha de uma posição competitiva favorável. Avançou ainda mais, sugerindo que as posições mais usuais formam um conjunto delimitado e compreendem três tipos de estratégia: Liderança sobre custos, a Diferenciação e Enfoque.
Foi o próprio Porter quem completou essa idéia do posicionamento com a idéia da Cadeia de Valor. Essa idéia corresponde ao conjunto das atividades identificáveis da empresa que podem ser relacionadas à criação do valor. Assim pode-se, através da cadeia de valor, identificar as causas dos custos, da diferenciação ou do enfoque e tentar mobilizá-los para melhorar o posicionamento escolhido. Esta relação entre a posição e as atividades cruciais para apoiá-la, propagava-se significativamente, e suscitou um entusiasmo enorme dos gestores.
Além disso, todos os estudos empíricos confirmaram a importância da estrutura da indústria para a rentabilidade (McGahan, 1993). As pesquisas demonstraram que não apenas a estrutura era importante mas que também a posição escolhida fazia diferença. Assim, de 1970 a 1990, a indústria farmacêutica onde era fraca a intensidade da competição, era também a indústria mais lucrativa com uma média de ROE de 21.4%, enquanto a indústria do aço onde a concorrência era forte tinha um ROE médio de apenas 3.9%. No entanto, nessas duas indústrias, podiam-se notar também diferenças consideráveis de rentabilidade entre as empresas, que podem explicar-se apenas pela posição. Assim, de 1988 a 1992, Marrion Dell, o grupo farmacêutico mais lucrativo, tinha um ROE médio de 42.6%, enquanto Pfizer arrastava-se com 16.5%. Números semelhantes são observados na maioria das indústrias.
O posicionamento dominou os debates até a publicação de um artigo de Prahalad e Hamel (1990) na Harvard Business Review, que revelava a importância dos recursos como base da estratégia. Sem contestar a teoria de Porter, os autores sugeriam, contudo, que a estratégia não comece com o mercado, mas com os recursos dos quais as empresas dispõem. Wernerfelt (1984) já tinha proposto uma formalização elementar da idéia que veio a tornar-se a chamada Perspectiva dos recursos.
A Perspectiva dos Recursos
A perspectiva dos recursos considera que os recursos podem constituir a base de uma vantagem competitiva durável e, portanto, de assimetria estratégica, contando que sejam raros, difíceis de imitar ou de substituir e relevantes no contexto do mercado considerado. Miller e Shamsie (1996) fizeram mais um avanço mostrando que os recursos e o ambiente podiam estar correlacionados. Assim, os recursos baseados na propriedade são mais favoráveis em ambientes estáveis, enquanto que os recursos baseados no conhecimento são mais favoráveis em ambientes variáveis. Esta idéia chamou a atenção para a natureza específica dos conhecimentos e surgiu daí a convicção, senão a demonstração, que os recursos mais moles, construídos a partir da experiência e do savoir-faire acumulado, são muito mais difíceis de imitar e por conseqüência são a verdadeira fonte de vantagens competitivas duráveis.
A continuação da reflexão conduziu ao questionamento sobre a construção da vantagem competitiva durável e por conseqüência sobre o desenvolvimento destes recursos moles que são sua essência. Aquilo conduziu à idéia de competência (capabilities) que aparece assim como um recurso que serve ao desenvolvimento dos recursos. As competências seriam assim meta-recursos que são ligados às rotinas da organização (Winter, 2003) e às suas aprendizagens mais fundamentais, aquelas ligadas a sua história e a sua cultura.
O problema da perspectiva dos recursos, que alguns chamam de teoria dos recursos, é que os esforços para verificá-la empiricamente deram resultados muito decepcionantes. Uma meta-análise (Newbert, 2007) acabou de mostrar que em cerca de apenas 50% dos casos os recursos, duros ou moles, parecem explicar a vantagem competitiva ou o desempenho, resultado completamente insuficiente. Ray, Barney e Muhanna (2004) sugeriram que se deveria tentar ligar os recursos e as competências não à vantagem competitiva ou ao desempenho mas preferentemente às variáveis (atividades) intermediárias que são cruciais para elas. Analisando o exemplo da indústria dos seguros, mostraram que nesse caso, a teoria tinha sido realmente verificada. Fazendo isso, aproximaram-se muito da teoria de Porter e abriram caminho para uma reconciliação entre essas duas grandes teorias. Isto não é nada de surpreendente, já que a idéia de estratégia é fundamentalmente construída na integração das dimensões ambiental e dos recursos. De fato, duas outras dimensões intervêm também no esquema estratégico: as preferências dos dirigentes e as da comunidade.
A Contribuição dos Dirigentes
A teoria do posicionamento e a dos recursos desconsideram significativamente o papel do dirigente, considerando-o, na melhor das hipóteses, como um recurso específico. No entanto, nos seus trabalhos básicos, Andrews (1987) e a escola de Harvard, bem como Ansoff (1965), punham em evidência o papel crucial dos dirigentes. Ainda, os trabalhos de Hambrick e Mason (1984) lançaram as bases de trabalhos fundamentais que explicam e justificam a relação entre as características dos dirigentes e o desempenho estratégico.
Enquanto que a contribuição dos dirigentes foi geralmente analisada sob o ângulo psicológico ou psicoanalítico, pelos estudos de liderança, Hambrick e Mason sugeriram que se podia ficar satisfeito e confiante na avaliação das características demográficas das pessoas envolvidas. Assim, a idade, a formação, a experiência, entre outros fatores, aparecem como preditores confiáveis do comportamento estratégico dos dirigentes.
Este trabalho sobre os dirigentes foi desenvolvido basicamente durante a década de 1990, e tendo sido estendido a todo o grupo de direção (top management team) tornou-se hoje uma linha de pesquisa de primeira importância no campo da estratégia. Os estudos empíricos confirmam as previsões de Hambrick e Mason e as relações entre o comportamento dos dirigentes e as escolhas estratégicas das empresas. Os trabalhos continuam combinando as características de todo o grupo de direção e colocando o foco nas dimensões cognitivas e institucionais, como fatos determinantes do comportamento.
A Influência Societária
Os estudos sobre a influência societária foram tradicionalmente focalizados nas relações com as comunidades envolvidas e nas dimensões éticas da gestão estratégica. O consenso entre os pesquisadores é de que o comportamento ético é essencial à aceitação da empresa pela sociedade (Andrews, 1987). O próprio Andrews (1989) dirigiu um grande debate na Harvard Business Review sobre estas questões. O dilema que incomoda os dirigentes e os professores universitários vem da idéia que, pelo menos a curto prazo, as empresas mais éticas têm custos mais elevados e podem ser desfavorecidas numa luta competitiva intensa.
Este argumento é negado pelos partidários da responsabilidade social das empresas que afirmam que o comportamento responsável das empresas permite, entre outros efeitos, aumentar a afeição entre empregados e executivos, e reduzir os riscos ligados à responsabilidade legal das empresas, particularmente em relação à proteção do ambiente e à segurança dos produtos do mercado. Estes benefícios escondidos seriam bem mais consideráveis que o habitualmente pensado. No plano empírico, poucos estudos vêm confirmar ou infirmar estas posições. Não houve estudo de síntese, mas pode-se fazer a hipótese que as probabilidades, lá também, seriam não conclusivas. A conclusão é que tanto os professores universitários quanto os defensores do ambiente ou da responsabilidade social da empresa crêem que, a longo prazo, um comportamento responsável é rentável.
Um segundo aspecto dos estudos sobre a influência societária veio do desenvolvimento considerável da teoria institucional (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). As instituições, concebidas como sendo as leis e os regulamentos, as normas de comportamento profissional ou geral, as tendências culturais - cognitivas, têm uma influência real sobre o comportamento das empresas. Foi afirmado que aquilo tinha tendência a aumentar o isomorfismo estratégico. DiMaggio e Powell (1983) argumentaram mesmo que a observação comum mostra que as empresas têm uma tendência maior a assemelhar-se em vez de diferenciar-se, o que é desconcertante para a análise estratégica que é geralmente baseada na diferenciação das empresas pela estratégia. Mais recentemente, Greenwood e Hinings (1996) exprimem um consenso quando afirmam que as instituições não determinam o comportamento, mas são uma limitação inevitável, a ser levada em conta na análise estratégica.
A Implementação da Estratégia
A implementação da estratégia tem sido dominada pela discussão sobre as relações entre a estratégia e os arranjos estruturais. Hoje, sem retornar aos debates que se seguiram ao trabalho de Chandler (1962) e as numerosas pesquisas que o sustentaram, pode-se dizer que Estratégia e arranjos estruturais são de tal forma ligados que é melhor pensar neles como sendo só uma e a mesma coisa. No entanto, a melhor maneira de pensar na implementação da estratégia é voltando à teoria da cooperação, de Barnard (1938). Ele mesmo tinha indicado que a razão de ser de uma organização é o desenvolvimento e a preservação de um sistema de cooperação. Sem cooperação, não há organização. Naturalmente, qualquer cooperação é construída para uma finalidade e justifica assim a formulação estratégica. No seu livro sobre as funções do dirigente, Barnard tinha descrito como se pode levar os membros da organização a cooperar e, sobretudo, tinha insistido no que Simon desenvolveu a seguir na teoria da tomada de decisão. Como Barnard, Simon (1945) mostrou que o mais importante no funcionamento de uma organização e, portanto, na implementação da estratégia, é influenciar as decisões que são tomadas pelos membros da organização. Agindo sobre essas decisões, pode-se então conduzir a organização a ir na direção desejada. Estes trabalhos pioneiros têm se beneficiado hoje de contribuições consideráveis que vêm da teoria das organizações e que é difícil descrever aqui em detalhe. Pode-se contudo dizer que apesar do seu caráter fragmentado, as contribuições que vêm da sociologia das organizações, da teoria da decisão e das novas teorias institucionais clarificaram consideravelmente as relações de causa e efeito que determinam a implementação da estratégia.
Em Conclusão
As pesquisas das três últimas décadas nessas cinco grandes áreas trouxeram resultados sistemáticos sem precedentes. No plano teórico assim como no plano empírico a compreensão do efeito das dimensões estratégicas sobre o desempenho da empresa é substancial. Hoje, no entanto, assiste-se a uma espécie de volta ao passado. As pesquisas têm tendência a sobrepor vários dos cinco grandes campos de pesquisa mencionados. Assim, como nós havíamos sugerido, os comportamentos dos dirigentes e a governança foram freqüentemente associados a limitações institucionais. Da mesma maneira, a teoria do posicionamento e a dos recursos são freqüentemente aproximados e pode acontecer que todas as dimensões sejam associadas para explicar a durabilidade da vantagem competitiva e da performance. Mas estes trabalhos são difíceis e vistos com grande desconfiança pela comunidade dos pesquisadores.
A Objetivação: da Arena Estratégica à Arena Científica
Assim, a ciência da estratégia é ao mesmo tempo tão velha quanto o mundo é muito jovem. Durante muito tempo, foi dominada pelos gestores profissionais(7 7 Practiciens no original. (N.R.T.) ), que a associavam geralmente a uma visão global, a uma capacidade de integração e a uma sabedoria. Nas contribuições mais modernas, aquelas que começaram desde o fim dos anos 1970, a ciência com os seus métodos de simplificação e de exame sistemático de cada dimensão, apropriou-se da estratégia. Trouxe respostas essenciais, mas também contaminou o campo de pesquisa, impondo-lhe simplificações que muitos consideram como impróprias.
Esta simplificação é às vezes percebida como uma desnaturação. Estudam-se dimensões mais precisas, mas conseqüentemente se é forçado a deixar a estratégia do lado (Bower, 1982). Os debates sobre como realizar estudos sobre as combinações complexas das dimensões estratégicas da gestão são numerosos. As inspirações mais convincentes são as que vêm da teoria do caos e aquela que se convencionou chamar de ciências da complexidade (Maguire, Hardy, & Lawrence, 2004). Métodos novos aparecem para facilitar tanto a consideração de critérios múltiplos como a imprevisibilidade devida à incerteza.
Entretanto, o mais importante é que a simplificação provocou uma confusão na linguagem e que fez da estratégia um camaleão que se adapta a todas as situações. Assim, fala-se de estratégia de marketing, de estratégia financeira, de estratégia dos recursos humanos etc., para falar da estratégia como integração. A confusão é acentuada pelas contribuições criativas de numerosos gurus que tentam convencer os dirigentes que algumas relações simples e unidimensionais podem conduzir ao sucesso.
A estratégia torna-se também um desafio político essencial dado que, em seu nome, grupos especializados dentro da empresa tomam o poder, eliminando as outras perspectivas. A deriva mais corrente atualmente é a importância considerável tomada pelo financiarização da empresa. Sob a pressão de acionistas poderosos, os dirigentes abdicam das suas responsabilidades e se transformam em agentes obedientes que põem em aplicação normas gerais de rentabilidade frequentemente à custa da saúde da empresa no longo prazo e do mero bom senso. Assim, podem tornar-se anti-estratégicos, quando aplicam receitas simplistas do tipo: "é necessário concentrar-se no que se sabe fazer" (Peters & Waterman, 1983). Esse tipo de recomendação pode ser adequado em certos casos, mas quando é aplicado de modo geral, conduz a um isomorfismo que está em franca oposição à abordagem estratégica da diferenciação. Igualmente, a comunidade acaba por perder influência, conduzindo a empresa a comportamentos eticamente cada vez mais discutíveis.
O comportamento prático dos dirigentes de empresas e dos seus proprietários capitalistas é contudo confortado pela especialização acadêmica que perde de vista a perspectiva de conjunto, crucial para a compreensão da organização como um todo, para alimentar-se de métodos gerais aplicados a sistemas "sobre-simplificados" e sem relação com a realidade. A estratégia, quando reduzida a estudos de dimensões simplificadas,pode assim ser estudada de maneira científica mas, ao fazer isso, perde a sua utilidade.
As Dificuldades da Implementação da Estratégia e o Fracasso da Ciência frente à Prática
O mais impressionante quando se examina a área da estratégia, é que de um lado tem-se o poder teórico considerável do conceito de estratégia, esta bengala para um cego de que se falava nos primórdios do conceito, e, do outro lado, tem-se a incapacidade dos pesquisadores de ajudar os dirigentes a tomar decisões mais úteis. Implementar uma estratégia é, assim, considerada como uma arte, uma área imprópria à ciência. No entanto, a implementação é inseparável da formulação (Mintzberg, 1987). Não se pode formular [uma estratégia] sem referência à ação coletiva e às dimensões do funcionamento organizacional. Tudo isso significa que os esforços de separação das dimensões duras, fáceis de ser estudadas, das dimensões moles e complexas da vida coletiva das pessoas envolvidas são inúteis. Eles permitem fazer exercícios de análise tecnicamente válidos, mas que não têm nenhum sentido para a estratégia.
O problema é que não se pode afirmar que tal análise seja destrutiva, ainda que se possa ser teoricamente convencido. A razão principal provém da própria complexidade. As dimensões que fazem o sucesso são tão numerosas, as escalas de tempo que permitem apreciar o desempenho são tão diferenciadas, que as pesquisas que permitiriam fechar os debates estão fora do alcance dos pesquisadores considerados individualmente. Seria necessário fazer projetos de pesquisa coletivos de grande escala, o que ninguém pode fazer atualmente. Por isso, apesar da importância das pesquisas feitas em outros lugares, a Harvard Business School que continuou a focar seus estudos em perguntas de integração e em instrumentos de abordagem antigos e imperfeitos, permanece a referência a mais influente.
A idéia da bengala para um cego está no geral mais adequada e mais convincente que as pretensões científicas dos pesquisadores universitários. Além disso, tais pretensões induzem problemas cada vez mais graves, em particular quando os gestores profissionais seguem-nas cegamente.
A ESTRATÉGIA DE HOJE: UMA CIÊNCIA AMORAL E ACONTEXTUAL QUE ACABA POR SE TORNAR IMORAL E INEFICAZ
A Dominação dos Financistas e dos Economistas Elimina a Reflexão Estratégica
Inúmeros observadores de todos os campos, gestores profissionais reflexivos ou acadêmicos generalistas destacam a ascensão do capitalismo financeiro, há 15 anos, liberado ideologicamente pela queda do bloco soviético e tecnicamente pela não intervenção bancária e pela desregulamentação. Muitos se preocupam com os desvios ou mesmo com os riscos de autodestruição deste capitalismo sem reais contra-poderes onde tendem a alinhar-se os interesses dos fundos especulativos, dos analistas financeiros, dos bancos de negócios e dos grandes dirigentes em procura de enriquecimento rápido. Até ao ponto em que a estratégia e a gestão das sociedades com ações na bolsa, encontram-se dominadas pelos imperativos financeiros. Para alguns os dez mandamentos das finanças (Betbèze, 2003) têm lugar de roteiro quase obrigatório. Assim, por exemplo, a partir do objetivo de 15% de RoE, deduzem-se de maneira mecânica as vias e meios que adotam as empresas de maneira convencional e mimética: foco numa competência única, simplificação das estruturas, redução dos custos, exteriorização, reaquisição das suas próprias ações, fusões e aquisições. Esta série de injunções pode se traduzir em ações tecnicamente sofisticadas, mas que dispensam completamente a reflexão estratégica.
A estratégia é de fato uma arte feita de arbitragens e de ponderações entre critérios diversos onde se trata de fazer escolhas e compromissos que permitem realizar uma trajetória de desenvolvimento singular conservando ao mesmo tempo graus de liberdade suficientes e riscos aceitáveis. Assim, se uma seqüência de decisões quase-algorítmica encontra-se traçada, pode-se ainda falar de reflexão estratégica?
A Dominação dos Campos e das Ciências Tradicionais Elimina a Integração
De um lado a economia e as finanças, do outro lado a psicologia e a sociologia. Poder-se-ia condensar assim a evolução da pesquisa em estratégia desde que ela procurou aparecer como uma ciência. Em termos de conteúdo das escolhas estratégicas, a economia industrial, a abordagem pelos custos de transação e por último as finanças vieram se substituir progressivamente ao programa relativamente original desenvolvido em Harvard por Andrews, Bower, Chandler, Rumelt e os seus companheiros. O promotor da teoria dos custos de transação, Williamson (1991), não hesitou ao argumentar em favor da superioridade da economia sobre a estratégia nas páginas mesmas do 'Strategic Management Journal'. De maneira similar, a teoria da agência, fortemente promovida pelos financistas Jensen e Meckling (1994) constituiu o referencial essencial da maior parte dos trabalhos sobre o governo da empresa. Amoral e acontextual, eclipsou até os últimos anos qualquer abordagem concorrente, como, por exemplo, a dos stakeholders, uma abordagem já antiga (Freeman, 1984; Martinet, 1984) mas muito mais estratégica.
O segundo campo de pesquisa se refere aos processos. Iniciado por Barnard (1938) e Simon (1945), e após operacionalizado por Bower (1968), e recolocado na ordem do dia, no meio dos anos 1970, segundo Ansoff, Declerck e Hayes (1976), este frutífero campo de pesquisa lançou mão de todo o espectro das ciências sociais pedindo emprestado a quadros teóricos múltiplos: da psicanálise à semiótica, passando por todas as psicologias, sociologias, ciências políticas. Inúmeras contribuições, eruditas, mas cada vez mais parceladas e fragmentadas, propuseram uma série de grades de interpretação, permitindo que algumas girassem em torno da organização (Morgan, 1986) sem, no entanto, levar a prescrições claras ou a qualquer praxeologia.
Pior ainda, passou a ser cada vez mais difícil publicar trabalhos sintéticos, por causa da necessidade de articular, senão de integrar, as diferentes dimensões geralmente empregadas em qualquer situação estratégica mais ou menos complexa. O que é relevante para problemas de pesquisa muito estruturados (finanças do mercado, comportamento do consumidor...) não é necessariamente importante para problemas pouco estruturados como a estratégia. Os trabalhos do Prêmio Nobel de Economia Herbert Simon (1945) sobre este ponto, são frequentemente mais citados que levados em conta e, de fato, meditados.
A Concentração dos Poderes nas Mãos das Empresas torna a Ciência Inútil
Não há necessidade de refazer a história. A constituição do corpo de conhecimentos sobre a gestão estratégica durante o século XX é inseparável do desenvolvimento dos gerentes profissionais e da empresa de negócios estudada por Berle e Means (1968), Chandler (1962), Galbraith (1967), Roethlisberger (1977) e outros. O ensino da política geral da empresa (business policy) tem sido vivido como um exercício pragmático in vitro sobre casos específicos, servindo também de ritual de passagem simbólico para quase-diplomados prometidos a posições de direção. O 'modelo de Harvard' foi muito tempo suficiente para esta dupla função.
Durante o período 1970-1990, a pesquisa em gestão estratégica e os instrumentos propostos por empresas de consultoria vieram sofisticar o ensino e difundiram uma linguagem estratégica, primeiro nas grandes empresas, seguidamente nas PME e, cedo nas organizações com fins não lucrativos (empresas públicas, hospitais, comunidades locais...). Esta espécie de esperanto permitiu interiorizar uma idéia gratificante para muitos gestores, qual seja, a de pensar que, no seu nível de gestão, podiam ser também estrategistas.
Mas a diminuição de níveis verticais da empresa de estrutura piramidal(8 8 Os autores usam a expressão firme managériale que traduzimos por empresa de estrutura piramidal. (N.R.T.) ) e a financeirização das empresas alteraram profundamente esta situação. As decisões estratégicas centralizadas e repintadas com as cores financeiras voltam a ser o domínio reservado de um punhado de altos dirigentes do nível corporativo, expressões às vezes mal disfarçadas das suas únicas estratégias de carreira. Uma carga para os responsáveis de unidades que devem realizar nas empresas os compromissos industriais e comerciais inevitáveis, conservando ou não o sentimento de ser estrategistas comuns, embora sofrendo fortes restrições. A verdadeira tragédia da sociedade Nortel no Canadá é deste ponto de vista um caso exemplar para o ensino.
Concentrada deste jeito a algumas grandes decisões pontuais de alguns com consideração só para critérios essencialmente financeiros, a estratégia, na prática, pôde, nesses últimos anos, transformar-se em pura retórica ou mesmo semiótica, quando os dirigentes têm que utilizar as palavras esperadas pelos analistas financeiros, agências de classificação de risco e outros criadores de tendência. Tal uso pode largamente passar-se como ciência sofisticada e pesquisa aprofundada. Aliás, com exceção de alguns lugares ou programas simbólicos, os dirigentes não emprestam grande importância à pesquisa em estratégia. Quando se trata de demonstrar abertura, sociólogos, economistas ou mesmo filósofos ou antropólogos surgem como fornecedores mais prestigiosos.
As Empresas de Consultoria se Especializam e Acentuam o Movimento
Não se pode vender a arte ou o julgamento. Em conseqüência, a integração se vende dificilmente. Após ter esgotado as qualidades do modelo de porfólio, as grandes empresas de consultoria reorientaram-se rapidamente para modelos técnicos, simplificados e baseados na tecnologia. Todas as grandes empresas americanas de consultoria em estratégia, McKinsey, Bain, A. D. Little, Booz-Allen, estimuladas pelos sucessos do modelo integrador de SAP, orientaram-se progressivamente para uma utilização cada vez maior das tecnologias, focalizando principalmente na tecnologia da informação ou em suas aplicações.
O foco nos produtos como os ERP, a reengenharia, o Balanced Scorecard, como modo de integração, tinha a vantagem de transformar as relações com os clientes de maneira favorável à ação da consultoria. Permitia diminuir a ambigüidade e clarificar a natureza dos produtos a fornecer, reduzindo assim a responsabilidade do consultor no fornecimento de um produto específico. Assim fazendo, afastava-se também da abordagem estratégica ou pelo menos deixava a responsabilidade total aos dirigentes. Em compensação, os dirigentes que crêem "comprar a estratégia mais aceita pela área" estavam felizes, graças a esses trabalhos técnicos, em fazer a economia da reflexão estratégica, cuja possível contestação é sempre perigosa para eles.
Focalizando nos aspectos cada vez mais técnicos, as consultorias agravam de fato o fenômeno de transformação da estratégia em um território técnico onde o julgamento é cada vez menos bem-vindo. Mesmo se às vezes reconhece-se o papel considerável que desempenha o dirigente neste exercício de equilíbrio que é o julgamento estratégico, tal papel é reduzido quase sempre a dimensões simples e facilmente compreensíveis. Alguns trabalhos que são vendidos em massa são todavia notavelmente construídos, como aquele apresentado por Collins (2001) no seu livro Good to great.
O Campo Acadêmico da Estratégia e a sua Relação com os Gestores Profissionais Estão Agonizando?
A situação é, a priori, paradoxal. Nunca o vocábulo de estratégia foi tão utilizado e causou tantos escritos, discursos e consultorias. No nível acadêmico, as revistas e associações científicas se multiplicaram, se estabeleceram e estão bem. Qualquer noção usual - vantagem competitiva, fusão, externalização etc. - vê-se imediatamente associada a milhares de referências bibliográficas. E o número de pesquisadores, que estão sempre muito preocupados com a publicação do seu próximo artigo numa revista indexada, não levantam nenhuma dúvida sobre a pertinência e o futuro do seu campo de trabalho.
Mas ainda percebe-se que, independentemente das palavras usadas, a especificidade da área no plano teórico não é sequer evidente: muitos artigos são mais exercícios de economistas, financista, sociólogos das organizações, e outros, pedindo emprestado imagens impostas pelas disciplinas mais tradicionais, fazendo da estratégia um objeto-pretexto, furtivo e aplicado. Duas décadas atrás, Ansoff (1987) via ou desejava a emergência de um paradigma do comportamento estratégico da empresa. Hoje, é-se satisfeito quando linhas de pesquisa suficientemente robustas são batizadas como paradigmas sem incomodar-se muito com suas coexistências caleidoscópicas.
Quanto às relações da pesquisa com os gestores profissionais, o sofrimento é duplicado. Explica-se pelo fraco interesse, como escrito antes, que o alvo - os grandes dirigentes - dedica à pesquisa e à literatura estratégica como o atestam todos os levantamentos procedidos. Mesmo a gerentes médios (middle manager), que manifestam-se, por vezes, com um interesse acima do normal, fazem-no talvez sobretudo devido a uma valorização simbólica, eis que o vocábulo continua a ser associado ao poder nas representações da maioria.
Mas estas relações também são prejudicadas pelo pequeno reconhecimento, nas publicações científicas, das formas de pesquisa que privilegiam estas relações. A pesquisa-ação, a observação clínica, o estudo longitudinal de uma organização, apesar da sua grande pertinência na área, são muito difíceis para executar, dispendiosos em tempo e energia, e sobretudo inadaptados aos formatos e aos critérios majoritariamente levados em conta pelas revistas, os encontros científicos e os avaliadores. É assim que a elaboração paciente de um framework sintético e instrumental baseado em dez anos de visitas freqüentes a três ou quatro empresas será provavelmente rejeitado pelo simples motivo de não trazer resultados validados em face de uma hipótese explicativa precisa. Mesmo se alguns investigadores solicitam regularmente o desenvolvimento de pesquisas que geram conhecimentos mais adaptados aos fenômenos estratégicos (Whittington, 2004), o decano da Sloan School of Management conclui que infelizmente o sistema de reconhecimento acadêmico atual não é feito para este tipo de pesquisa (Schmalensee, 2006)!
O positivismo dominante quis produzir uma ciência amoral e acontextual obcecada pela mensuração e pelas generalizações estatísticas. Relevante em certas áreas, esta posição é mal adaptada ao objeto e ao projeto da estratégia. Ela deve integrar plenamente as considerações éticas, morais e políticas e ser constantemente orientada para o serviço da ação organizada. A área ganharia sem dúvida muito em ver seu centro de gravidade epistemológico deslocar-se na direção de um neopragmatismo exigente (Wicks & Freeman, 1998) onde a experimentação prática vai junto com um intenso trabalho de integração conceptual e de esclarecimento dos valores em jogo. No caso contrário, a imoralidade e a ineficiência na pesquisa arriscam-se a prevalecer.
O RENASCIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGICA VIRÁ DA CIÊNCIA TRADICIONAL?
A Estratégia é uma Ciência do Complexo, por conseguinte Incompatível com Reduções Analíticas Acentuadas em Demasia
Qualquer um que é confrontado com uma situação estratégica real experimenta a complexidade: grande número de variáveis, critérios múltiplos, dados dessemelhantes, informações incompletas, objetivos emaranhados, interações numerosas, incerteza quanto às (re)ações dos outros etc. Deduz-se então que esta complexidade não é redutível a um problema perfeitamente definido ao qual se poderia associar uma solução única e definitiva. Se for necessário convencer-se, é suficiente que se recorde os desastres gerados pela planificação centralizada soviética: desviar um rio para produzir algodão em grande escala revelou-se a melhor maneira de secar o mar de Aral.
Contudo, é isso que a corrente dominante da pesquisa em estratégia privilegia; é com certeza a melhor tática para publicar rapidamente um artigo. Mas é também uma maneira extremamente eficaz de esvaziar a estratégia do seu conteúdo e da sua razão de ser. Querendo fazer ciência, a disciplina escolheu Descartes: "quebrar o problema em tantas parcelas quanto se possa para ascender gradualmente do mais simples ao mais complexo...". Certamente aquilo teve êxito dentro da mecânica racional do século XIX. Mas a física quântica distancia-se largamente dele. E de qualquer modo, a estratégia não é a física.
Provavelmente estas linhas não teriam necessidade de ser escritas se os pesquisadores tivessem seguido Pascal que, na mesma época, escrevia: "Tenho como impossível conhecer as partes sem conhecer o todo; não mais do que conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes". Brilho do gênio para planejar o caminho da análise sistêmica e a inteligência da complexidade: fazer idas e voltas incessantes entre as representações provisórias do conjunto e a análise das relações elementares. E não se satisfazer de multiplicar as idas sem volta refugiando-se na ilusão que a única justaposição de explicações parceladas dará um conhecimento do todo.
Se a complexidade chama a estratégia como o argumentam Morin e Moigne (1999), ainda é necessário que a ciência da estratégia não reduza o seu objeto a pó, sem dúvida explicado, mas privadas de senso e de interesse para agir. Porque a razão de ser da pesquisa em estratégia é claramente a de guiar a ação, de fornecer operadores de sentido aos estrategistas do campo, conceitos e métodos provados que lhes permitem conceber melhor e usar as vias e meios mais adequados para a sua empresa em função dos seus contextos específicos.
A Estratégia é uma Ciência do Dialógico, do Paradoxo, do "Antagonismo Cooperativo"(9 9 No texto original os autores usam ago-antagonisme cuja melhor tradução entendemos ser antagonismo cooperativo. É expressão de origem grega, cujo significado envolve uma situação em permanente tensão - sendo, ao mesmo tempo, cooperativa e conflitual, nunca chegando a uma síntese. (N.R.T.) )
A estratégia chama, por sua vez, a dialógica e suas diversas expressões: paradoxo, dialética, razão contraditória, antagonismo cooperativo. Este princípio geral, admitido e respeitado em massa nas outras áreas do pensamento estratégico (assuntos militares, relações internacionais, psicoterapia, medicina...) sofre para ser reconhecido na área de estratégia empresarial.
E, no entanto, trata-se aqui de unir em vez de dividir, única maneira de ultrapassar o pensamento binário e as oposições estéreis: entre o plano de ensino e a aprendizagem, a integração e a diferenciação, a centralização e a descentralização. Não é preciso escolher, mas dosar, agir sobre os dois pólos de maneira sutil, dinâmica, recursiva (Avenier, 1997).
A estratégia não consiste em analisar para explicar. Mas em compreender para conceber ações que estão em flux, em tramas, em redes. Não se trata de extrair a essência das coisas apagando as aparências ou as circunstâncias. Mas apoiar-se nessas últimas para recriar potencial em condições de permanência. A estratégia é uma ida e volta incessante entre a virtualidade (conceber uma visão) e a realização (fazer que aquilo ocorra). Aristóteles, Ulisses e Heráclito são, para isso, melhores inspiradores que Platão.
A Estratégia Deve Levar em conta os Jogos Recíprocos entre os Dispositivos ou Instrumentos de Gestão e as suas Filosofias
O corpus moderno da gestão e, logo, da gestão estratégica constituiu-se, digamos, a partir de Taylor e Fayol, propondo primeiramente as técnicas. A tentação científica infiltrou-se em seguida promovendo afastamento desses instrumentos. De modo que nos domínios como a estratégia, contrariamente às finanças por exemplo, a grande maioria das publicações ignora-os. Simultaneamente, a pesquisa contribui para eliminar a sua especificidade - a instrumentação da ação organizada - e assim, não cumpre a sua dupla missão de crítica em relação aos instrumentos usados e de ajuda à concepção de novos.
Hoje as organizações são conjuntos complexos e heteróclitos de instrumentos, técnicas, regras, normas, discursos, que veiculam filosofias mais ou menos claras: uma abordagem de qualidade ou um desenvolvimento sustentável designam atores, relações, objetivos, critérios de ação, que são também visões do homem na sociedade. A responsabilidade dos pesquisadores em estratégia está em jogo: eles devem, sobretudo, atualizar, o mais perto possível dos dispositivos concretos usados nas empresas, não somente a sua eficácia, mas também as filosofias de gestão subjacentes e oferecer, em seguida, dispositivos renovados, esclarecendo ao mesmo tempo os valores que lhes são inerentes. Reconhece-se aos financistas Jensen e Meckling ter esclarecido a natureza do homem sobre qual fundamentam a teoria da agência, mesmo se ela parece ingênua e pouco realista.
Esta atenção às filosofias subjacentes necessita ao mesmo tempo conhecimento e compreensão refinadas desses dispositivos, uma cultura em ciências sociais suficiente para pô-los em perspectiva e ligá-los à história das idéias e a uma imaginação conceptual para conceber a sua reconstrução. Este trabalho é certamente exigente e arriscado, ao lado do qual a literatura prolixa que procura por exemplo medir o efeito da planificação estratégica sobre o desempenho da empresa aparece bem ingênuo, sem saída e extremamente pouco esclarecedor.
A Estratégia Deve Continuar a ser Obcecada pela Finalidade
Desde a emergência da estratégia como área de pesquisa, a idéia de metas, de objetivos, de finalidade, foi central. Ansoff (1965) consagrou-lhe grande parte da sua reflexão, enquanto o grupo LCAG de Harvard (1965) consagrou seus estudos ao exame da essência da estratégia. A definição do objetivo é como afirmavam estas duas grandes contribuições, ao mesmo tempo um fundamento da ação e um guia prático para ela. O fundamento é construído sobre a crença que ações coerentes e convergentes levam a resultados positivos (eficazes, construtivos, em vez de destrutivos). Como fundamento, os objetivos contribuem para dar sentido às ações. Para isso, é necessário construí-los em relação com as fontes de coerência (internas e externas) e fazer um caminho demarcado para evitar os desvios e a incoerência.
Como guia prático, os objetivos são necessariamente ligados aos métodos e instrumentos de medida. Para apreciar mais este caráter prático, Ansoff (1965) tinha proposto considerar três aspectos: (1) o atributo (e.g. rentabilidade); (2) o intervalo de aceitação(10 10 Mais precisamente em inglês Threshold. ) e (3) o alvo. Neste domínio, a tendência moderna foi evacuar o debate sobre os métodos e instrumentos. O lucro é freqüentemente considerado como uma medida indiscutível embora ele seja precisamente a mais discutível das medidas. Drucker (1954) recordava com vigor que o objetivo não pode ser o lucro, ainda menos a sua maximização, embora o lucro pudesse ser considerado como um resultado necessário. Afirmava que o objetivo estava noutro lugar e comportava particularmente a necessidade de satisfazer o cliente e todos os stakeholders relevantes.
Cremos que é este vai-e-vem, entre a necessidade de fundamentos de coerência na ação e no pensamento, e a necessidade de métodos e medidas adequados para não desnaturar a pesquisa dessa coerência, que está no centro da integração que a área da estratégia propõe aos gestores profissionais e aos pesquisadores.
A Estratégia Deve Recolocar as Classes de Risco no Centro das Preocupações
Qualquer que seja a entidade em causa - o indivíduo, a organização, a nação... - a existência da estratégia faz sentido se contribui para a sua perenidade que, com certeza, passa por evoluções e às vezes por bifurcações radicais. Reconhecendo que esta entidade é necessariamente inserida na sociedade e não apenas implicada em mercados, a duração, a contextualização, a prevenção dos riscos, certamente econômicos e financeiros ou individuais, mas também sociais, ecológicos, políticos, culturais, surgem como as preocupações essenciais da estratégia; fornecer os conceitos e os métodos genéricos que permitem aos dirigentes em exercício compor e gerenciar o seu portfólio de riscos constitui portanto a missão principal da pesquisa.
Observe-se, aliás, que o modelo de Harvard, extremamente rústico, coloca no centro a identificação das ameaças e das oportunidades, da mesma maneira que os trabalhos prescritívos de Ansoff. Tudo porque certos riscos são portadores de oportunidades. É assim que se pode entender o último livro de Prahalad (2004); o risco maior de perda de legitimidade e de esgotamento das fontes habituais de lucro das multinacionais pode ser invertido por estratégias inovadoras e ambiciosas de construção de ofertas adaptadas aos 4 bilhões de pobres que povoam o planeta. Tal visão vai bem além dos esforços de responsabilidade social que essas empresas em geral privilegiam.
CONCLUSÃO: OS PESQUISADORES UNIVERSITÁRIOS EM ESTRATÉGIA TÊM NECESSIDADE DE RECONSIDERAR A SUA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DE UMA BASE MORAL E POLÍTICA?
A reconfiguração dos poderes nunca aconteceu tão rapidamente que no último quarto de século: as grandes corporações mundiais, qualquer que seja a sua nacionalidade, tornaram-se o maior lugar da sua concentração. A sua gestão é portanto o principal vetor da política, por modelar, quer se deseje ou não, o futuro da humanidade, das culturas, das sociedades, da fauna, da flora, do planeta.
A gestão estratégica não pode mais reivindicar um caráter privado e os critérios de rentabilidade, de lucratividade, de eficiência da empresa, devem ser examinados por critérios de pertinência, de justiça, de eqüidade das suas ações, cujos efeitos externos são enormes. Há suficientemente práticas ruins. Não é realmente necessário que más teorias de gestão venham destruir as boas práticas, como foi explicitado pelo pranteado Ghoshal no seu último artigo (2005).
Da mesma maneira que a ciência política não é separável da filosofia política, a ciência da gestão estratégica não pode deixar de lado uma reflexão exigente de caráter moral e político. A globalização empurrada pelas grandes empresas pode ser vista como uma sucessão de encontros mais ou menos conflituosos entre uma lógica econômico- financeira, abstrata, quantitativada, de tendência universal e uniformizadora e os contextos sociais, humanos, jurídicos, políticos que caracterizam os locais concretos onde a gestão opera. Ajudar a pensar melhor esses encontros, ao mesmo tempo criadores e destrutivos, de acordo com a gama dos critérios evocados, oferece uma ótima missão aos pesquisadores em estratégia, mais que nunca política de empresa (Martinet, 2007). A responsabilidade deles consiste então em não se refugiar em uma neutralidade científica ilusória e ideológica mas em assumir um papel de pensador inseparável, em ciências sociais, do de pesquisador. Hayek (1953) afirmava que um economista que não fosse também filósofo, sociólogo e historiador seria irresponsável e perigoso. Poderia se pensar diferentemente em relação ao estrategista?
As ciências de gestão não podem ser mais vistas como técnicas econômicas aplicadas ou exclusivamente preocupadas em explicar regularidades observadas nas empresas. A gestão estratégica é hoje o produtor principal dos fatos econômicos e sociais detectáveis nos níveis meso e macro e constitui assim, de certa maneira, um gigantesco back office em redes. Em geral, como mostrou-o Hatchuel (2000), as ciências de gestão não são mais a aplicação mas a base determinante das ciências sociais. A res gestae dos Romanos, toda preocupada com as ações realizadas, torna-se então o principal interlocutor da res publica, todas as duas necessárias à vida em comunidade.
A estratégia é uma ciência? A resposta que tentamos argumentar neste texto, propondo um olhar histórico, é que ela não pode ser concebida sem a contribuição das ciências, mas ela não pode ser uma área científica especializada e precisa sem desnaturar-se e sem conduzir as sociedades à imoralidade e à total ineficiência. Ela é, ao mesmo tempo, uma arte e uma filosofia e, deste ponto de vista, seria mais uma infraciência(11 11 No sentido de infra-estrutura. ) como dizia-o Hatchuel (2000), ou para ficar mais perto das preocupações práticas, uma integralogia cujo objeto é o de integrar e reconciliar os resultados das ciências tradicionais, buscando explicações mais gerais e guias para a ação.
NOTAS
- Andrews, K. R. (1987). The concept of corporate strategy. Homewood, IL: Irwin (Obra original publicada em 1971).
- Andrews, K. R. (1989). Ethics in practice. Harvard Business Review, 67(5), 99-105.
- Ansoff, H. I. (1965). Corporate strategy: an analytic approach to business policy for growth and expansion. New York, NY: McGraw-Hill.
- Ansoff, H. I. (1987). The emerging paradigm of strategic behaviour. Strategic Management Journal, 8(6), 501-515.
- Ansoff, H. I., Declerck, R. P., & Hayes, R. L. (1976). From strategic planning to strategic management. New York, NY: John Wiley & Sons.
- Avenier, M. J. (Coord.) (1997). La stratégie "chemin faisant" Paris: Economica.
- Barnard, C. H. (1938). The functions of the executive Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Berle, A. A., & Means, J. C. (1968). The modern corporation and private property. New York, NY: Harcourt, Brace and World.
- Betbèze, J. P. (2003). Les dix commandements de la finance Paris: Odile jacob.
- Bower, J. L. (1968). Descriptive decision theory from the administrative point of view. In R. A. Bauer & K. J. Gergen (Eds.). The study of policy formation. New York, NY: Free Press.
- Bower, J. L. (1982). Business policy in the 1980s. Academy of Management. The Academy of Management Review, 7(4), 630-639.
- Caves, R. (1967). American industry: structure, conduct, performance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure. Cambridge, MA: MIT Press.
- Collins, J. (2001). From good to great New York: Harpercollins publishers.
- Dacin, T., Goodstein, J., & Scott, R. (2002). Institutional theory and institutional change: Introduction to the special research forum. Academy of Management Journal, 45(1), 45-57.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
- Drucker, P. (1954). The practice of management New York: Harper and Brothers.
- Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach Marshfield: Pittman.
- Galbraith, J. (1967). The new industrial state. New York, NY: Free Press.
- Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices, Academy of Management Learning and Education, 4(1), 75-91.
- Greenwood, R., & Hinings, C. R. (1996). Understanding radical organizational change: bridging together the old and the new institutionalism. Academy of Management Review, 21(4), 1022-1045.
- Hambrick, D. C., & Mason, P. A. (1984). Upper echelon: the organization as a reflection of its top managers. Academy of Management Review, 9(2), 193-206.
- Hatchuel, A. (2000). Quel horizon pour les sciences de gestion ? Vers une théorie de l'action collective. In A. David, A. Hatchuel, & R. Laufer (Coords.). Les nouvelles fondations des sciences de gestion, Paris: Vuibert-Fnege.
- Hayek, F. (1953). Scientisme et sciences sociales Paris, France: Agora.
- Jensen, M. E., & Meckling, W. H. (1994). The nature of man. Journal of Applied Corporate Finance, 7(2), 2-116
- Lawrence, P., & Lorsch, J. (1967). Organization and environment. Homewood, IL: Irwin.
- Learned, E. P., Christensen, C. R., Andrews, K. R., & Guth, W. D. (1965). Business policy: text and cases. Homewood, IL: Irwin.
- Maguire, S., Hardy, C., & Lawrence, T. B. (2004). Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada. Academy of Management Journal, 47(5), 657-679.
- Martinet, A. C. (1984). Management stratégique, organisation et politique. Paris: McGraw Hill.
- Martinet, A. C. (2007). Gouvernance et management stratégique: fin de l´histoire » ou régénération du politique In A. C. Martinet (Org.). Sciences du management - epistémique, pragmatique et éthique Paris: Vuibert, FNEGE.
- McGahan, A. M. (1993). Note on industry and company profitability Boston, MA: HBS.
- McNair, M. P. (Ed.). (1954). The case method at the Harvard Business School New York, NY: McGraw-Hill.
- Miller, D., & Shamsie, J. (1996). The resource-based view of the firm in two environments: the Hollywood film studios from 1936 to 1965. Academy of Management Journal, 39(3), 519-544.
- Mintzberg, H. (1987). Crafting strategy. Harvard Business Review, 65, 66-75.
- Morgan, G. (1986). Images de l'organisation. Québec: Presses de l'Université Laval-Eska.
- Morin, E., & Le Moigne J. L. (1999). L'intelligence de la complexité Paris: L'Harmattan.
- Newbert, S. (2007). Empirical research on the resource-based view of the firm: an assessment and suggestions for future research. Strategic Management Journal, 28(2), 121-146.
- Peters, T., & Waterman, R. (1983). Le prix de l'excellence. Paris, France: Interéditions.
- Porter, M. E. (1980). Competitive analysis. New York, NY: Free Press.
- Prahalad, C. K. (2004). The fortune at the bottom of the pyramid New York, NY: Pearson.
- Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1990). The core competence of the corporation. Harvard Business Review, 68(3), 79-92.
- Ray, G., Barney, J. B., & Muhanna, W. A. (2004). Capabilities, business processes, and competitive advantage: choosing the dependent variable in empirical tests of the resource-based view. Strategic Management Journal, 25(1), 23-37.
- Roethlisberger, F. (1977). The elusive phenomena. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Schmalensee, R. (2006, November 27). Where's the 'B' in B-Schools? Business Week, p. 118.
- Simon, H. A. (1945). Administrative behavior. New York, NY: Macmillan.
- Sloan, P. (2005). Strategy as synthesis: andrews revisited Unpublished doctoral dissertation. HEC Montreal, University of Montreal.
- Thompson, J. D. (1967). Organizations in action. New York, NY: McGraw-Hill.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
- Whittington, R. (2004). Strategy after modernism: recovering practice. European Management Review, 1(1), 62-68.
- Wicks, A. C., & Freeman R. E. (1998). Organization studies and the new pragmatism: positivism, anti-positivism and the search for ethics. Organization science, 9(2), 123-140.
- Williamson, O. E. (1991). Strategizing, economizing and economic organization, Strategic Management Journal, 12, 75-94.
- Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. Strategic Management Journal, 24(10), 991-995.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
31 Out 2008 -
Data do Fascículo
Dez 2008