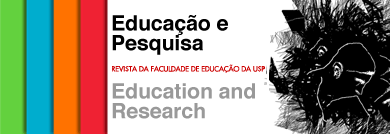ENTREVISTA
Desafios da educação na contemporaneidade: reflexões de um pesquisador** Editada por Ana Paula Carneiro Renesto. - Entrevista com Bernard Charlot
Challenges of education in contemporaneity: thoughts of a researcher - An interview with Bernard Charlot
Entrevista concedida a Teresa Cristina Rego; Lucia Emilia Nuevo Barreto Bruno;
Universidade de São Paulo
Em entrevista concedida à revista Educação e Pesquisa em julho de 2009, o francês Bernard Charlot, radicado no Brasil desde o início dos anos 2000, reflete sobre sua formação acadêmica, sua trajetória intelectual e, principalmente, sobre alguns problemas relevantes da educação atual (da escola básica e do ensino superior). Conhecido por seus importantes estudos sobre a compreensão da relação que as pessoas mantêm com o saber, Charlot demonstra neste texto seu grande compromisso com a prática educativa e com a atividade de pesquisa. Nascido em 1944 em Paris, Charlot é graduado em Filosofia e doutor pela Universidade de Paris 10. Sua experiência como docente é significativa: foi professor da Universidade de Túnis, na Tunísia, e de volta à França, da École Normale (Instituto de Formação de Professores), em Le Mans, e da Universidade Paris 8. Nessa instituição, onde atuou por 16 anos, idealizou e fundou a ESCOL (Educação, Socialização e Comunidades Locais), equipe de pesquisa de grande projeção internacional, voltada à investigação das relações com os saberes (especialmente com o objetivo de esclarecer de que forma os alunos de diferentes classes sociais se apropriam deles) e de outros temas cruciais relacionados à educação como violência na escola, territorialização das políticas educacionais e globalização. No Brasil, Charlot já trabalhou como professor-visitante na Universidade Federal de Mato Grosso. Desde 2006, é professor visitante na Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é também professor afiliado da Universidade do Porto (Portugal). É autor de uma série de livros, entre os quais: A mistificação pedagógica: realidades sociais e processos ideológicos na teoria da educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979; Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Trad. Bruno Magne. Porto Alegre: Artmed, 2000; Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2001; Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005; e Jovens de Sergipe: como são eles, como vivem, o que pensam. Aracaju: Governo de Sergipe, 2006.
During an interview given to Educação e Pesquisa magazine in July 2009, Bernard Charlot, a French intellectual who has lived in Brazil since the early 2000s, reflects on his academic background, his intellectual itinerary and especially on some current education problems (from elementary school to higher education). Known for his important studies on the relationship people have with knowledge, Charlot shows in this text his great commitment to teaching practice and to research. Born in 1944 in Paris, Charlot graduated in philosophy and holds a Ph. D. in philosophy from the University of Paris 10. He has large teaching experience: he was a professor at the University of Tunis, in Tunisia and, back in France, at Ecole Normale (an institute that licenses teachers), in Le Mans, and at the University of Paris 8. In this institution, where he worked for 16 years, he conceived and founded ESCOL (Education, Socialization and Local Communities), a research team known worldwide, which focuses on investigating the relationships with school disciplines (especially aiming at clarifying how students from different social classes gain knowledge) and other crucial themes related to education, such as violence at school, territorialization of education policies, and globalization. In Brazil, Charlot worked as visiting professor at the Federal University of Mato Grosso and since 2006, as a visiting professor at the Federal University of Sergipe. He is currently working as an adjunct professor at the University of Oporto (Portugal). He has written several books, including A mistificação pedagógica: realidades sociais e processos ideológicos na teoria da educação. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979; Da relação com o saber: elementos para uma teoria. Trad. Bruno Magne. Porto Alegre: Artmed, 2000; Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Trad. Fátima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2001; Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a educação hoje. Porto Alegre: Artmed, 2005; and Jovens de Sergipe. Como são eles, como vivem, o que pensam. Aracaju: Governo de Sergipe, 2006.
Conte-nos um pouco de sua história de vida, sua infância e suas origens familiares.
Nasci em 15 de setembro de 1944, que era o dia do início do ano letivo na França, o que já é simbólico. Meus pais tiveram três filhos e uma filha. Sou o segundo filho. Nós morávamos em Paris, cidade em que meus pais nasceram.
O meu pai nunca terminou o ensino primário. Foi operário em vários setores: pintura de prédios, asfalto das ruas etc. Foi prisioneiro na Alemanha e fugiu depois de dois anos. Depois da guerra, entrou na polícia porque ela dava prioridade de emprego aos prisioneiros que haviam escapado.
Sociologicamente sou dessa família que passa da camada operária para a da pequena classe média, com uma mãe que foi boa aluna e que acabou levando todos os filhos para cima. Por ser boa aluna, ela terminou a escola cedo, com doze anos, e ao invés de ir trabalhar numa fábrica, entrou num escritório. Não foi fácil para ela na época da guerra com um filho que acabara de nascer. Ela teve de cuidar dos filhos e continuar a trabalhar. Foi uma vida difícil.
A minha mãe teve um papel preponderante na minha formação. A alta expectativa depositada no projeto escolar era mais dirigida a mim porque eu era considerado "o intelectual da família". No entanto, o meu irmão mais velho entrou no comércio e agora ele é que é rico. O terceiro filho se tornou fisioterapeuta. E a minha irmã, embora não tenha prosseguido seus estudos nem ficado rica, tem uma vida boa.
Quais são suas memórias de escola: quando entrou na escola, qual o perfil das escolas cursadas e o estilo pedagógico a que esteve submetido?
Fui um pouco à escola maternal, mas não sei com quantos anos. Tenho poucas lembranças, acho que não gostei muito. Depois fui para uma escola num distrito popular do leste de Paris. Entrei na primeira série e, depois de duas semanas, colocaram-me na segunda série, porque já tinha sido alfabetizado pela minha mãe. Não sei se isso foi bom porque sempre fui o menor da turma, o que não foi fácil. Ainda havia classificação e prêmios. Fui sempre o primeiro ou o segundo da turma, mas não era um típico CDF, porque sempre tive amigos entre os últimos da turma. Era bom aluno, mas era perdoado pelos amigos. Eu vi-via os dois mundos. Fui um aluno um pouco complicado para os professores: muitas vezes o melhor da turma, mas participante de um grupo que gostava de rir e, às vezes, resistia à escola. Mais tarde, isso me ajudou a entender coisas nesses dois mundos.
Fiz estudos num colégio que era mais técnico-comercial, com ensino moderno, sem latim nem grego. Eu gostava muito de francês e história, mas também de matemática. E quando cheguei ao penúltimo ano do ensino médio, por meio da literatura, tive vontade de passar para a filosofia. Teria de mudar de colégio, porque não tinha filosofia no meu. A minha mãe, que sempre teve sonhos ambiciosos, foi ver o diretor do Liceu Henri IV, uma das duas melhores escolas de Paris, sempre públicas. O diretor era professor de matemática e, como eu tinha boas notas, ele me permitiu entrar. Nessa nova escola, no último ano do ensino médio, no Concours Général, que era uma prova para os melhores alunos de toda a França, ganhei o prêmio de história.
Eu queria ser jornalista político. Podia entrar no Instituto de Ciências Políticas sem concurso, graças aos meus bons resultados no baccalauréat, exame final do ensino médio. Mas não ia receber dinheiro para fazer os estudos e precisava de recursos, porque me casei pela primeira vez quando nem bem tinha 19 anos. Nessa época, no mundo popular, casava-se cedo. Tinha uma vida popular e, ao mesmo tempo, os estudos. Passei num concurso e ganhei uma bolsa para estudar literatura na Sorbonne e tornar-me professor de francês. Com essa bolsa, eu poderia sobreviver dois anos. Mas não queria ser professor de francês. Decidi me preparar para o concurso da École Normale Supérieure, aquela em que se podia entrar sem latim nem grego. Queria ser professor de história. No último ano do ensino médio, minha mãe foi ver o professor que orientava a turma e perguntou-lhe o que eu deveria fazer para ser professor de história. Ele era professor de filosofia e eu era o melhor aluno de filosofia da turma. Ele recomendou que eu me tornasse professor de filosofia e não de história. Nos estudos de filosofia, tinha provas de latim e grego, mas ele disse: "é só aprender". Foi assim que aprendi, na École Normale Supérieur, o latim com 20 anos e o grego com 21, que passei no concurso da Agregação e me qualifiquei como professor de filosofia, um pouco por acaso. Mas, antes de começar a ensinar, devia prestar o serviço militar.
E seus itinerários como intelectual e militante? Na graduação, você cursou filosofia e suas primeiras pesquisas são relacionadas à epistemologia das ciências. Você começou a se interessar pelos temas voltados à educação aos 25 anos, graças a um trabalho de formação docente que você desenvolveu na Tunísia. É isso mesmo?
Depois dos estudos, em vez de ir para o quartel, fiz a cooperação cultural na Universidade de Túnis. Nomearam-me para o Departamento de Ciências da Educação, embora eu nunca tivesse estudado pedagogia. Como to-dos os filósofos, eu tinha bastante desprezo pela pedagogia. Tive que ensinar filosofia da educação, psicologia e coisas assim sem saber nada de educação. Comecei falando do Platão e, depois de algumas semanas de Platão, um estudante me questionou sobre esse conteúdo.
Muitos dos alunos tinham 30 anos e eu era um dos mais novos da turma. Era 1969, estava com 25, 26 anos. Expliquei o que eu sabia fazer: analisar conceitos. Eles conheciam a realidade da escola na Tunísia, e eu, a da escola francesa por ter sido aluno. Decidimos estudar juntos, com uma parte de teoria e outra parte de trabalho ligado a situações re-ais. Eu lia os livros clássicos - Freinet, Claparède, Dewey, Montessori, Makarenko etc. - à noite e no fim de semana. Eles traziam casos da escola, do tipo: "Enviei um aluno para procurar giz no escritório do diretor. Ele entrou, nem conseguiu falar e recebeu uma bofetada de imediato. O que podemos fazer?"
Então, trabalhávamos assim entre os livros e a realidade. Nessa época, já constatava o fosso enorme existente entre ambos. Ao invés de ficar apenas dois anos na Tunísia, fiquei quatro. Assim fiz a minha "licenciatura" em pedagogia. Fiz um esforço para me adaptar ao país. Lá, nasceu meu primeiro filho, cujo segundo nome é Karim, um nome árabe. Estudei seis horas de árabe por semana durante um ano. Saber ler árabe também foi útil depois na Universidade de Paris 8, onde estudavam muitos imigrantes.
Quando voltei da Tunísia, trabalhei numa École Normale por 14 anos. Lá constatei o mesmo problema que já havia percebido na Tunísia: a diferença entre a realidade e a teoria era enorme. Comecei a escrever A Mistificação Pedagógica, não para dizer que a pedagogia é uma mistificação, mas para dizer que existe um discurso pedagógico - seja o tradicional, seja o chamado construtivista - que é uma mistificação porque não fala da situação real.
Com um pouco mais de 30 anos, paralelamente ao trabalho como professor, atuei numa revista semanal muito à esquerda como jornalista voluntário, especializado em educação. Na ocasião, recebi a proposta de ser contratado como jornalista profissional - o trabalho com que sonhara quando adolescente. Mas decidi ser pesquisador por duas razões. Eu já tinha três filhos, e funcionário público era uma profissão mais segura do que jornalista. Além disso, como jornalista, fazia perguntas para as quais, como pesquisador, eu tinha respostas. E percebi que preferia ser entrevistado a ser entrevistador.
Entrei na Universidade Paris 8 depois, porque estava pesquisando, entre outras coisas, as políticas educacionais e adivinhei que o tempo das Escolas Normais estava para terminar. Em 1985, defendi na França uma tese sobre obras já publicadas: três livros e 42 artigos, mais de mil páginas. Pretendia defender uma tese de doutorado normal, mas Gilles Ferry, meu "orientador", me propôs uma Thèse d'État (que seria, no Brasil, um conjunto: doutorado mais livre-docência). Tive que redigir em 15 dias, em pleno início do ano letivo, uma nota de pesquisa sobre tudo o que havia escrito. Eu escrevia à noite e a minha esposa levava para alguém digitar. Nem tive tempo de reler. Era tão ingênuo que fiz 59 páginas em espaço simples, quando geralmente se faz com espaço maior para parecer mais sério e profundo! Depois, com essa tese, entrei direto como professor titular em Paris 8, no primeiro pedido, em 1987. Isso foi importante porque não tive que sofrer, esperar e passar a mão nas costas dos "grandes professores". Assim, estando no topo da hierarquia, pude viver fora da hierarquia e manter a minha liberdade de pensamento.
O poder nunca me seduziu. Já tive poder. Em Paris 8, dirigi a graduação e a pós-graduação. Pediram duas vezes para me candidatar a reitor, mas não quis. Fui presidente da Associação dos Pesquisadores da Educação, o equivalente à ANPED no Brasil, por seis anos, durante dois mandatos. Mas nunca aceitei entrar no Conselho Universitário Nacional, que avalia os colegas para as carreiras. Não gosto de exercer o poder, porque poder é responsabilidade e, além disso, sinto-me um pouco ridículo.
Muito provavelmente, seu interesse pela educação também tinha relação com o período político vivido na França naquele momento histórico. Você começou a dar aulas um ano depois de maio de 1968. Que tipo de jovem você foi? Era engajado politicamente?
Sempre fui de esquerda, inclusive porque os meus pais eram de esquerda, embora nunca tenham se filiado a um partido político. Sempre ouvi na minha juventude que eu teria sucesso e que depois esqueceria as minhas origens. Isso foi um desafio para mim.
Em 1968, terminei o concurso da Agregação e fui dormir, porque o concurso era muito difícil. No dia seguinte, ouvi no rádio que tinha começado a Revolução. Participei dos eventos, claro. Nunca ergui barricadas porque não é o meu estilo, mas participei de reuniões, ocupei a Sorbonne, distribuí panfletos na porta de usinas etc.
Fui o tipo de estudante popular que pertence à esquerda quase por origem, mas nunca entrei em partido político, porque rapidamente entendi que, em partido político, não se tem liberdade para pensar. Ia ser expulso.
Quando tive de deixar a Tunísia, não tinha contatos universitários, não pertencia a nenhuma panela universitária. Pedi uma vaga para uma universidade da África negra e obtive uma no Togo. Só que ela sumiu de repente das listas oficiais. Fui sindicalista na Tunísia, do Sindicato do Ensino Superior, e uma vez ocupamos a embaixada da França lá. A França obviamente não queria enviar para África um professor universitário desses!
Voltei para a França, para uma École Normale. Lá, fiz sindicalismo de minoria para mudar todas as práticas, inclusive as sindicais. Eu tinha esse tipo de militância, sempre desconfiando dos partidos.
Mais tarde, já na Universidade de Paris 8, fui vereador da cidade de Saint-Denis, na periferia de Paris. Saint-Denis é uma das cidades mais populares da França, com um passado operário e que tem fama de violenta. Por sinal, foi lá que fiz a maioria das minhas pesquisas sobre a relação com o saber. Na França, o vereador tem uma atividade sociopolítica não remunerada e é eleito numa lista com um programa. Apresentei-me numa lista com um prefeito comunista, com socialistas, ecologistas e pessoas sem partido, como eu.
No Brasil, sou um dos fundadores do Fórum Mundial de Educação de Porto Alegre e ainda faço parte do Comitê Internacional, embora agora participe pouco, porque ele foi institucionalizado.
Acho que sou intelectual no sentido francês: pesquisador que participa dos debates sociais, dos movimentos sociais, sem ficar preso num partido político.
Seu primeiro livro lançado no Brasil (A mistificação pedagógica, Ed. Zahar, esgotado) teve grande repercussão nos anos 80. Naquele trabalho, você aponta a significativa defasagem entre o discurso teórico pedagógico e a prática, a realidade social. Qual é a saída para superar esse distanciamento?
Falemos do Brasil. O professor tem práticas basicamente tradicionais porque a escola é feita para ter práticas tradicionais: tempo e espaço fragmentados, formas de distribuir os alunos de acordo com a sua idade e, sobretudo, avaliação individual que gera uma hierarquia. Só que o professor brasileiro tem uma especificidade: ele sabe que deve dizer que é construtivista para não ter problemas.
O professor universitário, sem levar em conta as condições em que os professores do ensino básico trabalham, explica que eles devem ser construtivistas. E quando estes perguntam como fazer, o professor universitário brasileiro faz como o seu colega francês: ele diz que não vai dar receitas. Ele não dá receitas porque ele não as tem. Se as tivesse, daria. Se soubesse como fazer, diria. Acho que temos que sair desse impasse. Muitas escolas brasileiras estão em situação material que é do século XIX. Falar para o professor de construtivismo é completamente fora da realidade. Sabemos que, em muitas escolas, a dificuldade principal é com o professor que não vai dar aula. Na Amazônia, por exemplo, há todo o problema da chuva, alunos que andam duas horas até a escola e não tem professor. Não estou criticando ninguém, sei que é difícil, mais difícil aqui do que na França, mas essa é a realidade. Se quisermos mudar a es-cola brasileira, teremos que trabalhar a realidade. Ela tem que ser tomada como ponto de partida.
Num de seus artigos, você afirma preferir a 'crise' de uma escola democratizada à paz de uma escola elitista. Considerando o que você acaba de dizer e tendo em vista as diversas dificuldades e os múltiplos problemas enfrentados hoje pela escola, o que você sugere para os educadores e pesquisadores quanto à forma de enfrentá-los?
Decerto, não podemos dar receitas, isto é, modos de fazer que sempre funcionam, qualquer que seja o contexto. Mas podemos e devemos oferecer técnicas de trabalho. Senão, explicamos uma pedagogia ideal para o professor "normal", que tem alunos "normais", em condições de trabalho que muitas vezes nem são normais e culpamos o professor, o que o leva a pensar que é incapaz, que não sabe como enfrentar suas dificuldades.
Devemos trabalhar com os professores "normais" e, desse ponto de vista, desconfio dos discursos sobre a escola ideal. Há exemplos de escolas, como a Escola da Ponte, de Portugal, que impressionam muito. Claro que essa escola é muito interessante, fora da norma, mas esse é o problema: ela está fora da norma. Entre os professores muito emocionados por esse exemplo, quantos por cento querem entrar numa aventura dessas? E qual a função real desses exemplos heróicos? Ao dá-los, dizemos aos professores que se pode mudar a escola brasileira agora. É verdade, mas, para tanto, tem que ter heróis. No Brasil, há cerca de 1.800.000 professores. Não são 1.800.000 heróis. São trabalhadores que querem fazer um bom trabalho e não podemos exigir que sejam todos santos, militantes, heróis. No Brasil, nós - digo nós porque vivo aqui agora e compartilho suas preocupações e alegrias - devemos trabalhar mais com a realidade da escola brasileira e não com o que deve ser uma escola ideal.
Esse distanciamento entre as questões teóricas e aquilo que a realidade suscita é um problema quase crônico na educação - e não só no Brasil. Mas a especificidade deste país é que ele deve resolver todos os problemas ao mesmo tempo e em pouco tempo. A França e outros países da Europa tiveram um século para a constituição da escola primária e tiveram 20 anos para construir a segunda parte do ensino fundamental. No Brasil, temos que fazer tudo ao mesmo tempo: terminar o ensino fundamental, que foi estatisticamente resolvido, mas que sabemos que ainda tem problemas; temos que resolver o problema do Ensino Médio, que é o mais grave neste momento, porque não foi suficientemente ampliado, constituindo um gargalo entre o ensino fundamental e o ensino superior. Além disso, é necessário organizar uma universidade para a globalização. Aqui há escolas dos séculos XXI, XX e XIX. Às vezes, num mesmo bairro! Isso significa que o discurso fora da realidade tem consequências mais graves no Brasil do que na França, já que lá a distância entre a realidade e o discurso é menor do que aqui. Não é culpa de ninguém - aliás, não gosto do discurso da culpa - mas temos de resolver esses problemas.
Você foi um dos primeiros autores no campo da educação a chamar a atenção para a relação que os sujeitos, em particular os estudantes mais pobres, estabelecem com o saber, com aquilo que é ensinado na escola. Você acha que esse tema ainda precisa ser mais bem compreendido? Quais novas perguntas essa temática enseja?
Vou tentar responder da forma mais simples possível. Só aprende quem estuda, quem tem uma atividade intelectual. Mas só faço um esforço intelectual se a atividade tem sentido para mim e me traz uma forma de prazer. Portanto, a questão da atividade, do sentido e do prazer é central. Ir à escola, estudar (ou recusar-se a estudar), aprender e compreender, seja na escola seja em outros lugares: qual sentido isso tem para os jovens, em particular nos meios populares? Em outras palavras: qual a relação dos alunos com a es-cola e com o saber?
Essa abordagem, essa forma de questionar, implica uma ruptura com muitos questionamentos anteriores e isso é o que importa, antes de tudo. Mas é preciso ter cuidado: relação com o saber não é uma resposta, é uma forma de perguntar. Na França, já ouvi professores dizendo: ele fracassa porque não tem relação com o saber. É um erro: cada um tem uma relação com o saber, inclusive quando não gosta de estudar. É, ainda, uma catástrofe ideológica, uma vez que, ao dizer que alguém não tem uma relação com o saber, reintroduz-se a análise em termos de "carências", justamente aquela que a noção de relação com o saber permite afastar. O problema não é dizer se a relação do aluno com o saber é "boa" ou não, mas, sim, entender as contradições que o aluno enfrenta na escola. Ele vive fora da escola formas de aprender que são muito diferentes daquelas que o êxito escolar requer. Essas contradições é que se deve tentar entender. Por isso, insisto muito sobre a heterogeneidade das formas de aprender. Há coisas que só se pode aprender na escola e, portanto, não se deve menosprezar esta instituição. Mas também se aprendem muitas coisas importantes fora da escola.
Hoje, embaso essa ideia de heterogeneidade das formas de aprender numa análise antropológica. O ser humano nasce incompleto, como explicam autores tão diferentes quanto Kant, Marx, Vygotsky ou Lacan. Mas ele nasce em um mundo humano, que lhe proporciona um patrimônio. Ao se apropriar desse patrimônio, pela educação, a cria do homem torna-se humana. Em outras palavras, o que caracteriza o ser humano não fica dentro de cada indivíduo. Como escreveu Marx na VIa Tese sobre Feuerbach, a essência do ser humano é o conjunto das relações sociais. Ampliando a ideia, pode-se considerar que a essência do ser humano é tudo o que a espécie humana criou no decorrer de sua história. Portanto, a educação é um processo de humanização, socialização e subjetivação. Na psicologia, isso leva a uma perspectiva histórico-cultural. Na sociolo-gia, isso leva a reavaliar a questão do sujeito, que a sociologia deixou de lado para se constituir. Na pesquisa em educação, devemos considerar o aluno como ser humano indissociavelmente social e singular- e talvez essa seja a especificidade da disciplina Educação.
Você critica uma tendência da sociologia a não considerar o singular e aponta também o reducionismo da psicologia de não considerar o coletivo, o plural, o social. Para você, a questão do sujeito tem particular importância. Essa é a razão de seu diálogo com os trabalhos de Lacan e, mais recentemente, com os de Vygotsky?
Encontrei a psicanálise na década de 1960, bem antes de Vygotsky, autor que só chegou à França nos anos 1980. E a perspectiva da psicologia histórico-cultural, encontrei-a no Brasil.
De imediato concordei com Vygotsky, um dos poucos na educação que é realmente marxista. A perspectiva histórico-cultural me interessa e, para mim, é quase evidente que o homem se constrói integrando uma parte do que foi criado pela espécie humana. De certa forma, é a própria definição da perspectiva histórico-cultural. Mas preciso também da psicanálise, que Vygotsky não aceitou integrar à sua perspectiva, conforme o marxismo da época. Com efeito, o que escrevo supõe a noção de desejo: por nascer incompleto, o ser humano vive procurando o que lhe permitiria completar-se. É o que Lacan chama de objeto "pequeno a", aquele objeto que nunca se pode atingir, já que nenhum objeto pode finalizar o ser humano, seja ele amor, dinheiro ou poder. Por condição, o ser humano é e permanece incompleto, à procura de alguma coisa que nunca consegue satisfazê-lo. Ademais, por nascer incompleto, o homem entra de imediato em relações com outros seres humanos. Como dizia Descartes, somos levés à bras, isto é, carregados no colo. Depois de nascer, o bebezinho não transforma a natureza. Na perspectiva marxista clássica, é a espécie humana que transforma a natureza. O que o bebezinho deve fazer? Seduzir os seus pais para ter o que ele quer, para satisfazer os seus desejos. Qual disciplina me ajuda a entender essa problemática do desejo e das relações? A psicanálise, em-bora eu não pretenda ser um especialista nessa área.
Portanto, preciso de Vygotsky e de Lacan. Preciso daquele para entender que o psiquismo humano se constrói no decorrer da história e qual é a relação entre a história da espécie humana e a do sujeito. Preciso dele, ainda, para compreender que o sujeito não é um conjunto de pulsões biológicas que, a seguir, socializa-se: ele é de imediato social. Mas preciso da psicanálise, em particular de Lacan, para entender quais são as raízes do desejo de aprender e saber. Por sinal, Lacan foi o primeiro que utilizou a expressão "relação com o saber". Para aprender, devo me mobilizar numa atividade intelectual. Qual é o motor dessa mobilização? Um desejo. Mas como se pode ter desejo por um teorema de matemática ou uma fórmula de química? Essa é uma questão muito "concreta": um ensino é interessante quando um conteúdo intelectual encontra um desejo profundo. Aliás, Vygotsky percebe esse problema quando ele distingue e tenta articular significado históricocultural e sentido pessoal, distinção essa que foi trabalhada por Leontiev.
Por fim, não posso esquecer que esse sujeito deve manter o seu corpo biológico, sustentar-se, trabalhar e que, assim, ele entra em relações de dominação e exploração. A psicanálise sabe que o sujeito é desejo, mas que também é estruturado por normas, o que a levou à noção de superego. Mas a sociologia da psicanálise é tão sumária quanto a psicologia dos sociólogos. A noção do superego, de normas sociais, não foi trabalhada pela psicanálise, como se tal noção fosse clara.
Como é que você vê, dentro da sua vertente marxista, a relação entre indivíduo e sociedade, sujeito e instituições sociais, entendendo as instituições não no sentido normativo, mas como todas as relações que definem um padrão para se reproduzir e se institucionalizar. Essa relação, claro, é contraditória. Mas em que termos você entende que essa contradição se coloca?
Não sei se sou capaz de responder a essa questão. Vou fazer o que se faz quando não se sabe responder: responde-se a outra. Quero dizer duas coisas, uma partindo da sociologia e outra, da psicanálise.
Hoje, a questão do sujeito é importante para a sociologia. É uma questão política. Em primeiro lugar, é muito interessante analisar a sociedade atual como fonte de sofrimento e abandono do sujeito. Nunca antes o indivíduo foi tão livre e, ao mesmo tempo, nunca o sujeito foi tão abandonado como hoje. Isso vale também quando se trata dos jovens: a nossa sociedade gosta de juventude, mas não gosta dos jovens; ela valoriza tudo que é novo, mas não deixa espaços para os jovens.
O próprio Bourdieu encontrou essa questão do sujeito que sofre: antes de publicar A miséria do mundo, escreveu, sobre o mesmo tema, um artigo que se chamava O sofrimento. Mas não dava para um sociólogo falar do sujeito e Bourdieu propôs uma explicação sociológica do fenômeno: quando existe uma defasagem entre o habitus, isto é, as disposições psíquicas socialmente estruturadas, por um lado e, por outro, as condições de funcionamento desse habitus, o sujeito sofre. A explicação é interessante, mas, a meu ver, não é suficiente. Parece-me difícil falar do sujeito sem levar em consideração o que nos ensina a psicologia e, mais ainda, a psicanálise.
Em segundo lugar, e de forma mais geral, a sociologia deve levar em conta aquele fenômeno contemporâneo que chamo de individuação da vida e das relações. Não se deve confundir a individuação - processo psicológico e social - e o individualismo - categorização ética e política. Por exemplo, na França, o grande movimento social da década de 1980 foi contra o racismo e foi liderado por uma organização cujo nome era Touche pas à mon pote (Não agrida o meu amigo). Não é individualismo, já que se trata de recusa do racismo. Mas essa recusa é pensada na lógica da individuação: o conceito de "racismo" é geral demais para mobilizar as pessoas, em particular os jovens, mas a referência ao que sofre um indivíduo não branco mobiliza. Como pensar uma sociedade em que o indivíduo pas-sou a ser uma referência central e, também, onde o sujeito sofre?
A segunda coisa que gostaria de comentar remete às questões da psicanálise contemporânea. Escrevi muito sobre a necessidade de levar em conta o sujeito. Mas descobri recentemente, lendo coisas sobre Lacan, que a própria noção de sujeito não é nada clara. O que é o sujeito? Quem é e o que é aquele que diz "Eu"? Essa é a questão que perpassa a obra de Lacan. Muitas vezes, este último cita o que disse Rimbaud, um grande poeta francês: "Je est un autre" (Eu é um outro). Se Eu é um outro, preciso entender as suas relações com os outros e, de forma mais ampla, com a sociedade e a cultura em que ele vive, para compreender o que significa ser um sujeito. E aí encontro de novo Vygotsky.
Você tem uma grande experiência como investigador. Além de desenvolver pesquisas na França, você coordenou estudos na Tunísia, na República Tcheca e no Brasil. Em 1987, fundou a equipe Escol (Éducation, Socialisation et Collectivités Locales) a partir de um programa de pesquisa sobre a relação com o saber. Gostaríamos que você fizesse um balanço deste seu trabalho como pesquisador e formador de novos pesquisadores. Que conselhos daria para um jovem pesquisador na área da educação?
Criei uma equipe de pesquisa - a ES-COL. Em 1987, quando cheguei à universidade, era a época das zonas de educação prioritárias. Estava em Paris 8, num município muito popular e eu queria trabalhar com essas zonas. A ideia básica era trabalhar o dentro e o fora da escola, a educação, a socialização e a coletividade, que aqui no Brasil seria a comunidade.
No início, não foi fácil porque queria trabalhar a questão das dificuldades dos alunos mais fracos, num lugar frágil. O equivalente francês do Secretário de Educação que, na França, tem autoridade sobre as universidades e que era de direita mandou a Reitora de Paris 8 me dizer que não era uma boa ideia. Pedi uma ordem por escrito, já que um funcionário não tem obrigação de obedecer a uma ordem oral. Ele não respondeu, sabendo que o seu ofício iria parar na imprensa nacional. Portanto, decidi prosseguir. Às vezes, a pesquisa é também isso: um confronto político com as autoridades. Aliás, mais tarde, acerca de outra pesquisa, tive problemas também com o próprio Ministro da Educação, que era socialista. Quem quer vida tranquila e acesso às honras oficiais que desista de ser pesquisador ou que apenas faça de conta que pesquisa! Essa é a primeira coisa que diria, e que digo, a um jovem pesquisador.
A segunda é: "ouse inventar", escute os argumentos e conselhos do seu orientador, mas não obedeça a suas ordens. No seu trabalho, você pode até criticar o que o seu orientador escreveu - o que já aconteceu com doutorandos "meus". No mundo do pensamento, pode haver técnicos, como no futebol, pode haver colegas com mais experiência, mas não pode haver chefes. Também não confie demais nos livros de metodologia: quem pesquisa não tem tempo para escrever livros de metodologia e vice-versa. Por exemplo, esses livros gastam muito papel para classificar as entrevistas em não estruturadas, semiestruturadas e estruturadas, mas, na verdade, os pesquisadores sempre usam entrevistas semiestruturadas. As chamadas entre-vistas estruturadas são questionários aplicados oralmente, não são entrevistas. E as entrevistas "não estruturadas" não passam de conversas de boteco.
Vou lhes contar como inventei aquele instrumento de pesquisa, hoje bastante utilizado, que chamei em francês de bilan de savoir, expressão essa que foi traduzida no Brasil como "balanço de saber", "escrita de saber", "inventário de saber". O secretário de quem falei não escreveu nada, mas deu ordem aos diretores de colégios para que eu não tivesse acesso às classes. O diretor do colégio local era gentil, me oferecia um café, mas, por uma razão ou outra, nunca me deixava entrar nas salas. Fiquei assim durante oito meses. Por fim, os próprios professores interessaram-se por minha pesquisa e pediram para me encontrar numa sala da comunidade. Disseram-me que trabalhariam comigo e me perguntaram o que faríamos na próxima reunião. Eu não tinha pensado nisso e não sabia... Se respeitasse a regra metodológica, deveria dizer que íamos trabalhar com nossa própria relação com
o saber. Mas sabia que, fazendo isso, não teria mais ninguém na terceira reunião. Então, disse, improvisando: "Estamos no final do ano letivo. Vamos fazer um balanço de saber com os alunos que vão sair do colégio". Eles me perguntaram o que era aquilo. Eu também não sabia. A minha ideia era fazer um balanço. Expliquei-lhes o que era um balanço de saúde, um balanço de carro, e pedi que eles explicassem a mesma coisa a seus alunos. Voltaram com textos muito interessantes. No ano seguinte, com Élisabeth Bautier e Jean-Yves Rochex, que tinham se juntado a mim, estruturei o enunciado do balanço: "Desde que nasci aprendi muitas coisas em casa, na escola, na rua ou em outros lugares. O que é importante em tudo isso e o que estou esperando agora?". Eu tinha inventado um instrumento de pesquisa.
Digo aos meus estudantes que eles podem inventar instrumentos de pesquisa, que a vida não é apenas questionário e entrevista: "Vocês têm todos os direitos, contanto que sigam duas regras: a) vocês devem ter uma metodologia pertinente para responder a suas questões centrais; e b) vocês devem trabalhar com rigor. Sabendo isso, vocês não precisam pedir autorização ao orientador, embora possam pedir conselhos. Parem de perguntar se podem ou não podem fazer algo. Reflitam: com dados coletados assim, conseguem responder à sua questão central de forma rigorosa? Se podem, façam." Acho que, no Brasil, há uma dependência forte demais do orientador. Como formar "mestres" com alunos por demais obedientes?
A terceira coisa que diria, e que sempre digo, é a seguinte: o trabalho específico do pesquisador em ciências humanas é identificar e pensar sobre contradições. Não é dizer que o povo está certo. Aliás, o povo não está nem aí com essa legitimação que o pesquisador julga lhe conferir. Descobri isso e logo me livrei do discurso marxista oficial e comecei a desenvolver um pensamento marxista, quando escrevi, com uma colega, um livro sobre a história da formação dos operários, na França, de 1789 a 1984. Descobri que não existe um empresariado, mas pelo me-nos três - o grande, o médio e o dono de uma loja - e que os três nem sempre têm os mesmos interesses. Descobri ainda que o sindicalismo revolucionário, quando nasceu, era sempre sexista e às vezes racista. Encontrei a contradição, o meu mundo pré-organizado desmoronou e pude começar a pensar.
Explico isso aos estudantes brasileiros. Muitas vezes, eles pretendem fazer uma pesquisa, mas já têm uma resposta política, o que os impede de pesquisar. Eles vão a campo com muitas certezas e poucas dúvidas. Explico que a diferença entre a militância e a pesquisa, inclusive quando se é militante, é a questão da contradição. O militante, pelo menos o militante tradicional, não pode levar em conta a opinião do adversário, não pode tentar entender de qual ponto de vista o adversário está certo, porque isso vai impedir a ação militante. Pelo contrário, o trabalho do pesquisador é evidenciar as contradições, inclusive aquelas que existem no seu campo. É assim que ele pode ajudar o povo e contribuir para o avanço do movimento social.
Darwin sempre carregava consigo um caderninho para anotar as objeções essenciais à sua teoria, porque os argumentos a favor ele não ia esquecer, mas as objeções sim. Isso é pesquisa. Além do mais, a pesquisa é um prazer quando se tem uma pergunta não respondida, quando há um pouco de suspense, quando se encontram contradições. Assim, é pesquisa viva e dá prazer pesquisar. Pesquisa sem ignorância não é pesquisa, pesquisa sem esforços não existe, pesquisa sem prazer não vale a pena.
A primeira pergunta que faço a quem pede a minha orientação é: "O que você quer saber que ainda ninguém sabe, inclusive eu?". Essa pergunta é o primeiro passo naquela aventura que constitui a pesquisa.
No contexto brasileiro, você é um daqueles autores que conseguem transitar, com muita competência, pelo mundo da academia e do cotidiano escolar. Embora seja um intelectual, você é muito ouvido e respeitado pelos profissionais que atuam nas redes de ensino. A que você atribui isso?
Em primeiro lugar, a minha questão da relação com o saber está na encruzilhada da questão do sujeito, da desigualdade social e do saber. É a mesma questão que o professor enfrenta na sala de aula. Em segundo lugar, falo de situações e práticas que o professor conhece, inclusive quando teorizo. O professor não recusa a teoria quando ela teoriza situações, problemas, práticas; ele rejeita a teoria sem objeto identificável, aquela teoria em que
o autor apenas fala a outros autores de teorias. Em terceiro lugar, depois de ter defendido os professores como sindicalista e de tê-los criticado como jornalista, acabei por entender qual postura considero justa. Sei da dificuldade de ser professor, sobretudo na sociedade contemporânea, e estou solidário com os professores. Sei também que as práticas escolares atuais não são satisfatórias. Mas afastei qualquer discurso sobre a "culpa", já que agora entendo as contradições que o professor deve enfrentar no seu trabalho cotidiano e explico essas contradições aos professores. E sempre tento abrir pistas "concretas", dizer o que eu tentaria se estivesse no lugar deles. Os professores entendem isso. Ademais, não "ministro conferência"; explico coisas, o que é bem diferente. Uso muitos exemplos, cito alunos e professores, não uso palavras complicadas e, quando não posso evitá-las, explico o seu sentido. Não sou um "doutor" falando a professores, culpando-os, humilhando-os. Sou, ou pelo menos tento ser, um colega pesquisador transmitindo resultados de pesquisas, instrumentos conceituais e práticas para eles se tornarem mais fortes, mais orgulhosos de seu trabalho, mais felizes e também para que eles façam a mesma coisa com os seus alunos.
Podemos dizer que a educação continua sendo, no Brasil contemporâneo, um dos mais graves problemas sociais. No que diz respeito às políticas que se sucedem, existe má utilização de verbas destinadas a esse setor, precária formação docente, adoção de currículos propedêuticos e excessivamente pesados e dificuldades de várias ordens vividas no cotidiano escolar. Há também uma grande desconfiança acerca da classe política de modo geral. Como você já mora no Brasil há um bom tempo, deve conhecer suficientemente essas mazelas. Nossa pergunta é a seguinte: qual é o balanço que você faz dessa situação e qual seria o papel do pesquisador?
Sou estrangeiro, não posso nem quero me meter na política brasileira, mas é claro que vocês estão certas ao dizerem o que acabaram de dizer. Sobre o balanço, porém, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, apesar de tudo, o Brasil avança, inclusive na área da educação. Nessa área, anda devagar, mas anda. Quanto ao papel do pesquisador, acho que já respondi, quando falei do trabalho com as contradições.
Vou aproveitar a pergunta para acrescentar mais uma ideia: os jovens ainda são políticos, ao contrário do que se diz. Eles não são partidários, claro, mas são políticos, eles participam de movimentos sociais. Temos de entender que, na sociedade contemporânea, a forma de militância mudou: não são mais grandes movimentos de partido ou de sindicato. São mais movimentos de mulheres, de ecologistas, movimentos ligados a vários eventos (como o dos "caras pintadas"). No Brasil, na pesquisa que fiz em Sergipe acerca dos jovens, a participação maior é nos movimentos da Igreja, mais pelas ações sociais do que pela questão da fé. Os jovens ainda levantam os problemas da desigualdade, da discriminação, do racismo, da fome no mundo, mas fazem parte dessa geração que quer ver o resultado de seus atos. Eles são marcados pela individuação da vida e desconfiam muito dos políticos. Na minha pesquisa, as quatro instituições em que eles menos confiam são o governo, as Assembleias Legislativas e os vereadores, os partidos políticos e o Congresso. A seguir, vêm o empresariado e o exército. Os jovens confiam mais na família, depois no professor e no médico, e depois nos defensores dos direitos humanos. Os jovens têm questões e interesses políticos, mas sentem um profundo desprezo e uma grande desconfiança de tudo que remete à política institucionalizada.
No Brasil e em várias partes do mundo, o ensino superior e os programas de pósgraduação estão passando hoje por grandes transformações. Você trabalhou quase duas décadas como professor catedrático na Universidade de Paris 8 e aqui no Brasil ainda atua como docente e pesquisador no Ensino Superior. Hoje você está com 65 anos, já tem, portanto, um bom percurso, uma longa trajetória como intelectual, como pensador. Como avalia o mundo acadêmico contemporâneo (marcado pela competitividade, pela pressa, por pressões de toda ordem como, por exemplo, pela necessidade publicar muito, de conseguir fontes de financiamento etc.)? Existe uma diferença muito grande de outras épocas em que viveu?
Essa pressão existe na França também, mas acho que está pior no Brasil. Confesso que, às vezes, fico perplexo ao observar as re-gras de avaliação da produtividade dos pesquisadores. A minha pesquisa sobre os jovens de Sergipe, realizada a pedido da UNESCO de Brasília e do Governo de Sergipe, gerou um relatório de 700 páginas com base em 3052 questionários aplicados e 33 grupos focais, mas não vale nada segundo os critérios da CAPES, porque foi publicada sem número de INSS! Apesar de o relatório de pesquisa ser a base de trabalho do pesquisador, no Lattes, não há lugar para registrar relatório de pesquisa. Tem que colocar em "outras produções". Temos que ensinar os jovens a produzir relatórios de pesquisa e, com base neles, publicar artigos. O problema é que os estudantes de mestrado devem publicar artigos antes de defender a sua dissertação, já que esse é um dos critérios de avaliação dos Núcleos de Pós-Graduação pela CAPES. Além disso, de acordo com as regras de avaliação vigentes, os livros não valem mais do que um artigo, o que, na área das ciências humanas, é um absurdo. Os pesquisadores devem ser avaliados, mas estranho alguns dos atuais critérios de avaliação.
Em1994, Andrew Wiles demonstrou o teorema enunciado por Fermat no século XVII, que muitos grandes matemáticos não tinham conseguido demonstrar. Até então, Wiles era considerado perdido pela pesquisa: não publicava, não frequentava os colóquios. Apenas se dedicava à sua tentativa de demonstração. Nem sei se publicou a sua demonstração com INSS... Hoje, o seu nome pertence à história da matemática. A pressa que estamos sofrendo não deixa tempo para amadurecer ideias importantes, temos que correr de um tema para outro, conforme as oportunidades de publicar. O que resta dessas publicações? Pouquíssimas coisas. Alguns cole-gas, para sobreviverem academicamente, dependem dos seus estudantes. Em um colóquio internacional organizado por nosso Grupo Educação e Contempo-raneidade (EDUCON), uma professora universitária enviou trezes trabalhos, sempre com outro autor, que eram os seus estudantes. Isso não faz sentido. Sempre me recusei a assinar um texto com os meus orientandos e continuo a recusar-me. Mas eles ficam magoados. Digo que eu não contribuí para o texto e eles contra-argumentam que os ajudei. Mas ajudá-los é o meu trabalho e o texto é deles.
Em um dos últimos livros que você publicou no Brasil (Relação com o saber, formação dos professores e globalização: questões para a educação hoje, Artmed, 2005), você afirma que os livros não são escritos somente para os leitores, que eles são também, primeiramente, fonte de realização e de prazer que o autor se propicia. Gostaríamos que você falasse sobre sua relação com o mundo dos livros, com a leitura e com a escrita.
Não releio o que publico, o que resulta às vezes em situações curiosas, com pessoas que conhecem o que escrevi mais do que eu. Uma vez, uma brasileira que participava do meu seminário, na Paris 8, disse algo que percebi que era de A mistificação pedagógica. Afirmei que não concordava e ela retrucou que eu é que tinha escrito aquilo. Respondi-lhe que não é porque escrevi algumas besteiras que ela tinha que repeti-las [risos]. Ela ficou magoada, mas seis meses depois, quando foi se despedir, agradeceu-me dizendo que aquilo tinha sido a coisa mais importante que ela aprendera.
Às vezes, leio um pedacinho do que publiquei, porque preciso, mas não vou repetir a minha vida toda a mesma coisa. Apenas quando terminamos um livro é que sabemos o que queríamos escrever. Mas não devemos refazer o livro, o qual assim nunca acabaria. Devemos continuar o itinerário e escrever outro livro. Por isso é que disse que se escreve em primeiro lu-gar para si mesmo.
Livros dos outros eu tenho pouquíssimo tempo para ler. Trouxe da França muitos livros que gostaria de ler, pensando "Vou me aposentar". E ainda não os li nem me aposentei. Além do mais, quando é um livro sobre educação, digo: "Hoje, não. Estou cansado." Há uma piada de que gosto. O Papa entra no quarto do hotel e vê um crucifixo. Ele chama o funcionário e diz: "Tira isso. Me lembra o escritório" [risos]. Como falo de educação o tempo todo, prefiro ler romances. Entrei na literatura brasileira e portuguesa, o que é um prazer. Já estudei inglês, espanhol, russo, árabe, mas é a primeira vez na minha vida que domino bem uma segunda língua e curto o prazer de ler romances em português. E às vezes em espanhol.
Quer dizer que você não se sente mais um estrangeiro nos trópicos?
Não, já não sou um estrangeiro nos trópicos... Não leio sistematicamente livros sobre educação. Leio-os quando tenho que tratar de um tema particular. Então, sim, mergulho nos livros com um verdadeiro prazer, porque não é uma obrigação profissional. Preciso entender uma coisa e, portanto, preciso dos livros. Leio-os sabendo o que estou procurando. É leitura como vida e não como obrigação. Aliás, essa prática condiz com as minhas referências epistemológicas, em especial com a minha referência preferida, Bachelard, que escreveu "Toute connaissance est réponse à une question" (O conhecimento é sempre resposta a uma questão).
Diga algum pensador contemporâneo que para você seja importante, por trazer uma abordagem interessante, instigante.
Não é uma pergunta de resposta fácil... Se tivesse mesmo que escolher, diria Michel de Certeau. É um grande autor, que escreveu coisas fundamentais sobre a invenção do cotidiano, as artes de fazer, a diferença entre as estratégias da classe média - que domina o tempo e os recursos - e as táticas das classes populares - que praticam uma bricolagem conforme as oportunidades do momento. É um autor fundamental para se livrar dessa praga que constitui a noção de "carência". Há autores importantes que pouco estudei, como Wittgenstein e Habermas; não precisei deles para pensar o que tentei pensar, mas sei o suficiente para perceber a sua importância. E há os autores com quem penso, às vezes contra quem penso. Bourdieu, um grande pensador que nos permitiu entender que o inimigo está dentro da nossa cabeça, prendendo-nos no exato momento em que temos a ilusão de escolher com toda liberdade. Foucault, que evidenciou os micropoderes que tecem o nosso cotidiano. Lacan, de quem já falei. Os sociólogos Goffman e Becker, que evidenciaram que o desvio, a transgressão, o estigma são relações, antes de características de um ato ou um indivíduo. Snyders, que insistiu a sua vida toda na importância da questão do saber. Na área da epistemologia, Bachelard e seu herdeiro intelectual, Canguilhem, que orientou a minha primeira pesquisa - de tal modo que, de certa forma, sou neto de Bachelard... E os pais fundadores. Marx, em especial o Marx filósofo dos Manuscritos de 1844. E o marxista francês Lucien Sève, que introduziu a questão do sujeito no debate marxista. Aquele grande marxista perseguido pelo marxismo oficial que foi Vygotsky - e seu herdeiro Leontiev. E Freud, claro. Dá muita gente para responder a uma pergunta sobre "algum pensador contemporâneo"... Mas não sou homem de uma corrente, assim como não o era Michel de Certeau.
Qual é a sua pesquisa atual e quais são os projetos para o futuro?
Estou tentando sobreviver, pulando de um tema para outro: agora, sou um verdadeiro professor universitário brasileiro [risos]. Fico de olho na questão da globalização e publiquei textos acerca dela por motivos tanto políticos quanto científicos. Mas a minha atual pesquisa de campo investiga as relações com os saberes, com um duplo plural. Há uma questão básica: para uma criança, qual o sentido de aprender, quer na escola, quer fora? Essa é a questão da relação com o saber, no singular. Mas filosofia, história, matemática, física, inglês, educação física etc. são matérias escolares bem diferentes e cada uma tem a sua normatividade interna. Por exemplo, em matemática, um símbolo não pode ter dois significados. Essa não é uma insuportável normatização imposta pela burguesia, mas sim uma norma sem a qual não há mais atividade matemática possível. A poesia, pelo contrário, caracteriza-se pela ambiguidade. Gostaria de entender as relações dos alunos com esses campos diferentes de saberes ou de cultura.
Estamos desenvolvendo uma pesquisa de campo sobre esse tema, na UFS, no Grupo EDUCON, fundado e liderado por minha esposa, Veleida Anahí da Silva. Constituímos um grupo de pesquisa sobre as relações com os saberes, com 12 subgrupos, mais de 70 pesquisadores (12 doutores em várias disciplinas, mestrandos, graduandos, professores do ensino básico). É uma pesquisa calma, sem pressa, começada há quase dois anos e que precisará provavelmente de mais dois anos. Que eu saiba, essa questão ainda não foi pesquisada de forma sistemática e interdisciplinar como estamos fazendo. Uma questão nova merece tempo. Ademais, esse grupo constitui um ótimo lugar de formação dos jovens para a pesquisa. De formação "concreta": construímos juntos um questionário, ensinei o que é uma análise longitudinal, como categorizar etc. Mostrando e fazendo com eles. Para quem quisesse, ensinei até como utilizar Excel, em vez de perder horas calculando percentuais. A pesquisa é, antes de tudo, uma aprendizagem, um artesanato. E não uma aula sobre historicismo, fenomenologia, marxismo e estruturalismo - é útil saber o que é, mas isso não é formação para a pesquisa.
Em um ano e meio, já coletamos mais de 3.000 questionários com questões abertas. Não temos nenhum financiamento, o que significa que tenho tempo para pesquisar em vez de perder tempo fazendo relatório para o CNPq [risos]. Também não atraímos os caçadores de bolsas: nessa pesquisa, não se pode ganhar nada, apenas formação e prazer. Não quero agredir ninguém, sei por experiência que não é nada fácil ser professor universitário no Brasil, mas um problema fundamental da pesquisa educacional brasileira é que, muitas vezes, ela é feita por bolsistas, que não têm formação, com orientadores que não têm tempo para cuidar deles. Depois o professor arruma mais ou menos, mas ele tem pouco contato direto com os dados, não mergulha nos detalhes, aqueles detalhes que, muitas vezes, são fontes de ideias novas. Qual é o código a ser aplicado a essa resposta? É esse ou outro? É o que chamo de trabalhar "no porão da pesquisa". E acho que o orientador de uma pesquisa ampla como a nossa deve participar, de uma forma ou de outra, dessas microdecisões aparentemente técnicas, mas que, de fato, são essenciais na coleta e análise dos dados.
Quanto ao meu projeto para o futuro, é simples: continuar vivendo, pesquisando, publicando.
Bernard Charlot
Núcleo de Pós-Graduação em Ensino
de Ciências e Matemática - UFSe
Av. Marechal Rondon, s/n
49100-000 - São Cristóvão - SE
e-mail: bernard.charlot@terra.com.br
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
14 Jun 2010 -
Data do Fascículo
Abr 2010