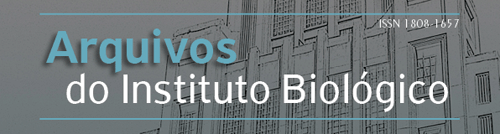Resumos
A leptospirose em pequenos ruminantes é uma doença que pode causar perdas econômicas devido à ocorrência de abortamentos, natimortalidade e diminuição da produção de leite. A infecção pode se apresentar nas formas aguda, crônica e inaparente. Na forma aguda, pode ocorrer anorexia, depressão, dificuldade respiratória, febre, hemoglobinemia e hemoglobinúria. Na forma crônica, abortamentos e natimortalidade são comuns. Vários inquéritos sorológicos recentes conduzidos no Brasil apontaram frequências de soropositividade variando de 3,4 a 31,3% em caprinos, e de 0,7 a 34,6% em ovinos. Os sorovares reatores mais frequentes foram Autumnalis, Grippotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae e Pyrogenes. O teste de soroaglutinação microscópica é o método mais empregado para o diagnóstico da infecção. O controle da leptospirose em pequenos ruminantes é baseado na identificação de fontes de infecção, controle de roedores, controle da aquisição de animais e imunização sistemática com vacinas inativadas que contenham sorovares de leptospiras regionais.
Leptospira spp.; pequenos ruminantes; epidemiologia; controle; prevenção
Leptospirosis in small ruminants is a disease that can lead to economic losses due to the occurrence of abortions, stillbirths and decreased milk production. The infection can be presented in acute, chronic and inapparent forms. In the acute infection, anorexia, depression, difficulty breathing, fever, hemoglobinemia and hemoglobinuria can occur. In the chronic form, abortions and stillbirths are common. Several recent serological surveys conducted in Brazil revealed frequencies of seropositivity ranging from 3.4 to 31.3% in goats, and from 0.7 to 34.6% in sheep. Most frequent reactions were obtained with the serovars Autumnalis, Grippotyphosa, Hardjo, Icterohaemorrhagiae and Pyrogenes. The microscopic agglutination test is the most used method to diagnose the infection. The control of leptospirosis in small ruminants is based on the identification of sources of infection, rodent control, control in animal purchasing and systematic immunization with inactivated vaccines that contain regional serovars of leptospires.
Leptospira spp.; small ruminants; epidemiology; control; prevention
Agente etiológico
O agente etiológico da leptospirose pertence à ordem Spirochaetales, família Leptospiraceae e gênero Leptospira. Até 1988, esse gênero era dividido em duas espécies: Leptospira interrogans, que compreendia as estirpes patogênicas, e Leptospira biflexa, que englobava as cepas saprófitas do ambiente (LEVETT, 2001LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v.14, n.2, p.296-326, 2001.). Essa divisão baseava-se em critérios relacionados ao crescimento das bactérias em diferentes condições de cultivo (QUINN et al., 1994QUINN, P.J.; CARTER, M.E.; MARKEY, B.; CARTER, G.R. Clinical veterinary microbiology. Virginia: Wolfe, 1994. 648p.). Com base na variabilidade de antígenos presentes no envelope externo das leptospiras constituídos por lipopolissacarídeos, sua identificação foi possível pelas características fenotípicas (sorológicas) e de virulência, o que possibilitou a classificação em sorogrupos e sorovares. Estima-se a existência de aproximadamente 300 sorovares de leptospiras distribuídos em 25 sorogrupos (AHMED et al., 2006AHMED, N., DEVI, S.M.; VALVERDE, M., VIJAYACHARI, P., MACHANGU, R.S.; ELLIS, W.A.; HARTSKEERL, R.A. Multilocus Sequence Typing method for identification and genotypic classification of pathogenic Leptospira species. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, v.5, n.28, p.28, 2006 (DOI:10.1186/1476-0711-5-28).).
Com o advento das técnicas moleculares e a análise da homologia do DNA, as leptospiras foram reclassificadas em 19 genomespécies, não correspondendo mais às duas espécies anteriores, já que os sorovares patogênicos e não patogênicos podem ocorrer dentro de uma mesma espécie (SOTO et al., 2007SOTO, F.R.M.; VASCONCELLOS, S.A.; PINHEIRO, S.R.; BERNARSI, F.; CAMARGO, S.R. Leptospirose Suína. Arquivos do Instituto Biológico, v.74, n.4, p.379-395, 2007.). Dessa forma, atualmente, existem 13 espécies patogênicas: L. alexanderi, L. alstonii, L. borgpetersenii, L. inadai, L. Interrogans (senso estrito), L. fainei, L. kirschneri, L. licerasiae, L. noguchi, L. santarosai, L. terpstrae, L. weilii e L. wolffi, com mais de 260 sorovares. As espécies saprófitas incluem L. biflexa (senso estrito), L. meyeri, L. yanagawae, L. kmetyi, L. vanthielii e L. wolbachii, com mais de 60 sorovares (ADLER; MOCTEZUMA, 2010ADLER, B.; MOCTEZUMA, A.P. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010.).
As leptospiras são bactérias espiraladas, muito delgadas (0,1 µm de diâmetro) e comprimento variando de 6 a 20 µm, tendo uma ou as duas extremidades em forma de gancho. São aeróbicas estritas, de multiplicação e crescimento lentos, com divisão celular em torno de 7 a 12 horas. Uma cultura em meio líquido leva de cinco a sete dias para atingir o nível de crescimento necessário para ser utilizada como antígeno (HAAKE, 2000HAAKE, D.A. Spirochaetal lipoproteins and pathogenesis. Microbiology, v.146, p.1491-1504, 2000.). Devido ao seu diâmetro, só podem ser visualizadas em preparações a fresco, por microscopia de campo escuro ou contraste de fase. Não são tingidas pelos corantes à base de anilinas, apresentando afinidade pelos corantes à base de sais de prata (LEVETT, 2001LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v.14, n.2, p.296-326, 2001.).
As leptospiras são bastante sensíveis à luz solar direta, aos desinfetantes comuns e aos antissépticos. O período de sobrevida das leptospiras patogênicas na água varia segundo a temperatura, o pH, a salinidade e o grau de poluição. Sua multiplicação é ótima em pH compreendido entre 7,2 e 7,4. Já foi constatada, por meio de ensaios experimentais, a persistência de leptospiras viáveis em água por até 180 dias (LANGONI, 1999LANGONI, L. Leptospirose: aspectos de saúde animal e de saúde pública. Revista de Educação Continuada do CRMV - SP, v.2, n.1, p.52-58, 1999.). No meio ambiente, sobrevivem bem em terrenos úmidos, pântanos, córregos, lagos e estábulos com excesso de umidade. São muito sensíveis ao pH ácido e à dessecação (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.).
Inquéritos sorológicos da leptospirose em caprinos e ovinos no Brasil
CARVALHO (2012)CARVALHO, S.M. Avaliação das alterações em rim, fígado e pulmões de ovinos infectados por leptospiras. 74f. Tese (Doutorado) Programa de pós-graduação em Ciência Animal, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2012. examinou 379 ovinos originários de 37 rebanhos do estado do Maranhão e encontrou 31,93% reagentes positivos para a leptospirose. Os sorovares reatores predominantes foram: Grippotyphosa (66,94%), associação Hardjo/Wollfi (9,09%), Bratislava (9,09%), Hardjo (4,96%), Icterohaemorrhagiae (4,96%), Pomona (2,48%), Castellonis (1,65%) e Copenhageni (0,83%).
HIGINO et al. (2012a)HIGINO, S.S.S.; ALVES, C.J.; SANTOS, C.S.A.B.; VASCONCELLOS, S.A.; SILVA, M.L.C.R.; BRASIL, A.W.L.; PIMENTA, C.L.R.M.; AZEVEDO, S.S. Prevalência de leptospirose em caprinos leiteiros do semiárido paraibano. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.3, p.199-203, 2012a.examinaram 975 caprinos de 110 propriedades localizadas na região do Cariri, estado da Paraíba. Foram encontrados 98 animais positivos (8,7%; IC95% = 5,7% - 12,9%). Os sorovares predominantes foram: Autumnalis (1,74%), Sentot (1,71%), Whitcombi (1,39%), Andamana (1,31%), Patoc (1,29%), Butembo (0,53%), Castellonis (0,05%), Bratislava (0,04%) e Pyrogenes (0,03%).
SANTOS et al. (2012)SANTOS, P.J.; LIMA-RIBEIRO, A.M.C.; OLIVEIRA, P.R.; SANTOS, M.P.; JUNIOR, A.F.; MEDEIROS, A.A. TAVARES, T.C.F. Seroprevalence and risk factors for Leptospirosis in goats in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. Tropical Animal Health and Production, v.44, p.101-106, 2012.examinaram 230 caprinos oriundos de 11 propriedades localizadas no estado de Minas Gerais e encontraram 31,3% de animais reatores positivos. Os sorovares reatores foram: Autumnalis (30,3%), Tarassovi (19,2%), Pyrogenes (13,13%) e Icterohaemorrhagiae (11,1%).
ALVES et al. (2012)ALVES, C.J.; ALCINDO, J.F.; FARIAS, A.E.M.; HIGINO, S.S.S.; SANTOS, F.A.; AZEVEDO, S.S.; COSTA, D.F.; SANTOS, C.S.A.B. Caracterização epidemiológica e fatores de risco associados à leptospirose em ovinos deslanados do semiárido brasileiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.6, p.523-528, 2012.examinaram 1.275 ovinos procedentes de 117 rebanhos em 19 municípios da mesorregião do Sertão do estado da Paraíba e encontraram 5,41% de animais soropositivos. Os sorovares reatores foram Autumnalis (49,30%), Andamana (27,53%), Sentot (17,39%), Whitcombi (4,34%) e Australis (1,44%).
ARAÚJO NETO et al.(2010)ARAÚJO NETO, J.O.; ALVES, C.J.; AZEVEDO, S.S.; SILVA, M.L.C.R.; BATISTA, C.S.A. Soroprevalência da leptospirose em caprinos da microrregião do Seridó Oriental, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, e pesquisa de fatores de risco. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.47, n.2, 2010., em levantamento soroepidemiológico da leptospirose em caprinos do estado do Rio Grande do Norte, examinaram 366 cabras em idade reprodutiva de 12 rebanhos. Foram encontrados 53 animais positivos para pelo menos um sorovar de Leptospira spp., resultando na frequência de reatores de 14,5% (IC95% 11,0 - 18,5). Os sorovares reatores foram: Autumnalis (73,6%), r Australis (11,3%), Icterohaemorrhagiae (7,5%), Hardjo (3,8%) e Canicola (3,8%).
HIGINO et al. (2010)HIGINO, S S.S.; AZEVEDO, S.S.; ALVES, C.J.; FIGUEIREDO, S.M.; SILVA, M.L.C.R.; BATISTA, C.S.A. Frequência de leptospirose em ovinos abatidos no Muni cípio de Patos, Paraíba. Arquivos do Instituto Biológico, v.77, n.3, p.525-527, 2010.examinaram 80 ovinos oriundos de abatedouro localizado no estado da Paraíba. Seis animais (7,5%) foram soropositivos na SAM, e o sorovar Autumnalis foi o mais frequente (6,25%), seguido pelo Icterohaemorragiae (1,25%)
Lilenbaum et al. (2009) examinaram 248 caprinos e 292 ovinos distribuídos em 20 rebanhos localizados no estado do Rio de Janeiro, e encontraram 52 caprinos (20,9%) e 40 ovinos (13,7%) soropositivos. Em ambas as espécies, os dois sorovares mais comuns foram Hardjo (19 caprinos e 17 ovinos) e Shermani (16 caprinos e 11 ovinos), seguidos de Grippotyphosa (cinco caprinos e quatro ovinos), Autumnalis (três animais de cada espécie), Ballum (dois caprinos e um ovino) e Australis (dois caprinos).
LILENBAUM et al. (2007b)LILENBAUM, W.; SOUZA, G.N.; RISTOW, P.; MOREIRA, M.C.; FRÁGUAS, S.; CARDOSO, V.S.; OELEMANN, W.M.R. A serological study on Brucella abortus, caprine arthritis-encephalitis virus and Leptospira in dairy goats in Rio de Janeiro, Brazil. The Veterinary Journal, v.173, p.408-412, 2007b.analisaram mil caprinos adultos distribuídos em 48 rebanhos localizados no estado do Rio de Janeiro, e encontraram 11,1% (IC95% 8,8 - 13,3) de positividade, sendo que todas as fazendas trabalhadas apresentaram pelo menos um animal positivo. O sorovar Hardjo foi o mais frequente (72,1%), seguido por Wolffi (21,6%), Bratislava (4,5%) e Grippotyphosa (1,8%).
SILVA et al. (2007)SILVA, E.F.; BROD, C.S.; CERQUEIRA, G.M.; BOURSCHEIDT, D.; SEYFFERT, N.; QUEIROZ, A.; SANTOS, C.S.; KO, A.I.; DELLAGOSTIN, O.A. Isolation of Leptospira Noguchii from sheep. Veterinary Microbiology, v.121, p.144-149, 2007.examinaram 44 ovinos abatidos em abatedouro frigorífico localizado no município de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, e encontraram 20,5% de positividade. Os sorovares reagentes foram Autumnalis (4,5%), Bataviae (4,5%), Hardjo (4,5%), Icterohaemorrhagiae (2,3%), Lai (2,3%) e Poi (2,3%).
HERRMANN et al. (2004)HERRMANN, G.P.; LAGE, A.P.; MOREIRA, E.C.; HADDAD, J.P.A.; RESENDE, J.R.; RODRIGUES, R.O; LEITE, R.C. Soroprevalência de aglutininas anti-Leptospira spp. em ovinos nas Mesorregiões Sudeste e Sudoeste do Estado Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v.34, n.2, p.443-448, 2004.avaliaram 1.360 ovinos de 136 fazendas localizadas no estado do Rio Grande do Sul e encontraram 34,26% de animais reagentes. Os sorovares predominantes foram Hardjo (estirpe Hardjobovis) (28,4%), Sentot (16,8%), Hardjo (estirpe Hardjoprajitno) (14,5%), Fortbragg (6,3%), Wolffi (4,7%), Sejroe (2,2%), Pyrogenes (1,8%), Castellonis (1,8%), Australis (1,6%), Pomona (1,6%), Hebdomadis (1,3%), Grippotyphosa (0,7%), Canicola (0,6%), Tarassovi (0,6%), Icterohaemorrhagiae (0,5%), Bratislava (0,3%) e Autumnalis (0,2%).
FÁVERO et al. (2002) examinaram 284 ovinos e 1.941 caprinos de diversos estados brasileiros e encontraram 0,7% de soropositividade em ovinos e 9% em caprinos. Nos ovinos, o sorovar reator mais frequente foi o Icterohaemorrhagiae (40,0%), seguido de Butembo (20%), Castellonis (20%) e Hebdomadis (20%); já nos caprinos, as reações mais frequentes foram obtidas com os sorovares Pyrogenes (21%), Castellonis (15,7%) e Patoc (15,7%).
SCHIMIDT et al. (2002)SCHIMIDT, V.; AROSI, A; SANTOS, A.R. Levantamento sorológico da leptospirose em caprinos leiteiros no Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v.32, n.4, p.609-612, 2002., ao examinarem 354 caprinos leiteiros de 15 municípios do estado do Rio Grande do Sul, encontraram 56 (3,4%) reagentes positivos. Nesta ocasião, as reações sorológicas foram obtidas com os sorovares Icterohaemorrhagiae (2,5%), Hardjo (0,6%) e Pomona (0,3%).
As diferenças observadas nos resultados obtidos nos diversos inquéritos sorológicos da leptospirose efetuados em caprinos e ovinos no Brasil podem ser atribuídas à variedade de fatores que influenciam a ocorrência da doença, tais como as espécies animais (domésticos, selvagens ou sinantrópicos) que possam compartilhar o ecossistema, as práticas de manejo adotadas nos rebanhos, os sorovares utilizados como antígenos na sorologia, as condições climáticas e ambientais e as oportunidades de infecção direta ou indireta (ALVES et al., 2000ALVES, C.J.; ANDRADE, J.S.L.; VASCONCELLOS, S.A.; MORAIS, Z.M.; AZEVEDO, S.S.; SANTOS, F.A. Avaliação dos níveis de aglutininas. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v.7, n.2, p.17-21, 2000.).
Isolamentos de Leptospira spp. em ovinos e caprinos no Brasil
No Brasil, até o presente momento, há um número restrito de investigações que tiveram êxito no isolamento de leptospiras em pequenos ruminantes.
LILENBAUM et al. (2007a)LILENBAUM, W.; MORAIS, Z.M.; GONÇALES, A.P.; SOUZA, G.O.; RICHTZENHAIN, L. VASCONCELLOS, S.A. First isolation of leptospires from dairy goats in Brazil. Brazilian Journal of Microbiology, v.38, p.507-510, 2007a.cultivaram amostras de urina de caprinos clinicamente saudáveis, originários de rebanhos localizados no estado do Rio de Janeiro, e efetuaram o primeiro isolamento de leptospiras em caprinos do pais. As duas estirpes isoladas apresentaram identidade com o sorogrupo Grippotyphosa.
SILVA et al. (2007)SILVA, E.F.; BROD, C.S.; CERQUEIRA, G.M.; BOURSCHEIDT, D.; SEYFFERT, N.; QUEIROZ, A.; SANTOS, C.S.; KO, A.I.; DELLAGOSTIN, O.A. Isolation of Leptospira Noguchii from sheep. Veterinary Microbiology, v.121, p.144-149, 2007.cultivaram amostras de sangue e fragmentos de rim de ovinos de rebanhos localizados no município de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, e isolaram uma estirpe de leptospira identificada como pertencente ao sorogrupo Noguchii, sorovar Autumnalis.
HIGINO et al. (2010)HIGINO, S S.S.; AZEVEDO, S.S.; ALVES, C.J.; FIGUEIREDO, S.M.; SILVA, M.L.C.R.; BATISTA, C.S.A. Frequência de leptospirose em ovinos abatidos no Muni cípio de Patos, Paraíba. Arquivos do Instituto Biológico, v.77, n.3, p.525-527, 2010. isolaram bactérias morfologicamente similares às leptospiras da placenta e ducto deferente de ovinos abatidos no estado da Paraíba, porém, a tipificação de tais isolados não pôde ser efetuada.
Fatores de risco para leptospirose em pequenos ruminantes
O perfil epidemiológico da leptospirose, estreitamente associado à paisagem, aponta para a história natural de uma doença de ocorrência endêmica restrita a focos naturais bem definidos e com picos epidêmicos em circunstâncias que envolvem alterações desordenadas do sistema ecológico. Essas alterações são provocadas pelo homem, que, ao avançar sobre novos ecossistemas, provoca profundas transformações na paisagem natural, permitindo a disseminação das leptospiras a novas áreas e a novos hospedeiros até atingir a população humana (MASCOLLI, 2001MASCOLLI, R.; PINHEIRO, S.R.; VASCONCELLOS, S.A.; FERREIRA, F.; MORAIS, Z.M.; PINTO, C.O.; SUCUPIRA, M.C.A.; DIAS, R.A.; MIRAGLIA, F.; CORTÊZ, A.; COSTA, S.S.; TABATA, R. MARCONDES, A.G. Inquérito sorológico para leptospirose em cães do Município de Santana do Parnaíba, São Paulo, utilizando a campanha de vacinação anti-rábica. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v.69, n.2, p.25-32, 2002.).
A persistência do agente no meio e o elevado potencial de infecção são assegurados por diversos fatores, tais como a diversidade de sorovares, a multiplicidade de espécies hospedeiras que podem albergá-los e o relativo grau de sobrevivência no ambiente sem parasitismo, desde que haja elevado grau de umidade, proteção contra raios solares, temperaturas adequadas (em torno de 20ºC) e valores de potencial hidrogeniônico (pH) neutro ou levemente alcalino, em torno de 7,2 a 7,4. Entretanto, as leptospiras patogênicas não se multiplicam fora do organismo dos hospedeiros (VASCONCELLOS, 1993VASCONCELLOS, S.A. Leptospirose animal. In: III ENCONTRO NACIONAL EM LEPTOSPIROSE, Rio de Janeiro, 1993. p.62-65.).
A doença tem forte significado social, econômico e cultural. O crescimento desordenado dos grandes centros urbanos, assim como as migrações e as deficiências nas condições de saneamento básico, são fatores que contribuem para a difusão da infecção. Além disso, o acúmulo desordenado de lixo promove a expansão da população de roedores, o que levará à disseminação de sua urina pelas enchentes, favorecidas, entre outras coisas, pela obstrução dos cursos d'água e canais e pela impermeabilização das vias públicas (CÔRTES, 1993CÔRTES, J.A. Aspectos epidemiológicos e ecológicos da leptospirose. In: ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL EM LEPTOSPIROSE. Rio de Janeiro, 1993. p.53-57.). Dessa forma, entende-se por que a doença assume grande importância em países subdesenvolvidos, onde são frequentemente encontradas condições precárias de trabalho e moradia que maximizam a oportunidade de transmissão da doença (CORRÊA et al., 1982).
Em pequenos ruminantes, poucos estudos foram conduzidos no Brasil com o objetivo de identificar fatores de risco associados à infecção. ALVES et al. (2012)ALVES, C.J.; ALCINDO, J.F.; FARIAS, A.E.M.; HIGINO, S.S.S.; SANTOS, F.A.; AZEVEDO, S.S.; COSTA, D.F.; SANTOS, C.S.A.B. Caracterização epidemiológica e fatores de risco associados à leptospirose em ovinos deslanados do semiárido brasileiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.6, p.523-528, 2012. examinaram 1.275 ovinos de 117 propriedades localizadas no estado da Paraíba. Neste experimento, verificou-se associação estatística entre o tamanho do rebanho > 48 animais (OR 2,26; IC95% 1,33 - 5,07; p = 0,021) e participação em exposi ções (OR 9,05; IC95% 0,96 - 85,71; p = 0,055). Estes fatores confirmam a assertiva de que as condições de aglomerações de animais favorecem a disseminação de doenças para os sus cetíveis dentro das populações, sendo as chances cada vez maiores na medida em que o número de animais e o tempo de exposição aumentam (THRUSFIELD, 2007THRUSFIELD, M. Veterinary epidemiology, 3. ed. Oxford: Blackwell Science. 2007. 624p).
HIGINO et al. (2012b)HIGINO, S.S.S.; SANTOS, F.A.; COSTA, D.F.; SANTOS, C.S.A.B.; SILVA, M.L.C.R.; ALVES, C.J.; AZEVEDO, S.S. Flock-level risk factors associated with leptospirosis in dairy goats in a semiarid region of Northeastern Brazil. Preventive Veterinary Medicine, v.109, n.1-2, p.158-161, 2012b.efetuaram um inquérito soroepidemiológico em 975 caprinos leiteiros de 110 propriedades da região semiárida do estado da Paraíba, e verificaram a associação entre a presença de roedores e o aumento da prevalência de propriedades com pelo menos um caprino soropositivo para leptospirose (OR 2,78; P = 0,015). De fato, os criatórios onde a presença de roedores não foi relatada apresentaram 35,9% de positividade para leptospirose, enquanto nos rebanhos com roedores a taxa observada foi de 54,3%, indicando que este fator pode ser importante na epidemiologia da leptospirose caprina na região. Também foi verificada associação entre histórico de infertilidade e prevalência de leptospirose (OR 14,74; P = 0,015) em rebanhos nos quais houve relato de infertilidade, apresentando prevalência de 77,8%; rebanhos sem histórico de infertilidade apresentaram prevalência de 40,6%.
SANTOS et al. (2012)SANTOS, P.J.; LIMA-RIBEIRO, A.M.C.; OLIVEIRA, P.R.; SANTOS, M.P.; JUNIOR, A.F.; MEDEIROS, A.A. TAVARES, T.C.F. Seroprevalence and risk factors for Leptospirosis in goats in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. Tropical Animal Health and Production, v.44, p.101-106, 2012.examinaram 230 caprinos de 11 propriedades localizadas no estado de Minas Gerais e verificaram que a idade dos animais foi um fator de risco para leptospirose. O risco relativo associado a este fator foi de 3,1, indicando que os caprinos adultos tiveram três vezes mais chances de adquirir a infecção do que os animais jovens.
SILVA et al. (2012)SILVA, R.C.; COSTA, V.M.; SHIMABUKURO, F.H.; RICHINI-PEREIRA, V.B.; MENOZZI, B.D.; LANGONI, H. Frequency of Leptospira spp. in sheep from Brazilian slaughterhouses and its association with epidemiological variables. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.3, p.194-198, 2012. avaliaram 182 ovinos de rebanhos localizados no estado de São Paulo e observaram que animais da raça Santa Inês apresentaram maior taxa de positividade para a leptospirose do que as outras raças.
RIZZO et al. (2011)RIZZO, H.; GREGORY, L.; BERALDI, F.; CASTRO, V.; MORAES, Z.M.; VASCONCELLOS, S.A. Análise de fator de risco e avalição clínica de ovinos com histórico de distúrbios reprodutivos infectados por leptospiras pertencentes à criatórios do estado de São Paulo. Veterinária e Zootecnia, v.18, n.4, 2011., investigando 294 ovinos com histórico de distúrbios reprodutivos distribuídos em 28 criatórios, localizados no estado de São Paulo, encontraram a existência de associação estatística entre a presença de felídeos e soropositividade para leptospirose (OR 2,15; IC95% 1,14 - 4,06).
LILENBAUM et al. (2008b)LILENBAUM, W.; VARGES, R.; MEDEIROS, L.; CORDEIRO, A.G.; CAVALCANTI, A.; SOUZA, G.N.; RICHTZENHAIN, L.; VASCONCELLOS, S.A. Risk factors associated with leptospirosis in dairy goats under tropical conditions in Brazil. Research in Veterinary Science, v.84, p.14-17, 2008b.examinaram 248 caprinos adultos de 13 propriedades localizadas no estado do Rio de Janeiro e observaram que a baixa frequência de assistência veterinária nas propriedades, pastejo por mais de duas horas por dia e clima tropical foram identificados como fatores de risco para leptospirose.
Patogenia da leptospirose em pequenos ruminantes
As leptospiras penetram basicamente pela pele lesada e pela mucosa (SOTO et al., 2007SOTO, F.R.M.; VASCONCELLOS, S.A.; PINHEIRO, S.R.; BERNARSI, F.; CAMARGO, S.R. Leptospirose Suína. Arquivos do Instituto Biológico, v.74, n.4, p.379-395, 2007.). Após a penetração, as bactérias disseminam-se pela corrente circulatória e tem início o processo de multiplicação no sangue e em diversos órgãos, como fígado, baço e rins. Esta fase é chamada de leptospiremia, que tem duração de quatro a cinco dias, raramente superando os sete dias. Com o progredir da infecção, ocorre a reação imunitária do hospedeiro, que antagoniza o agente e faz com que o mesmo encontre refúgio em algumas áreas do organismo nas quais a imunidade humoral inexiste, ou é verificada em níveis baixos. Tais locais são a câmara anterior do globo ocular, a luz dos túbulos renais, o sistema nervoso central e o aparelho reprodutor. A localização renal caracteriza a fase de leptospirúria, que tem início entre o sétimo e o décimo dia da evolução da doença. Nesta fase, ocorre a formação de complexos imunes e reação inflamatória, o que leva vários órgãos a uma vasculite generalizada, principalmente no fígado, rins, coração, pulmões e sistema reprodutivo (VASCONCELLOS, 1987VASCONCELLOS, S.A. O papel dos reservatórios na manutenção de leptospirose na natureza. Comunicações Científicas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, v.11, p.17-24, 1987.; FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.).
Em casos de leptospirose aguda, as principais alterações macroscópicas incluem graus variáveis de icterícia, hemorragia e anemia, bem como a presença de sangue na urina. Assim como em outros animais, os rins podem estar aumentados e com hemorragias petequiais na superfície. Em infecções crônicas, pode haver a presença de manchas esbranquiçadas na superfície renal em decorrência da infiltração de células inflamatórias, com evidência de atrofia glomerular (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.). Também pode haver manguitos perivasculares e hemorragia no cérebro, assim como vacuolização de células endometriais no útero de ovelhas (MORSE et al., 1957MORSE, E.V.; MORTER, R.L.; LANGHAM, R.F.; LUNDBERG, A. Experimental ovine leptospirosis, Leptospira Pomona infection. Journal of Infectious Diseases, v.101, p.129-136, 1957.; MORSE et al., 1958MORSE, E.V.; LANGHAM, R.F. Experimental leptospirosis. III. Caprine Leptospira Pomona infection. American Journal of Veterinary Research, v.19, p.139-144, 1958.; MARSHALL, 1974MARSHALL, R.B.; BASKERVILLE, A.; HAMBLETON, P.; ADAMS, F.D.J. Benign leptospirosis: the pathology of experimental infections of monkeys with Leptospira interrogans serovars Balcanica and Tarassovi. British Journal of Experimental Pathology, v.61, p.124-131, 1974.; ANDREANI et al., 1983ANDREANI, E.; TOLARI, F.; FARINA, R. Experimental infection in sheep with Leptospira interrogans serotype Hardjo. British Veterinary Journal, v.139, p.165-170, 1983.; ELLIS et al., 1984ELLIS, W.A. Equine leptospirosis. Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. Abteilung I. Originale . Reihe A. p.257-539, 1984.).
CARVALHO (2012)CARVALHO, S.M. Avaliação das alterações em rim, fígado e pulmões de ovinos infectados por leptospiras. 74f. Tese (Doutorado) Programa de pós-graduação em Ciência Animal, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2012. efetuou o exame histopatológico do rim, fígado e pulmão de 42 ovinos originários de rebanhos localizados no estado do Maranhão. Os pulmões apresentaram infiltrado inflamatório e espessamento do septo alveolar, o fígado infiltrado inflamatório focal em intensidade maior nos animais infectados, bem como hiperplasia das células de Kuppfer e dos ductos biliares; os rins apresentaram quadro de nefrite intersticial. Pela técnica de imunohistoquímica, antígenos de Leptospira spp. foram detectados em todos os tecidos examinados, e também foram encontradas leptospiras livres na luz dos túbulos renais.
CARVALHO et al. (2011)CARVALHO, S.M.; GONÇALVES, L.M.F.; MACEDO, N.A.; GOTO, H.; SILVA, S.M.M.S.; MINEIRO, A.L.B.B.; KANASHIRO, E.H.Y.; COSTA, F.A.L. Infecção por leptospiras em ovinos e caracterização da resposta inflamatória renal. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.31, n.8, p.637-642, 2011.examinaram fragmentos de rins de 36 ovinos sororreagentes para leptospirose e de dez não reagentes. Em 33 animais foi observada nefrite intersticial; já em oito animais foram detectadas leptospiras no lúmen dos túbulos proximais dos rins. As lesões glomerulares foram discretas, mas a hipercelularidade e a lobulação do tufo glomerular chamaram a atenção. Devido à presença de macrófagos, linfócitos, plasmócitos e fibrose intersticial, o processo inflamatório renal observado foi classificado como crônico.
Aspectos clínicos da leptospirose em pequenos ruminantes
A infecção de ovinos e caprinos por leptospiras pode manifestar-se nas formas aguda, crônica ou inaparente (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.). Esta última é mais frequente e muito importante do ponto de vista epidemiológico, uma vez que a introdução de animais com infecção inaparente pode garantir a persistência do agente nos rebanhos acometidos (BLENDEN, 1976BLENDEN, D.C. Aspectos epidemiológicos de la leptospirosis. In: REUNION INTERAMERICANA SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS, Guatemala, 1976. p.160-168.; TORTEN, 1979TORTEN, M. Leptospirosis. In: STEELE, J.H.; STOENNER, H.; KAPLAN, W. (Ed.). Handbook series in zoonosis. Seccion A: Bacterial, rickettsial and micotic diseases. Boca Raton: CRC Press. 1979. p.363-421.).
Na forma aguda, após período de incubação de quatro a cinco dias, os animais podem apresentar anorexia, depressão, dificuldade respiratória e febre. Também pode haver hemoglobinemia e hemoglobinúria (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.). Na forma crônica, abortamentos e natimortalidade são considerados como as manifestações mais frequentes (BROOM, 1953BROOM, J.C. Leptospirosis in Tropical Countries: Review. Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, p.273-291, 1953.; DAVIDSON, 1971DAVIDSON, K.R. Leptospira Hardjo infection in men associated with a outbreak in a dairy herd. Australian Veterinary journal, v.47, p.408, 1971.; MCCAUGHAN et al., 1980; ELLIS, et al., 1983ELLIS, W.A.; MCPARLAND, P.J.; BRYSON, D.G.; MALONE, F.E. Possible involvement of leptospirosis in abortion, stillbirths and neonatal deaths in sheep. Veterinary Record, v.112, p.291-293, 1983.; MOTIE, 1986MOTIE, A.; MYER, D.M. Leptospirosis in sheep and goats in Guyana. Tropical Animal Health and Production, v.1, n.8, p.113-114, 1986.; LEON-VIZCAINO, 1987LEON-VIZCAINO, L.; MENDONZA M.H.; GARRIDO F. Incident of abortions caused by leptospirosis in sheep and goats in Spain. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, v.10, p.149-153, 1987.; ELLIS, 1994ELLIS, W.A. Leptospirosis as a cause of reproductive failure. Veterinary Clinics of North America, Food Animal Practice, v.10, p.463-478, 1994.; FAINE et al., 2000FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIM, C. PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis, 2. ed. Australia: MedSci. 2000. 272p.; CICCERONI et al., 2000; MARTINS, 2012MARTINS, G.; BRANDÃO, F.Z.; HAMOND, C.; MEDEIROS, M.; LILENBAUM, W. Diagnosis and control of an outbreak of leptospirosis in goats with reproductive failure. The Veterinary Journal, v.193, p.600-601, 2012.). Em caprinos, também pode haver diminuição da produção de leite e agalactia (MCKEOWN; ELLIS, 1986MCKEOWN, J.D.; ELLIS, W.A. Leptospira Hardjo agalactia in sheep. The Veterinary Record, v.118, n.17, p.482, 1986.).
Na Espanha, no período compreendido entre os anos de 1970 e 1985, LEON-VIZCAINO et al. (1987)LEON-VIZCAINO, L.; MENDONZA M.H.; GARRIDO F. Incident of abortions caused by leptospirosis in sheep and goats in Spain. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, v.10, p.149-153, 1987.investigaram a etiologia de 262 casos de abortamentos registrados em caprinos e 973 em ovinos. As leptospiras foram consideradas como responsáveis por 8 casos de caprinos e 17 em ovinos. O agente foi isolado em 6 dos 25 casos. Quatro isolamentos foram tipificados como sorovar Pomona, e dois como Icterohaemorrhagiae.
Diagnóstico
Devido à grande variedade de sinais clínicos, o diagnóstico da leptospirose pode ser confirmado por diferentes métodos laboratoriais baseados na detecção de anticorpos, ou por métodos que revelam a presença do micro-organismo ou do seu ácido nucleico (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.; LEVETT, 2001LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v.14, n.2, p.296-326, 2001.). Para a solicitação dos exames laboratoriais, é importante considerar que a doença apresenta comportamento bifásico. Na fase inicial, a septicêmica, as leptospiras podem ser encontradas no sangue, líquor e na maioria dos tecidos. Na fase crônica, devido ao aparecimento dos anticorpos séricos, a presença das leptospiras ficará restrita aos locais de privilégio imunológico, e as mesmas passarão a ter como via de eliminação a urina, o sêmen e as secreções vaginais.
A reação de soroaglutinação microscópica (SAM) é o teste sorológico, considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como padrão-ouro para o diagnóstico da leptospirose. Os anticorpos produzidos nos animais infectados são primordialmente dirigidos contra o sorovar específico; entretanto, existem reações cruzadas entre diferentes sorovares e, assim, o animal pode apresentar coaglutinações, com reações simultâneas para dois ou mais sorovares, o que dificulta a identificação do sorovar responsável pela infecção (HAGIWARA, 2003HAGIWARA, M.K. Leptospirose canina. São Paulo: Pfizer Saúde Animal (Boletim Técnico). 2003. 6p.). De fato, a reação de SAM é considerada um procedimento sorogrupo específico (TURNER, 1968)TURNER, L.H. Leptospirosis. II. Serology. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, n.62, p.880-899, 1968. Na coleção de antígenos empregados no teste SAM, é recomendada a inclusão de pelo menos um representante por sorogrupo. Um teste de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) foi desenvolvido para a detecção de anticorpos das classes IgG e IgM em cães (HARTMAN et al., 1984HARTMAN, E.G.; VAN HOUTEN, M.; VAN DER DONK, J.A. Determination of specific anti-leptospiral immunoglobulins M and G in sera of experimentally infected dogs by solid-phase enzyme-linked immunosorbent assay. Veterinary Immunology and Immunopathology, v.7, p.43-51, 1984.). A IgM aumenta uma semana após a infecção, e o título máximo ocorre dentro de 14 dias, com subsequente diminuição.
O diagnóstico etiológico firmado pela demonstração da presença do micro-organismo em tecidos e humores pode ser efetuado durante a primeira semana ou até os primeiros dez dias da infecção (fase aguda). Especialmente de três a sete dias da infecção, as leptospiras podem ser vistas por microscopia de campo escuro em exames diretos de sangue, exudato peritoneal e pleural. As vantagens da observação direta são a rapidez na obtenção de espécimes viáveis e o curto período (três a sete dias pós-infecção) em que provavelmente encontra-se um resultado positivo; por outro lado, a interpretação subjetiva dos resultados é uma desvantagem, visto que coleções de fibrina e proteína em preparações a fresco podem ser confundidas com leptospiras (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.). Em alguns casos, a visualização direta das leptospiras por microscopia de campo escuro ou contraste de fase não é um método recomendado devido ao grande número de artefatos que podem ser confundidos com bactérias, resultando em diagnósticos falso-positivos (LEVETT, 2001LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v.14, n.2, p.296-326, 2001.).
O isolamento bacteriano é o diagnóstico definitivo da doença, porém, apresenta baixa sensibilidade, necessitando de amostras recém-colhidas que devem ser observadas por um período mínimo de 42 dias (SCARCELLI et al., 2004SCARCELLI, E.; PIATTI, R.M.; CARDOSO, M.V. Detecção de agentes bacterianos pelas técnicas de isolamento e identificação e PCR - Multiplex em fetos bovinos abortados. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.28, n.1, p.23-27, 2004.). FAINE et al. (1999)FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p. referiram que isolar leptospiras de animais assintomáticos não é fácil, tanto em decorrência de dificuldades inerentes ao crescimento da bactéria quanto pela possibilidade da contaminação das amostras de urina. Além disso, a excreção de bactérias viáveis pela urina é intermitente e ocorre somente durante um reduzido e incerto período após a contaminação. Estas são razões pelas quais a maioria dos estudos de leptospirose animal tem se apoiado apenas nos métodos sorológicos.
As leptospiras patogênicas causam doença aguda em animais de laboratório suscetível, que podem ser usados para o isolamento primário a partir de materiais clínicos. O hamster (Mesocricetus auratus) é a espécie mais sensível à ação das leptospiras, morrendo aproximadamente quatro dias após a inoculação (ENRIETTI, 2001ENRIETTI, M.A. Contribuição ao conhecimento da incidência de leptospiras em murídeos, caninos e suínos no Paraná. Brazilian Archives of Biology and Technology, p.311-342, 2001.), sendo, dessa forma, a espécie de eleição para o isolamento do micro-organismo (ALVES et al., 1992ALVES, C.J.; VASCONCELLOS, S.A.; CAMARGO, C.R.A.; MACEDO, N.A.; MORAIS, Z.M.; NÜRMBERGER JÚNIOR, R.; PINHEIRO, S.R.; FERREIRA NETO, J.S. Influência da estimulação inespecífica com o BCG sobre a susceptibilidade do hamster à infecção experimental por Leptospira interrogans sorotipo Pomona. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.29, n.2, p.193-199, 1992.; OLIVA et al., 1994OLIVA, R.; INFANTE, J.F.; GONZALEZ, M.; PEREZ, V.; SIFONTES, S.; MARRERO, O.; VALDES, Y.; FARIÑAS, M.; ESTEVEZ, L.; GONZALEZ, I. Pathologic-clinical characterization of Leptospirosis in a Golden Syrian Hamster Model. Archives of Medical Research, v.25, n.2, p.165-170, 1994.). A inoculação pela via intraperitonial é a mais eficiente para o estabelecimento e para a evolução de infecções experimentais pelos variados sorovares de leptospiras patogênicas para estes animais (MACEDO et al., 2004MACEDO, N.A.; MORAIS, Z.M.; CAMARGO, C.R.A.; ALVES, C.J.; AZEVEDO, S.S.; NÜRMBERGER JÚNIOR, R.; VASCONCELLOS, S.A. Influência da via de inoculação sobre o estabelecimento e evolução da leptospirose em hamsters (Mesocricetus auratus) experimentalmente infectados com Leptospira interrogans sorovar Pomona. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.41, n.2, 2004.).
A detecção do DNA de Leptospira spp. pela reação em cadeia da polimerase (PCR) tem sido de grande utilidade e requer a seleção de primers específicos que permitam a amplificação de todas as espécies classificadas como patogênicas ou potencialmente patogênicas. A técnica permite amplificar quantidades mínimas de DNA do micro-organismo em diversos tipos de amostras biológicas, tais como soro, líquido cerebroespinhal, urina, fezes e tecidos (BAL et al., 1994BAL, A.E.; GRAVEKAMP, C.; HARTSKEERL, R.A.; MEZA, B.J.; KURVER, H.; TERPSTRA, W.J. Detection of Leptospirosis in urine by PCR for early diagnosis of leptospirosis. Journal of Clinical Microbiology, v.32, n.8, p.1894-1898, 1994.). A PCR também é uma técnica alternativa para a identificação de leptospiras em materiais de difícil isolamento, tais como o sêmen nas centrais de inseminação artificial (GOTTI, 2006GOTTI, T.B. Avaliação de três protocolos de associações antibióticas na qualidade do sêmen bovino quanto ao seu efeito sobre a microbiota autóctone e na destruição da Leptospira spp. sorovares Hardjo (estirpes Hardjoprajitno e Hardjobovis) e Wolffi (estirpe 3705). 88f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.). Tendo em vista a dificuldade do isolamento, seu risco biológico e o longo período necessário para sua realização, a PCR tem se tornado um importante instrumento para o diagnóstico da leptospirose, bem como para diferenciar leptospiras saprófitas das patogênicas (KOSITANONT, 2007KOSITANONT, U.; RUGSASUK, S.; LEELAPORN, A.; PHULSUKSOMBATI, D.; TANTITANAWAT, S.; NAIGOWIT, P. Detection and differentiation between pathogenic and saprophytic Leptospira spp. by multiplex polymerase chain reaction. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v.57, p.117-122, 2007.). Contudo, a reação de PCR não permite a caracterização do sorovar de leptospira presente no material examinado, pois é um teste gênero específico (Richtzenhain).
LILENBAUM et al. (2008a)LILENBAUM, W.; VARGES, R.; BRANDÃO, F.Z.; CORTEZ, A.; SOUZA, S.O.; BRANDÃO, P.E.; RICHTZENHAIN, L.J.; VASCONCELLOS, S.A. Detection of Leptospira spp. in semen and vaginal fluids of goats and sheep by polymerase chain reaction. Theriogenology, v.69, p.837-842, 2008a.ressaltaram a importância do emprego da técnica de PCR para o diagnóstico da leptospirose em caprinos e ovinos, lembrando que a mesma pode ser aplicada inclusive quando os micro-organismos já se encontram lisados, sem condições de serem isolados pelos métodos de cultivo. LILENBAUM et al. (2009)LILENBAUM, W.; VARGES, R,; RISTOW, P.; CORTEZ, A.; SOUZA, S.O.; RICHTZENHAIN, L.J.; VASCONCELLOS, S.A. Identification of Leptospira spp. carriers among seroreactive goats and sheep by polymerase chain reaction. Research in Veterinary Science, v.87, p.16-19, 2009.recomendaram o uso da soroaglutinação microscópica como teste de rotina, seguido da PCR de urina para a detecção direta do DNA de leptospiras, sendo esta metodologia adequada para a identificação de caprinos e ovinos portadores. Referiram ainda que esses dois métodos podem ser utilizados como valiosos instrumentos aplicados ao controle da leptospirose em pequenos ruminantes.
Controle e profilaxia
As medidas de controle destinadas a limitar a ocorrência da leptospirose são ações integradas, aplicadas aos pontos críticos da cadeia de transmissão da zoonose, e incluem: diagnóstico e tratamento das fontes de infecção representadas por animais de produção e companhia; combate aos reservatórios sinantrópicos; drenagem das áreas alagadiças; higiene das instalações e equipamentos; controle da inseminação artificial; e vacinação dos suscetíveis de modo a garantir um elevado nível de imunidade nos rebanhos (BADKE, 2001BADKE, M.R.T. Leptospirose. In: Encontros Técnicos Abraves; Concórdia: ABRAVES; p. 1-4, 2001.).
O trânsito de animais pode ser uma forma importante de introdução e de dispersão da leptospirose nos rebanhos. Assim, uma importante medida de controle é o bloqueio da introdução de animais portadores da bactéria nos rebanho, entretanto, em função de algumas características epidemiológicas da doença em caprinos e ovinos, essa tarefa torna-se bastante difícil. As medidas gerais, como limpeza do ambiente, são importantes para reduzir as chances de contaminação dos animais (HAGIWARA, 2003HAGIWARA, M.K. Leptospirose canina. São Paulo: Pfizer Saúde Animal (Boletim Técnico). 2003. 6p.). Quando não se conhece a condição sorológica dos animais, estes devem ser mantidos em quarentena por quatro semanas e testados antes de serem introduzidos no rebanho.
As bacterinas antileptospirose estão disponibilizadas no comércio com indicação para bovídeos, suínos e cães. Contudo, ainda é muito limitada a informação disponível sobre o seu emprego nos pequenos ruminantes. Nas espécies animais em que se tem maior experiência com o emprego da imunoprofilaxia, tem sido observado que, de acordo com as características da vacina (concentração antigênica, estirpe de leptospira utilizada na produção, tipo de adjuvante e condições empregadas na inativação), a bacterina pode proteger os animais vacinados contra a doença, mas não contra a infecção. Animais vacinados, se infectados, poderão se tornar portadores de leptospiras, eliminando o agente pela urina, sêmen ou corrimentos vaginais (BEY; JOHNSON, 1983BEY, R.F.; JOHNSON, R.C. Leptospiral vaccines: immunogenicity of protein free medium cultivated whole cell bacterins in swine. American Journal Veterinary Research, v.12, n.44, p.2299-2301, 1983.).
Portanto, o controle da leptospirose em caprinos e ovinos envolve a aplicação das seguintes medidas: identificação de fontes de infecção, controle de roedores, controle na aquisição de animais e imunização sistemática com vacinas inativadas que contenham sorovares de leptospiras regionais (FAINE et al., 1999FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.). O uso combinado da SAM como teste de triagem e posterior exame da urina por PCR pode ser estratégia adequada para a identificação de animais portadores (CARDOSO et al., 2008CARDOSO, M.V.; LARA, M.C.C.S.H.; CHIEBAO, D.; GABRIEL, F.H.L.; VILLALOBOS, E.M.C.; PAULIN, L.M. Determinação da condição sanitária de rebanhos caprinos e ovinos na região sudoeste do Estado de São Paulo, Brasil. In: 35º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA; 2008. Gramado, RS. Gramado: CONBRAVET, 2008. Disponível em: http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R0611-2.pdf. Acesso em 30 de out. 2012.
Disponível em: http://www.sovergs.com.br...
).
REFERÊNCIAS
- ADLER, B.; MOCTEZUMA, A.P. Leptospira and leptospirosis. Veterinary Microbiology, Amsterdam, v.140, n.3-4, p.287-296, 2010.
- AHMED, N., DEVI, S.M.; VALVERDE, M., VIJAYACHARI, P., MACHANGU, R.S.; ELLIS, W.A.; HARTSKEERL, R.A. Multilocus Sequence Typing method for identification and genotypic classification of pathogenic Leptospira species. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, v.5, n.28, p.28, 2006 (DOI:10.1186/1476-0711-5-28).
- ALVES, C.J.; ALCINDO, J.F.; FARIAS, A.E.M.; HIGINO, S.S.S.; SANTOS, F.A.; AZEVEDO, S.S.; COSTA, D.F.; SANTOS, C.S.A.B. Caracterização epidemiológica e fatores de risco associados à leptospirose em ovinos deslanados do semiárido brasileiro. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.6, p.523-528, 2012.
- ALVES, C.J.; ANDRADE, J.S.L.; VASCONCELLOS, S.A.; MORAIS, Z.M.; AZEVEDO, S.S.; SANTOS, F.A. Avaliação dos níveis de aglutininas. Revista Brasileira de Ciência Veterinária, v.7, n.2, p.17-21, 2000.
- ALVES, C.J.; VASCONCELLOS, S.A.; CAMARGO, C.R.A.; MORAIS, Z.M. Influência dos fatores ambientais sobre a proporção de caprinos soro-reatores para a leptospirose em cinco centros de criação do Estado da Paraíba, Brasil. Arquivos do Instituto Biológico, v.63, n.2, p.11-18, 1996.
- ALVES, C.J.; VASCONCELLOS, S.A.; CAMARGO, C.R.A.; MACEDO, N.A.; MORAIS, Z.M.; NÜRMBERGER JÚNIOR, R.; PINHEIRO, S.R.; FERREIRA NETO, J.S. Influência da estimulação inespecífica com o BCG sobre a susceptibilidade do hamster à infecção experimental por Leptospira interrogans sorotipo Pomona. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.29, n.2, p.193-199, 1992.
- ANDREANI, E.; TOLARI, F.; FARINA, R. Experimental infection in sheep with Leptospira interrogans serotype Hardjo. British Veterinary Journal, v.139, p.165-170, 1983.
- ARAÚJO NETO, J.O.; ALVES, C.J.; AZEVEDO, S.S.; SILVA, M.L.C.R.; BATISTA, C.S.A. Soroprevalência da leptospirose em caprinos da microrregião do Seridó Oriental, Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, e pesquisa de fatores de risco. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.47, n.2, 2010.
- BADKE, M.R.T. Leptospirose. In: Encontros Técnicos Abraves; Concórdia: ABRAVES; p. 1-4, 2001.
- BAL, A.E.; GRAVEKAMP, C.; HARTSKEERL, R.A.; MEZA, B.J.; KURVER, H.; TERPSTRA, W.J. Detection of Leptospirosis in urine by PCR for early diagnosis of leptospirosis. Journal of Clinical Microbiology, v.32, n.8, p.1894-1898, 1994.
- BEY, R.F.; JOHNSON, R.C. Leptospiral vaccines: immunogenicity of protein free medium cultivated whole cell bacterins in swine. American Journal Veterinary Research, v.12, n.44, p.2299-2301, 1983.
- BLENDEN, D.C. Aspectos epidemiológicos de la leptospirosis. In: REUNION INTERAMERICANA SOBRE EL CONTROL DE LA FIEBRE AFTOSA Y OTRAS ZOONOSIS, Guatemala, 1976. p.160-168.
- BROOM, J.C. Leptospirosis in Tropical Countries: Review. Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, p.273-291, 1953.
- CARDOSO, M.V.; LARA, M.C.C.S.H.; CHIEBAO, D.; GABRIEL, F.H.L.; VILLALOBOS, E.M.C.; PAULIN, L.M. Determinação da condição sanitária de rebanhos caprinos e ovinos na região sudoeste do Estado de São Paulo, Brasil. In: 35º CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA VETERINÁRIA; 2008. Gramado, RS. Gramado: CONBRAVET, 2008. Disponível em: http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R0611-2.pdf. Acesso em 30 de out. 2012.
» Disponível em: http://www.sovergs.com.br/conbravet2008/anais/cd/resumos/R0611-2.pdf - CARVALHO, S.M. Avaliação das alterações em rim, fígado e pulmões de ovinos infectados por leptospiras. 74f. Tese (Doutorado) Programa de pós-graduação em Ciência Animal, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 2012.
- CARVALHO, S.M.; GONÇALVES, L.M.F.; MACEDO, N.A.; GOTO, H.; SILVA, S.M.M.S.; MINEIRO, A.L.B.B.; KANASHIRO, E.H.Y.; COSTA, F.A.L. Infecção por leptospiras em ovinos e caracterização da resposta inflamatória renal. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.31, n.8, p.637-642, 2011.
- CICERONI, L., LOMBARDO, D., PINTO, A., CIARROCCHI, S.; SIMEONI, J. Prevalence of antibodies to Leptospira serovars in sheep and goats in Alto Adige-South Tyrol. Journal of Veterinary Medicine, v.47, n.5, p.217-223, 2000.
- CORREA, M.O.A.; VERONESI, R.; BRITO, T.; HYAKUTAKE, S.; SANTA ROSA, C.A.; EDELWEISS, E.L. Leptospiroses. In: VERONESI, R. (Ed.) Doenças infecciosas e parasitárias. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1982. p.573-589.
- CÔRTES, J.A. Aspectos epidemiológicos e ecológicos da leptospirose. In: ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL EM LEPTOSPIROSE. Rio de Janeiro, 1993. p.53-57.
- DAVIDSON, K.R. Leptospira Hardjo infection in men associated with a outbreak in a dairy herd. Australian Veterinary journal, v.47, p.408, 1971.
- ELLIS, W.A. Leptospirosis as a cause of reproductive failure. Veterinary Clinics of North America, Food Animal Practice, v.10, p.463-478, 1994.
- ELLIS, W.A. Equine leptospirosis. Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene. Abteilung I. Originale . Reihe A. p.257-539, 1984.
- ELLIS, W.A.; MCPARLAND, P.J.; BRYSON, D.G.; MALONE, F.E. Possible involvement of leptospirosis in abortion, stillbirths and neonatal deaths in sheep. Veterinary Record, v.112, p.291-293, 1983.
- ENRIETTI, M.A. Contribuição ao conhecimento da incidência de leptospiras em murídeos, caninos e suínos no Paraná. Brazilian Archives of Biology and Technology, p.311-342, 2001.
- FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIM, C. PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis, 2. ed. Australia: MedSci. 2000. 272p.
- FAINE, S.; ADLER, B.; BOLIN, C.; PEROLAT, P. Leptospira and leptospirosis. 2. ed. Melbourne: MediSci. 1999. 272p.
- GOTTI, T.B. Avaliação de três protocolos de associações antibióticas na qualidade do sêmen bovino quanto ao seu efeito sobre a microbiota autóctone e na destruição da Leptospira spp. sorovares Hardjo (estirpes Hardjoprajitno e Hardjobovis) e Wolffi (estirpe 3705). 88f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2006.
- HAAKE, D.A. Spirochaetal lipoproteins and pathogenesis. Microbiology, v.146, p.1491-1504, 2000.
- HAGIWARA, M.K. Leptospirose canina. São Paulo: Pfizer Saúde Animal (Boletim Técnico). 2003. 6p.
- HARTMAN, E.G.; VAN HOUTEN, M.; VAN DER DONK, J.A. Determination of specific anti-leptospiral immunoglobulins M and G in sera of experimentally infected dogs by solid-phase enzyme-linked immunosorbent assay. Veterinary Immunology and Immunopathology, v.7, p.43-51, 1984.
- HERRMANN, G.P.; LAGE, A.P.; MOREIRA, E.C.; HADDAD, J.P.A.; RESENDE, J.R.; RODRIGUES, R.O; LEITE, R.C. Soroprevalência de aglutininas anti-Leptospira spp. em ovinos nas Mesorregiões Sudeste e Sudoeste do Estado Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v.34, n.2, p.443-448, 2004.
- HIGINO, S.S.S.; ALVES, C.J.; SANTOS, C.S.A.B.; VASCONCELLOS, S.A.; SILVA, M.L.C.R.; BRASIL, A.W.L.; PIMENTA, C.L.R.M.; AZEVEDO, S.S. Prevalência de leptospirose em caprinos leiteiros do semiárido paraibano. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.3, p.199-203, 2012a.
- HIGINO, S.S.S.; SANTOS, F.A.; COSTA, D.F.; SANTOS, C.S.A.B.; SILVA, M.L.C.R.; ALVES, C.J.; AZEVEDO, S.S. Flock-level risk factors associated with leptospirosis in dairy goats in a semiarid region of Northeastern Brazil. Preventive Veterinary Medicine, v.109, n.1-2, p.158-161, 2012b.
- HIGINO, S S.S.; AZEVEDO, S.S.; ALVES, C.J.; FIGUEIREDO, S.M.; SILVA, M.L.C.R.; BATISTA, C.S.A. Frequência de leptospirose em ovinos abatidos no Muni cípio de Patos, Paraíba. Arquivos do Instituto Biológico, v.77, n.3, p.525-527, 2010.
- KOSITANONT, U.; RUGSASUK, S.; LEELAPORN, A.; PHULSUKSOMBATI, D.; TANTITANAWAT, S.; NAIGOWIT, P. Detection and differentiation between pathogenic and saprophytic Leptospira spp. by multiplex polymerase chain reaction. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, v.57, p.117-122, 2007.
- LANGONI, L. Leptospirose: aspectos de saúde animal e de saúde pública. Revista de Educação Continuada do CRMV - SP, v.2, n.1, p.52-58, 1999.
- LEON-VIZCAINO, L.; MENDONZA M.H.; GARRIDO F. Incident of abortions caused by leptospirosis in sheep and goats in Spain. Comparative Immunology, Microbiology & Infectious Diseases, v.10, p.149-153, 1987.
- LEVETT, P.N. Leptospirosis. Clinical Microbiology Reviews, v.14, n.2, p.296-326, 2001.
- LILENBAUM, W.; VARGES, R.; BRANDÃO, F.Z.; CORTEZ, A.; SOUZA, S.O.; BRANDÃO, P.E.; RICHTZENHAIN, L.J.; VASCONCELLOS, S.A. Detection of Leptospira spp. in semen and vaginal fluids of goats and sheep by polymerase chain reaction. Theriogenology, v.69, p.837-842, 2008a.
- LILENBAUM, W.; VARGES, R.; MEDEIROS, L.; CORDEIRO, A.G.; CAVALCANTI, A.; SOUZA, G.N.; RICHTZENHAIN, L.; VASCONCELLOS, S.A. Risk factors associated with leptospirosis in dairy goats under tropical conditions in Brazil. Research in Veterinary Science, v.84, p.14-17, 2008b.
- LILENBAUM, W.; MORAIS, Z.M.; GONÇALES, A.P.; SOUZA, G.O.; RICHTZENHAIN, L. VASCONCELLOS, S.A. First isolation of leptospires from dairy goats in Brazil. Brazilian Journal of Microbiology, v.38, p.507-510, 2007a.
- LILENBAUM, W.; SOUZA, G.N.; RISTOW, P.; MOREIRA, M.C.; FRÁGUAS, S.; CARDOSO, V.S.; OELEMANN, W.M.R. A serological study on Brucella abortus, caprine arthritis-encephalitis virus and Leptospira in dairy goats in Rio de Janeiro, Brazil. The Veterinary Journal, v.173, p.408-412, 2007b.
- LILENBAUM, W.; VARGES, R,; RISTOW, P.; CORTEZ, A.; SOUZA, S.O.; RICHTZENHAIN, L.J.; VASCONCELLOS, S.A. Identification of Leptospira spp. carriers among seroreactive goats and sheep by polymerase chain reaction. Research in Veterinary Science, v.87, p.16-19, 2009.
- MACEDO, N.A.; MORAIS, Z.M.; CAMARGO, C.R.A.; ALVES, C.J.; AZEVEDO, S.S.; NÜRMBERGER JÚNIOR, R.; VASCONCELLOS, S.A. Influência da via de inoculação sobre o estabelecimento e evolução da leptospirose em hamsters (Mesocricetus auratus) experimentalmente infectados com Leptospira interrogans sorovar Pomona. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v.41, n.2, 2004.
- MARSHALL, R.B.; BASKERVILLE, A.; HAMBLETON, P.; ADAMS, F.D.J. Benign leptospirosis: the pathology of experimental infections of monkeys with Leptospira interrogans serovars Balcanica and Tarassovi. British Journal of Experimental Pathology, v.61, p.124-131, 1974.
- MARTINS, G.; BRANDÃO, F.Z.; HAMOND, C.; MEDEIROS, M.; LILENBAUM, W. Diagnosis and control of an outbreak of leptospirosis in goats with reproductive failure. The Veterinary Journal, v.193, p.600-601, 2012.
- MASCOLLI, R.; PINHEIRO, S.R.; VASCONCELLOS, S.A.; FERREIRA, F.; MORAIS, Z.M.; PINTO, C.O.; SUCUPIRA, M.C.A.; DIAS, R.A.; MIRAGLIA, F.; CORTÊZ, A.; COSTA, S.S.; TABATA, R. MARCONDES, A.G. Inquérito sorológico para leptospirose em cães do Município de Santana do Parnaíba, São Paulo, utilizando a campanha de vacinação anti-rábica. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v.69, n.2, p.25-32, 2002.
- McCAUGHAN, C.J.; GORDON, L.M.; RAHALEY, R.S.; SLEE, K.J.; PRESIDENTE, P.J.A. Evidence for infection of sheep in victoria with Leptospires of the Hebdomadis serogroup. Australian Veterinary Journal, v.56, p.201-202, 1980.
- MCKEOWN, J.D.; ELLIS, W.A. Leptospira Hardjo agalactia in sheep. The Veterinary Record, v.118, n.17, p.482, 1986.
- MORSE, E.V.; LANGHAM, R.F. Experimental leptospirosis. III. Caprine Leptospira Pomona infection. American Journal of Veterinary Research, v.19, p.139-144, 1958.
- MORSE, E.V.; MORTER, R.L.; LANGHAM, R.F.; LUNDBERG, A. Experimental ovine leptospirosis, Leptospira Pomona infection. Journal of Infectious Diseases, v.101, p.129-136, 1957.
- MOTIE, A.; MYER, D.M. Leptospirosis in sheep and goats in Guyana. Tropical Animal Health and Production, v.1, n.8, p.113-114, 1986.
- OLIVA, R.; INFANTE, J.F.; GONZALEZ, M.; PEREZ, V.; SIFONTES, S.; MARRERO, O.; VALDES, Y.; FARIÑAS, M.; ESTEVEZ, L.; GONZALEZ, I. Pathologic-clinical characterization of Leptospirosis in a Golden Syrian Hamster Model. Archives of Medical Research, v.25, n.2, p.165-170, 1994.
- QUINN, P.J.; CARTER, M.E.; MARKEY, B.; CARTER, G.R. Clinical veterinary microbiology. Virginia: Wolfe, 1994. 648p.
- RIZZO, H.; GREGORY, L.; BERALDI, F.; CASTRO, V.; MORAES, Z.M.; VASCONCELLOS, S.A. Análise de fator de risco e avalição clínica de ovinos com histórico de distúrbios reprodutivos infectados por leptospiras pertencentes à criatórios do estado de São Paulo. Veterinária e Zootecnia, v.18, n.4, 2011.
- SANTOS, P.J.; LIMA-RIBEIRO, A.M.C.; OLIVEIRA, P.R.; SANTOS, M.P.; JUNIOR, A.F.; MEDEIROS, A.A. TAVARES, T.C.F. Seroprevalence and risk factors for Leptospirosis in goats in Uberlândia, Minas Gerais, Brazil. Tropical Animal Health and Production, v.44, p.101-106, 2012.
- SCARCELLI, E.; PIATTI, R.M.; CARDOSO, M.V. Detecção de agentes bacterianos pelas técnicas de isolamento e identificação e PCR - Multiplex em fetos bovinos abortados. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.28, n.1, p.23-27, 2004.
- SCHIMIDT, V.; AROSI, A; SANTOS, A.R. Levantamento sorológico da leptospirose em caprinos leiteiros no Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, v.32, n.4, p.609-612, 2002.
- SILVA, E.F.; BROD, C.S.; CERQUEIRA, G.M.; BOURSCHEIDT, D.; SEYFFERT, N.; QUEIROZ, A.; SANTOS, C.S.; KO, A.I.; DELLAGOSTIN, O.A. Isolation of Leptospira Noguchii from sheep. Veterinary Microbiology, v.121, p.144-149, 2007.
- SILVA, R.C.; COSTA, V.M.; SHIMABUKURO, F.H.; RICHINI-PEREIRA, V.B.; MENOZZI, B.D.; LANGONI, H. Frequency of Leptospira spp. in sheep from Brazilian slaughterhouses and its association with epidemiological variables. Pesquisa Veterinária Brasileira, v.32, n.3, p.194-198, 2012.
- SOTO, F.R.M.; VASCONCELLOS, S.A.; PINHEIRO, S.R.; BERNARSI, F.; CAMARGO, S.R. Leptospirose Suína. Arquivos do Instituto Biológico, v.74, n.4, p.379-395, 2007.
- THRUSFIELD, M. Veterinary epidemiology, 3. ed. Oxford: Blackwell Science. 2007. 624p
- TURNER, L.H. Leptospirosis. II. Serology. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, n.62, p.880-899, 1968.
- TORTEN, M. Leptospirosis. In: STEELE, J.H.; STOENNER, H.; KAPLAN, W. (Ed.). Handbook series in zoonosis. Seccion A: Bacterial, rickettsial and micotic diseases. Boca Raton: CRC Press. 1979. p.363-421.
- VASCONCELLOS, S.A. Leptospirose animal. In: III ENCONTRO NACIONAL EM LEPTOSPIROSE, Rio de Janeiro, 1993. p.62-65.
- VASCONCELLOS, S.A. O papel dos reservatórios na manutenção de leptospirose na natureza. Comunicações Científicas da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, v.11, p.17-24, 1987.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jan-Mar 2014
Histórico
-
Recebido
12 Nov 2012 -
Aceito
16 Dez 2013