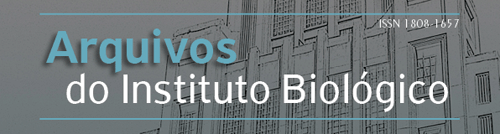Resumos
O presente trabalho foi realizado com o objetivo de elaborar um diagnóstico dos desafios de adequação à questão ambiental em frigorífcos na cidade de São Luís, Maranhão. Para a realização deste estudo foram efetuadas entrevistas e coletas de amostras de efluente líquido em três frigorífcos que abatem bovi-nos, no período de setembro a dezembro de 2012. Foram anali-sadas também as ações empreendidas e a postura da empresa com relação às questões ambientais. Os impactos ambientais do abate de bovinos na cidade de São Luís, Maranhão, envolve uma série de questões, com destaque para o armazenamento e transporte incor-reto dos resíduos sólidos, alta dependência de água, emissão de efluentes em desconformidade com a legislação vigente e libera-ção de odor fétido. A partir das entrevistas foi possível constatar que as principais limitações das empresas para a sustentabilidade ambiental são a não valorização do meio ambiente e a ausência de uma liderança para defesa e difusão dessa questão. Dessa forma, conclui-se que os frigorífcos na cidade de São Luís, Maranhão, não estão preocupados em manter seu processo produtivo sem causar danos ao meio ambiente.
resíduos; efluentes; abate de bovinos; sustentabilidade ambiental
The present study was performed in order to make a diagnosis of the challenges of adapting to environmental issue in cold storages in São Luís, Maranhão, Brazil. For this study, interviews were conducted and samples of liquid effluent were collected from three cold storages that slaughter cattle in the period from September to December 2012. We also evaluate the actions undertaken and the company's position regarding environmental issues. Te environmental impacts of cattle slaughter in São Luís, Maranhão, involve a number of issues, especially the incorrect storage and transportation of solid waste, high dependence on water, wastewater emissions in disagreement with the current legislation and the release of aversive odors. From the interviews, it was possible to notice that the main limitations of the company for its environmental sustainability are not to value the environment and the lack of a leadership to defense and disseminate this matter. Tus, we conclude that the cold storages in São Luís, Maranhão, are not concerned with keeping their production process without harming the environment.
wastes; effluents; cattle slaughter; environmental sustainability
INTRODUÇÃO
O Brasil, atualmente, possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, ocupa a segunda posição entre os países produtores e assumiu a liderança mundial na quantidade de carne exportada. A pecuária de corte é uma das explorações agropecuárias mais significativas, tanto na geração de recei-tas internas como na pauta de exportação, e ainda incorpora tecnologias que aumentam a produtividade. O rebanho comercial brasileiro possui cerca de 204,7 milhões de cabeças (IBGE, 2011IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011.Efetivo bovino. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ma&tema=censoagro<. Acesso em: 22 dez. 2012.
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.p...
). O país tem a segunda maior produção mundial com cerca de 9,77 milhões de toneladas em equivalente carcaça (ABIEC, 2011ABIEC. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE.Perfil da pecuária brasileira, 2011. São Paulo: ABIEC, 201 1. Disponível em: <http://www.abiec.com.br/download/fluxo_por.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2012.
http://www.abiec.com.br/download/fluxo_p...
). O que comprova o potencial brasileiro como fabricante de produtos como couro e carne bovina (Araújo et al., 2007ARAÚJO, G.C.; BUENO, M.P.; MENDONÇA, P.S.M. A sustentabilidade em frigoríficos: discussão de um estudo de caso. In: XLV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIEDADE RURAL, 2007, Londrina, PR.Resumos. Londrina: 2007. p.1-15.).
Atualmente, o Maranhão apresenta o segundo maior contingente de bovinos da região Nordeste, com 6.885.265 animais (IBGE, 2011IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011.Efetivo bovino. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ma&tema=censoagro<. Acesso em: 22 dez. 2012.
http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.p...
). E o cenário maranhense vem apre-sentando mudanças significativas, pois a especialização da produção tem alterado o perfil da pecuária bovina de corte local, passando de atividade de cria e recria para uma pecuá-ria de cria, recria, engorda, abate e processamento no próprio estado, na qual a adoção de novas tecnologias é fundamental para a competitividade do setor. O Maranhão, com a atual clas-sifcação de livre de febre aftosa com vacinação, caracteriza-se como um estado de grande potencial pecuário, não somente para criação de rebanhos bovinos, mas também para a indus-trialização de seus produtos (processamento de carnes e deri-vados, couro, leite, etc.).
O segmento industrial da cadeia produtiva de carne bovina compreende dois setores distintos, o produtivo e o de abate. As empresas que normalmente atuam no abate de animais são os abatedouros e os frigorífcos com processamento e industriali-zação de carnes (Morales, 2006MORALES, M.M. Avaliação dos resíduos sólidos e líquidos num sistema de abate de bovinos. 2006. 84p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2006.). O abate de bovinos, assim como de outras espécies animais, é realizado para a obtenção de carne e de seus derivados destinados ao consumo humano (Pacheco; Yamanaka, 2008PACHECO, J.W.; YAMANAKA, H.T.Guia técnico ambiental de abate (bovino e suíno). São Paulo: CETESB, 2008. 95p.).
A indústria de abate e processamento de carnes participa de forma relevante na atividade econômica brasileira, no tocante ao volume de produção e exportações e à capacidade de geração de empregos (cerca de 500 mil empregos diretos) (Sarda et al., 2009SARDA, S.E.; RUIZ, R.C.; KIRTSCHIG, G. Tutela jurídica da saúde dos empregados de frigorífcos: considerações dos serviços públicos.Acta Fisiátrica, v.16, n.2, p.59-65, 2009.). Entretanto, a consequência do surgimento de um número crescente de abatedouros e frigorífcos é o aumento da quantidade e complexidade dos resíduos gerados e lança-dos no ambiente por esses estabelecimentos (Nieto, 2000NIETO, R. Caracterização ecotoxicológica de efluentes líquidos industriais: ferramenta para ações de controle da poluição das águas. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2000, Porto Alegre.Anais. Porto Alegre: 2000. Disponível em: <http://www.abes-dn.org.br.htm>. Acesso em: 23 dez. 2012.
http://www.abes-dn.org.br.htm...
).
Do abate de bovinos resultam grandes quantidades de resíduos líquidos, semissólidos e sólidos, como couros, san-gue, ossos, gorduras, aparas de carne, vísceras, animais ou suas partes condenadas pela inspeção sanitária, entre outros, que são poluentes e, por isso, necessitam de uma adequada separa-ção e tratamento, antes de serem lançados no meio ambiente (Fernandes, 2004FERNANDES, M.A.Avaliação de desempenho de um frigorifico avícola quanto aos princípios da produção sustentável. 2004. 120p. Dissertação (Mestrado em Administração) -Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.).
Os resíduos de abatedouros e frigorífcos são preocupantes por possuírem altos valores de demanda bioquímica de oxigê-nio (DBO) oscilando de 800 a 32.000 mg/L (Braile, 1993BRAILE, P.M.Manual de tratamento de águas residuárias industriais. São Paulo: CETESB, 1993. 764p.). Devido à constituição dos sólidos, com presença de gorduras e proteínas, apesar de ambas serem biodegradáveis, são dotadas de alta putrescibilidade, com início de decomposição em pou-cas horas, liberando odor fétido, o que torna extremamente desagradável a atmosfera na circunvizinha de tais estabeleci-mentos (Prata, 1999PRATA, L.F.Manual de inspeção higiênico-sanitária e tecnologia de carnes, pescado e derivados. Jaboticabal: FUNEP, 1999. 217 p.; Pacheco, 2006PACHECO, J.W.Guia técnico ambiental de frigorífcos: industrialização de carnes (bovina e suína). São Paulo: CETESB, 2006. 88p.).
Associado a isso, em frigorífcos o alto consumo de água acarreta grandes volumes de efluentes, considerando que 80 a 95% da água consumida são descarregadas como efluente líquido. Esses efluentes caracterizam-se principalmente por: alta carga orgânica, devido à presença de sangue, gordura, esterco, conteúdo estomacal não digerido e conteúdo intestinal; futua-ções de potencial hidrogeniônico (pH) em função do uso de agentes de limpeza ácidos e básicos; altos conteúdos de nitro-gênio, fósforo e sal e futuações de temperatura — uso de água quente e fria (Pacheco; Yamanaka, 2008PACHECO, J.W.; YAMANAKA, H.T.Guia técnico ambiental de abate (bovino e suíno). São Paulo: CETESB, 2008. 95p.).
Indiscutivelmente, o efluente de frigorífcos é responsável por uma imagem negativa do público em relação a esses esta-belecimentos e as autoridades sanitárias veem nele o grande poluidor dos mananciais das águas de abastecimento (Morales, 2006MORALES, M.M. Avaliação dos resíduos sólidos e líquidos num sistema de abate de bovinos. 2006. 84p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2006.; Silva, 2011SILVA, A.N. Manejo de resíduos sólidos industriais: frigorífco de Araguaína – TO. 2011. 58p. Trabalho de Graduação (Graduação em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de Brasília, Palmas, 2011.).
Em inúmeros frigorífcos não estão disponíveis sistemas adequados de disposição dos resíduos gerados, desencadeando sérios problemas ecológicos e episódios com graves consequên-cias para a saúde pública (Nieto, 2000NIETO, R. Caracterização ecotoxicológica de efluentes líquidos industriais: ferramenta para ações de controle da poluição das águas. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2000, Porto Alegre.Anais. Porto Alegre: 2000. Disponível em: <http://www.abes-dn.org.br.htm>. Acesso em: 23 dez. 2012.
http://www.abes-dn.org.br.htm...
). Diferente de outras indústrias em que a certifcação ambiental pela norma ISO 14000 (ABNT, 2004ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.Resíduos sólidos: classifcação. NBR 10004. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 71p.) é comum, apresentando um número considerável de empresas certificadas, para o setor de processa-mento de carne a quantidade é incipiente (Fernandes, 2004FERNANDES, M.A.Avaliação de desempenho de um frigorifico avícola quanto aos princípios da produção sustentável. 2004. 120p. Dissertação (Mestrado em Administração) -Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.).
O ciclo produtivo da sociedade capitalista extrai do meio ambiente os insumos necessários para a produção de alimen-tos e bens de consumo, entretanto, o processo produtivo retorna resíduos e emite poluentes em grandes quantidades, acarretando poluição e esgotamento dos recursos naturais. A finitude dos recursos naturais e os impactos negativos dos resíduos das indústrias, apontados por Severo et al. (2006)SEVERO, L.S.; DELGADO, N.A.; PEDROZO, E.Á. A emergência de “inovações sustentáveis": questão de opção e percepção. In: SIMPOSIO DEADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 9, 2006, São Paulo, SP.Anais. São Paulo: 2006., resultaram em um processo de desenvolvimento econômico sem preocupação com a natureza e com a qualidade de vida.
As empresas procuram resultados financeiros, ampliação de fatias de mercado, sobrevivência e manutenção de sua com-petitividade. A globalização da economia e o acirramento da competição mundial elevam a escala de produção, com a consequente busca da redução dos custos. Entretanto, Ribeiro (2006)RIBEIRO, G.Os homens que não copiavam. Adiante: Inovação para Sustentabilidade. São Paulo: FGV-CES, n.4, 2006. afirmou que o processo de incorporação da sustentabi-lidade empresarial é, em grande parte, influenciado e estimu-lado pelas pressões da sociedade civil ou por perdas associadas às questões econômicas. O grande desafio que surge é provar que os investimentos nessa área são sinônimos de empreen-dimentos mais produtivos, que adaptam a força de trabalho, catalisam o aumento da oferta de energias renováveis, utilizam tecnologias limpas e trazem retornos financeiros.
Diante da problemática relacionada aos estabelecimen-tos de abate, do nítido crescimento dessa atividade e da sua importância econômica, social e ambiental associados ao pio-neirismo deste trabalho na cidade de São Luís, Maranhão, é que se realizou esta pesquisa com o objetivo de elaborar um diagnóstico dos desafios de adequação à questão ambiental em frigorífcos na cidade de São Luís, Maranhão.
MATERIAL E MÉTODOS
Local do estudo
O presente estudo possui um desenho descritivo com uma abordagem quantitativa e qualitativa. O universo da pesquisa foi composto por três frigorífcos sob Serviço de Inspeção Municipal localizados no distrito industrial da cidade de São Luís, Maranhão.
Os três estabelecimentos são responsáveis conjunta-mente pelo abate de aproximadamente 10.400 animais/mês oriundos de todo o estado do Maranhão e de outros estados, como Pará. O abastecimento de feiras, mercados e super-mercados é realizado em 90% por esses estabelecimentos, sendo uma importante atividade econômica para a cidade de São Luís, Maranhão.
Coleta de dados
A coleta de dados foi realizada no período de setembro a dezembro de 2012, com a aplicação de questionários com-postos por perguntas abertas, aplicados intencionalmente a três funcionários (supervisor da área de manutenção, téc-nico da estação de tratamento de efluentes e responsável técnico pelo frigorífco), mediante a assinatura do Termo de Conhecimento Livre e Esclarecido. A escolha desses fun-cionários justifica-se pelo fato de atuarem e conhecerem o processo produtivo da empresa.
Resíduos sólidos: cabeças, pés, vísceras e carcaças conde-nadas, ossos, peles, gorduras, borra do flotador e resíduos dos currais oriundos da lavagem;
Resíduos líquidos: sangue, água oriunda da higienização da planta frigorífca e água oriunda da toalete das carca-ças e vísceras;
Destinos dos resíduos: locais de armazenamento até o momento de seu processamento;
Quantidades de resíduos sólidos e líquidos provenientes do processo de abate de bovinos;
Legislação: instrumento que regula a prevenção, o controle e a responsabilização dos agentes poluentes.
Coleta de efluente líquido
Em cada frigorífco foram coletadas duas amostras de efluente líquido da estação de tratamento (lagoa facultativa), em tri-plicata, com intervalo bimestral entre as coletas, no período de setembro a dezembro de 2012, pela manhã. No momento das coletas foram aferidas as temperaturas da água e do ar, e avaliadas a presença de sólidos suspensos e a vazão máxima.
A metodologia de coleta seguiu as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1988ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.Preparo de amostras para exame microbiológico. NBR 10203. Rio de Janeiro: ABNT, 1988. 3p.). As análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Solos da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e no Laboratório de Patologia Clínica LTDA, laboratório particular da cidade de São Luís, Maranhão.
As análises foram procedidas de acordo com as técnicas recomendadas pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater da America Water Works Association (Apha, 1995APHA. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION.Standard methods for the examination of water and wastewater. 19th. ed. Washington: APHA, 1995. 48p.), e foram avaliados os seguintes parâmetros: pH, DBO, demanda química de oxigênio (DQO), fosfato, óleos e graxas, sólidos suspensos, sólidos totais, sólidos dissolvidos, sólidos sedimentáveis, sulfito, nitrito e nitrato. Os resultados foram interpretados com base na Resolução n° 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (Brasil, 2011BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução N° 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.Diário Oficial da União, Brasília, 2011. 8p.).
Georreferenciamento dos dados
Para o georreferenciamento dos dados foi utilizado aparelho GPS5 modelo Garmin® para tomada de coordenadas geográ-fcas dos frigorífcos e da fábrica de subprodutos. Dessa forma, cada endereço foi localizado em um ponto no espaço. Para a confecção do mapa temático foi utilizado o programa GPS TrackMaker®v. 13,0.
Análise estatística
Para verificar se existiam diferenças significativas ao nível de 5% entre os frigorífcos estudados em relação à produção de resí-duos sólidos e líquidos foram realizadas a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey e a análise de correlação utilizando o sofware STATISTICA 5.1 (Statsoft, Inc, 1998) segundo os critérios propostos por Arango (2001)ARANGO, H.G.Bioestatística teórica e computacional: com bancos de dados reais em disco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 236p..
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Da análise dos questionários aplicados aos funcionários dos frigorífcos encarregados dos destinos finais dos dejetos do abate de bovinos foram identificados os seguintes tipos de resíduos com fins comerciais: unhas, cabeças, restos de ossos e peles, restos de carcaças e vísceras condenadas, gorduras e esterco. Os tipos sem fins comerciais identificados foram sangue e efluente líquido. Dessa forma, os resíduos gerados no processo de abate de bovi-nos na cidade de São Luís, Maranhão, geralmente são aqueles que possuem pouca ou nenhuma finalidade industrial.
A Tabela 1 apresenta os tipos de resíduos sólidos deriva-dos do abate de bovinos nos frigorífcos estudados, bem como a sua quantidade média mensal gerada.
Tipo e quantidade de resíduos sólidos gerados em frigorífcos que abatem bovinos na cidade de São Luís, Maranhão, 2012.
Em relação à avaliação estatística fundamentada na análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey, verificaram-se que não existiam diferenças significativas (p > 0,05) entre os frigorífcos quanto à produção de resí-duos sólidos. Apesar da diferença no número de animais abatidos entre as empresas (frigorífico A: 100 animais aba-tidos/mês; frigorífico B: 120 animais abatidos/mês; frigo-rífco C: 180 animais abatidos/mês), isso não resultou em uma diferença estatística significativa na produção desse tipo de resíduo. Logo, as preocupações com o adequado destino dos resíduos sólidos devem ser as mesmas em todos os frigorífcos avaliados.
Os resíduos sólidos — como cabeças, restos de ossos e peles, restos de carcaças e vísceras condenadas e gorduras — são destinados à fábrica de subprodutos, para terem posterior utilidade comercial na forma de farinhas. Esses resíduos são armazenados nos frigorífcos por 6 a 8 horas pós-abate e pos-teriormente transportados em caminhões abertos sem prote-ção para a fábrica de subprodutos terceirizada, localizada em outro município vizinho, com distância não inferior a 25 km (Fig. 1). Nesse percurso e no interior dos frigorífcos é comum a presença desses resíduos espelhados pelo chão, com emissão de odor fétido, o que demonstra prática incorreta de armaze-namento e transporte. A comercialização dos resíduos entre frigorífcos e fábrica de subprodutos ocorre apenas porque nenhum dos estabelecimentos dispõe de uma graxaria para processamento destes produtos e, o comércio (frigorífco X fábrica de subprodutos) se estabelece a preços baixos.
Distribuição espacial dos frigorífcos que abatem bovinos na cidade de São Luís, Maranhão, e distância desses em relação à fábrica de subprodutos, 2012.
O Brasil tem intensificado sua política de participação no Mercado Comum Europeu com exportação de carne de aves, bovinos e suínos. Dentre as restrições identifica-das, percebe-se a exigência dos países importadores da não inclusão de matéria-prima animal na composição da ração, em razão de problemas de ordem sanitária, como é o caso da encefalopatia espongiforme bovina (EEB) e febre aftosa. Assim, as empresas deverão encontrar alternativas, bus-cando mercados consumidores para a carne brasileira, bem como mercados alternativos que reaproveitem os subprodu-tos das criações comerciais (Campestrini, 2005CAMPESTRINI, E. Farinha de carne e ossos.Revista Eletrônica Nutritime, v.2, n.4, p.221-234, 2005.; Padilha et al., 2006PADILHA, A.C.M.; SILVA, T.N.; SAMPAIO, A. Desafios de adequação à questão ambiental no abate de frangos: o caso da perdigão agroindustrial – unidade industrial de Serafina Corrêa – RS.Teoria e Evidência Econômica, v.14, edição especial, p.109-125, 2006.; Diehl et al., 2011DIEHL, G.N.; ROSSATO, N.A.; KOHEK JÚNIOR, I.; DOMINGUES, R.D.; SOUZA, G.E.Fiscalização de alimentos de ruminantes em propriedades rurais no Rio Grande do Sul como medida para prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina - EEB. Rio Grande do Sul: Departamento de Defesa Agropecuária, 2011. 4p. (Informativo Técnico n.11, ano 2). Disponível em: < http://www.dda.agricultura.rs.gov.br/ajax/download.php?qArquivo=20130225111514prevencao_da_encefalite_espongiforme_ bovina.pdf.>. Acesso em: 25 set. 2014.
http://www.dda.agricultura.rs.gov.br/aja...
).
Os outros resíduos sólidos, como as unhas, são arma-zenados em salas anexas ao setor de miúdos, nos frigoríf-cos, conservadas em cal virgem (óxido de cálcio) e mantidas por 40 a 60 dias nesses locais, em condições insalubres que propiciam a proliferação de insetos e animais sinantrópicos, comercializadas com terceiros e encaminhadas para outros estados da federação. Já o esterco e os conteúdos estomacal e intestinal não digerido são armazenados próximo aos currais e ali permanecem até sua comercialização, por tempo variável. É comum a presença de moscas, que podem veicular patóge-nos aos animais, às carcaças e aos equipamentos e utensílios utilizados no abate.
Os tipos de resíduos líquidos derivados do abate de bovinos nos frigorífcos estudados e sua quantidade média mensal gerada estão discriminados na Tabela 2. Para o abate de bovinos, nos frigorífcos, grande quantidade de água é utilizada.
Tipo e quantidade de resíduos líquidos gerados em frigorífcos que abatem bovinos na cidade de São Luís, Maranhão, 2012.
No frigorífco B, esses resíduos são removidos em cami-nhão pipa, com capacidade para 15 mil litros, e encaminhados à estação de tratamento, localizada a uma distância mínima de 7 km da empresa. Diariamente esse caminhão realiza de duas a quatro viagens para o transporte de todo o resíduo líquido gerado. Para os outros frigorífcos, os resíduos são imediata-mente destinados à estação de tratamento, localizada no interior das indústrias.
Em relação à avaliação estatística fundamentada na análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey, verificaram-se que existiam diferenças significativas (p > 0,05) entre os fri-gorífcos quanto à produção de resíduos líquidos.
Para verificar se existia alguma relação entre a quantidade de resíduos líquidos gerados e a quantidade de animais abatidos nos frigorífcos, realizou-se a análise de correlação entre a quan-tidade de resíduos e a quantidade de animais abatidos. O coefi-ciente de correlação (R) encontrado foi de 0,60; indicando que existe uma correlação moderada entre essas variáveis, ou seja, quanto maior o volume de abate, maior será a quantidade de resíduos líquidos gerados e lançados no meio ambiente. Logo, o frigorífco C, pelo maior número de animais abatidos, tam-bém é o que mais produz e lança resíduos líquidos no ambiente.
Todo e qualquer resíduo sólido, semissólido ou líquido lançado no meio ambiente é regido por leis ambientais con-troladas por órgãos governamentais e que devem obedecer a padrões de emissão, controlados por meio de análises periódi-cas e fiscalizações constantes (Padilha et al., 2006PADILHA, A.C.M.; SILVA, T.N.; SAMPAIO, A. Desafios de adequação à questão ambiental no abate de frangos: o caso da perdigão agroindustrial – unidade industrial de Serafina Corrêa – RS.Teoria e Evidência Econômica, v.14, edição especial, p.109-125, 2006.). No caso da cidade de São Luís, Maranhão, os órgãos fiscalizadores ambientais são a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), ambas responsáveis pelo monitoramento e fiscaliza-ção das leis que regem os processos relacionados com emissão de cargas poluentes ao meio ambiente.
Outro fator que merece destaque na discussão da gestão ambiental no abate de bovinos é a legislação específca que fis-caliza a atividade. Os órgãos ambientais estaduais e municipais, na cidade de São Luís, têm atuado pouco na fiscalização das condições de funcionamento das indústrias e de suas estações de tratamento de efluentes. O resultado dessa fiscalização inci-piente é demonstrado na Tabela 3, que discrimina os resultados das análises físico-químicas das amostras de efluente líquido das estações de tratamento dos frigorífcos avaliados, com exceção do frigorífco C, que não permitiu a coleta do efluente.
Resultados físico-químicos de amostras de efluentes líquidos de frigorífcos que abatem bovinos na cidade de São Luís, Maranhão.
Os resíduos líquidos são destinados para a “estação de tra-tamento de efluentes" dos frigorífcos e devolvidos ao corpo receptor sem tratamento, lançados diretamente no meio ambiente, próximos a residências e em manguezais. Em um dos frigorífcos não existe nenhum tipo de impermeabiliza-ção das lagoas, o que favorece a infiltração dos efluentes com possibilidades de contaminação do lençol freático.
Em apenas um frigorífco há a nítida separação ou segre-gação inicial dos efluentes líquidos em duas linhas principais: a linha “verde", que recebe principalmente os efluentes gerados na recepção dos animais, nos currais, na condução para o abate/“seringa", nas áreas de lavagem dos caminhões, na bucharia e na triparia; e linha “vermelha", cujos contribuin-tes principais são os efluentes gerados no abate, no processa-mento da carne e das vísceras.
As indústrias precisam estar atentas à legislação a que estão sujeitas para evitar não somente as multas mas, sobre-tudo, a associação da sua imagem à degradação do meio ambiente numa sociedade cada vez mais sensível às questões ambientais. O fato é que a questão ambiental é permanente hoje, e as empresas de qualquer ramo de atividade têm de se adaptar à nova realidade e transformá-la em oportunidade (Padilha et al., 2006PADILHA, A.C.M.; SILVA, T.N.; SAMPAIO, A. Desafios de adequação à questão ambiental no abate de frangos: o caso da perdigão agroindustrial – unidade industrial de Serafina Corrêa – RS.Teoria e Evidência Econômica, v.14, edição especial, p.109-125, 2006.).
Com base nas condições de lançamento de efluentes por parte dos frigorífcos, esses atendem à Resolução n° 430 do CONAMA (Brasil, 2011BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução N° 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.Diário Oficial da União, Brasília, 2011. 8p.) nos seguintes parâmetros: pH, temperatura da água, sólidos sedimentáveis, óleos e graxas. E estão em desconformidade com a referida resolução nos parâ-metros: sólidos suspensos, DBO e vazão máxima.
Fragmentos de carne, de gorduras e de vísceras foram os sólidos suspensos visualizados nos efluentes de todos os fri-gorífcos avaliados. Esses resíduos conferem odor fétido aos efluentes e geram uma imagem negativa na população em relação aos frigorífcos. Esses, por sua vez, não controlam o regime de lançamento dos efluentes e não sabem informar a vazão máxima nas lagoas ao longo dos meses.
A alta concentração de DBO pode ocasionar graves proble-mas ambientais. Como a DBO corresponde à alta quantidade de matéria orgânica no meio, para sua total decomposição há o uso do oxigênio dissolvido na água, caso a matéria orgânica seja muito abundante, a decomposição pode ser anaeróbia, tendo como resultado substâncias que podem degradar a qualidade da água. Os produtos mais comuns envolvidos na degradação anaeróbia são gás carbônico, metano, amônia, ácidos graxos, mercaptanas, fenóis e aminoácidos. A total depleção do oxi-gênio dissolvido ocasiona a morte da biota aquática depen-dente do oxigênio e eutrofização do corpo d'água (Pereira, 2004;PEREIRA, R.S. Identificação e caracterização das fontes de poluição em sistemas hídricos.Revista Eletrônica de Recursos Hídricos, v.1, n.1. p.20-26, 2004. Lima et al., 2006LIMA, L.D.; IZARIO FILHO, H.J.; CHAVES, F.J.M. Determinação de demanda bioquímica de oxigênio para teores ≤ 5 mg L-1 O2. Revista Analytica, n.25, p.52-57, 2006.).
Para dimensionar ou controlar os processos de trata-mento do efluente é importante avaliar sua biodegradabi-lidade, relacionando a DBO com a DQO (Pereira, 2004PEREIRA, R.S. Identificação e caracterização das fontes de poluição em sistemas hídricos.Revista Eletrônica de Recursos Hídricos, v.1, n.1. p.20-26, 2004.; Lima et al., 2006LIMA, L.D.; IZARIO FILHO, H.J.; CHAVES, F.J.M. Determinação de demanda bioquímica de oxigênio para teores ≤ 5 mg L-1 O2. Revista Analytica, n.25, p.52-57, 2006.). Para o frigorífco A, no período ava-liado a relação DBO/DQO variou de 0,30 a 0,01. Já para o frigorífco B, no mesmo período, os valores variaram de 0,03 a 0,01; o que classifica os efluentes de ambos os fri-gorífcos como de difícil tratamento biológico ou de difí-cil biodegrabilidade.
Dos funcionários entrevistados, apenas os responsáveis téc-nicos pelos frigorífcos conhecem a importância do tratamento de efluentes e alguma legislação para a produção de resíduos sólidos e líquidos. Todas as empresas possuem Programa de Controle Ambiental (PCA), entretanto, desatualizados, e ape-nas uma possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), também nas mesmas condições.
Foram analisadas também as ações empreendidas e a postura da empresa com relação às questões ambientais. Dessa forma, constatou-se não ser uma preocupação das empresas manter o seu processo produtivo sem cau-sar danos ao meio ambiente. As empresas têm pouca ou nenhuma consciência do que produz em termos de resí-duos; não sendo clara a sua responsabilidade em trabalhar atendendo às normas reguladoras da questão ambiental. Nota-se, ainda, pouco ou nenhum investimento por parte das empresas no sentido de minimizar os danos ambien-tais gerados.
As empresas, com seus mecanismos de proteção ao meio ambiente e em consonância com a legislação específca devem, em sua própria planta, dar um fim a esses resíduos de forma que não agridam ou poluam o meio ambiente. As empresas que desejam crescer e se manter no mercado como líderes na industrialização devem buscar maneiras mais eficientes de diminuir seus custos, bem como demonstrar preocupação ecológica (Padilha et al., 2006PADILHA, A.C.M.; SILVA, T.N.; SAMPAIO, A. Desafios de adequação à questão ambiental no abate de frangos: o caso da perdigão agroindustrial – unidade industrial de Serafina Corrêa – RS.Teoria e Evidência Econômica, v.14, edição especial, p.109-125, 2006.).
CONCLUSÕES
Os resíduos sólidos e líquidos dos frigorífcos na cidade de São Luís, Maranhão, são poluidores, sobretudo no que se refere aos altos teores de matéria orgânica presentes, difícil biodegradabilidade e alto consumo de água;
O efluente dos frigorífcos é responsável por uma ima-gem negativa do público em relação a esses estabeleci-mentos, principalmente pelo odor fétido presente na circunvizinhança;
Os frigorífcos devem ter um adequado manejo ambiental dos seus resíduos e implantar alternativas de produção sustentável, adequando o processo industrial às condições e legislações ambientais;
Os empresários devem se conscientizar e procurar alternativas para minimizar seus impactos ao meio ambiente;
O desenvolvimento sustentável através do uso de mecanismos de desenvolvimento limpo tornou-se de vital importância para a saúde publica, para combater a polui-ção das águas e com isso as indústrias minimizam os custos e geram renda.
AGRADECIMENTOS
À Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Estudantis (PROEXAE) da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) pela con-cessão de bolsa de extensão para a realização deste trabalho.
REFERÊNCIAS
- ABIEC. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE.Perfil da pecuária brasileira, 2011 São Paulo: ABIEC, 201 1. Disponível em: <http://www.abiec.com.br/download/fluxo_por.pdf>. Acesso em: 23 dez. 2012.
» http://www.abiec.com.br/download/fluxo_por.pdf - ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.Preparo de amostras para exame microbiológico NBR 10203. Rio de Janeiro: ABNT, 1988. 3p.
- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.Resíduos sólidos: classifcação. NBR 10004. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 71p.
- APHA. AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION.Standard methods for the examination of water and wastewater 19th. ed. Washington: APHA, 1995. 48p.
- ARANGO, H.G.Bioestatística teórica e computacional: com bancos de dados reais em disco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 236p.
- ARAÚJO, G.C.; BUENO, M.P.; MENDONÇA, P.S.M. A sustentabilidade em frigoríficos: discussão de um estudo de caso. In: XLV CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIEDADE RURAL, 2007, Londrina, PR.Resumos Londrina: 2007. p.1-15.
- BRAILE, P.M.Manual de tratamento de águas residuárias industriais São Paulo: CETESB, 1993. 764p.
- BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução N° 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.Diário Oficial da União, Brasília, 2011. 8p.
- CAMPESTRINI, E. Farinha de carne e ossos.Revista Eletrônica Nutritime, v.2, n.4, p.221-234, 2005.
- DIEHL, G.N.; ROSSATO, N.A.; KOHEK JÚNIOR, I.; DOMINGUES, R.D.; SOUZA, G.E.Fiscalização de alimentos de ruminantes em propriedades rurais no Rio Grande do Sul como medida para prevenção da Encefalopatia Espongiforme Bovina - EEB Rio Grande do Sul: Departamento de Defesa Agropecuária, 2011. 4p. (Informativo Técnico n.11, ano 2). Disponível em: < http://www.dda.agricultura.rs.gov.br/ajax/download.php?qArquivo=20130225111514prevencao_da_encefalite_espongiforme_ bovina.pdf.>. Acesso em: 25 set. 2014.
» http://www.dda.agricultura.rs.gov.br/ajax/download.php?qArquivo=20130225111514prevencao_da_encefalite_espongiforme_bovina.pdf - FERNANDES, M.A.Avaliação de desempenho de um frigorifico avícola quanto aos princípios da produção sustentável 2004. 120p. Dissertação (Mestrado em Administração) -Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
- IBGE. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2011.Efetivo bovino Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ma&tema=censoagro<. Acesso em: 22 dez. 2012.
» http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ma&tema=censoagro - LIMA, L.D.; IZARIO FILHO, H.J.; CHAVES, F.J.M. Determinação de demanda bioquímica de oxigênio para teores ≤ 5 mg L-1 O2 Revista Analytica, n.25, p.52-57, 2006.
- MORALES, M.M. Avaliação dos resíduos sólidos e líquidos num sistema de abate de bovinos. 2006. 84p. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2006.
- NIETO, R. Caracterização ecotoxicológica de efluentes líquidos industriais: ferramenta para ações de controle da poluição das águas. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2000, Porto Alegre.Anais Porto Alegre: 2000. Disponível em: <http://www.abes-dn.org.br.htm>. Acesso em: 23 dez. 2012.
» http://www.abes-dn.org.br.htm - PACHECO, J.W.Guia técnico ambiental de frigorífcos: industrialização de carnes (bovina e suína). São Paulo: CETESB, 2006. 88p.
- PACHECO, J.W.; YAMANAKA, H.T.Guia técnico ambiental de abate (bovino e suíno). São Paulo: CETESB, 2008. 95p.
- PADILHA, A.C.M.; SILVA, T.N.; SAMPAIO, A. Desafios de adequação à questão ambiental no abate de frangos: o caso da perdigão agroindustrial – unidade industrial de Serafina Corrêa – RS.Teoria e Evidência Econômica, v.14, edição especial, p.109-125, 2006.
- PEREIRA, R.S. Identificação e caracterização das fontes de poluição em sistemas hídricos.Revista Eletrônica de Recursos Hídricos, v.1, n.1. p.20-26, 2004.
- PRATA, L.F.Manual de inspeção higiênico-sanitária e tecnologia de carnes, pescado e derivados Jaboticabal: FUNEP, 1999. 217 p.
- RIBEIRO, G.Os homens que não copiavam Adiante: Inovação para Sustentabilidade. São Paulo: FGV-CES, n.4, 2006.
- SARDA, S.E.; RUIZ, R.C.; KIRTSCHIG, G. Tutela jurídica da saúde dos empregados de frigorífcos: considerações dos serviços públicos.Acta Fisiátrica, v.16, n.2, p.59-65, 2009.
- SEVERO, L.S.; DELGADO, N.A.; PEDROZO, E.Á. A emergência de “inovações sustentáveis": questão de opção e percepção. In: SIMPOSIO DEADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO, LOGÍSTICA E OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 9, 2006, São Paulo, SP.Anais São Paulo: 2006.
- SILVA, A.N. Manejo de resíduos sólidos industriais: frigorífco de Araguaína – TO. 2011. 58p. Trabalho de Graduação (Graduação em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de Brasília, Palmas, 2011.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Dez 2014
Histórico
-
Recebido
15 Jan 2013 -
Aceito
25 Set 2014