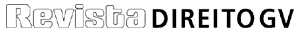Resumo
O objetivo deste artigo é discutir a relação entre o direito internacional e as tradições jurídicas locais de países como o Brasil. Para tanto, o artigo discute a metodologia do projeto de pesquisa da professora Delmas-Marty, do Collège de France, chamado “Les figures de l’internationalisation du droit – Amérique Latine”, no qual vários pesquisadores brasileiros participaram. Propõe-se entender o direito internacional e os direitos nacionais como formas diferentes de linguagem.
Tradições jurídicas; linguagem; internacionalização do direito
Abstract
This article aim is to discuss the relationship between international law and third world law traditions, such as Brazilian’s one. In order to do so, it addresses the methodological issues from Delmas Marty’s research project, called “Les figures de l’internationalisation du droit – Amérique Latine”, in which several Brazilian researchers participated. The article proposes to understand International and Brazilian Law as different forms of language.
Law traditions; language; internationalization of law
Introdução
O presente texto dialoga com o projeto “Les figures de l’internationalisation du droit – Amérique Latine” [As figuras da internacionalização do direito – América Latina], da professora Mireille Delmas-Marty, desenvolvido no âmbito da cátedra Estudos Jurídicos Comparados e Internacionalização do Direito do Collège de France.1 1 Uma versão inicial do texto foi apresentada numa jornada de estudos no Collège de France e num colóquio na FGV em São Paulo. Agradeço aos participantes dos eventos por suas contribuições e comentários. Ele é, portanto, fruto do ambiente europeu, onde a criação de mecanismos e um direito comunitário é uma experiência, até onde conhecemos, inédita no mundo contemporâneo. Mesmo a França, cuja corte constitucional resistia, até um passado mais recente, à influência do direito comunitário, tem cada vez mais se lhe aproximado na sua prática judiciária (DELMAS-MARTY, 2004DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit: le relatif et l’universel. Paris: Éditions du Seuil, 2004.). Dito de outro jeito, o projeto responde a preocupações consolidadas da experiência contemporânea francesa, fruto já de algo que permanece, resiste à passagem do tempo. Nada semelhante existe hoje na América Latina, onde o Mercosul (como seus primos menos badalados: Aladi, Alca e Unasul, para ficarmos na América Latina) é, em grande parte, e em nossa opinião, um esforço de voluntarismo governamental. O projeto, claro, tem plena consciência das diferenças entre o caso europeu e outros processos de integração internacional, e seu propósito é justamente coletar dados que permitam comparações mais abrangentes com outras regiões (como, além da Comunidade Europeia, a China e o seu entorno).
Em nossa opinião, “As figuras da internacionalização do direito” é tão urgente quanto necessário para o saber jurídico contemporâneo. Às fórmulas, às justificativas, aos fundamentos do direito internacional parece faltar algo vital: ele está aquém de suas promessas de resolução de conflitos; e, ainda menos, de justiça e equidade. Digamos, para usar uma fórmula mais visceral, que o mundo mudou mais rapidamente que nossa capacidade de dizer coisas significativas a seu respeito. O projeto da professora Delmas-Marty se dirige às preocupações suscitadas pelas mudanças – inesperadas, diga-se – do contexto internacional contemporâneo. E o saber jurídico, por conta das suas características próprias, é particularmente afetado por elas. Face às perplexidades dos tempos atuais, o projeto se volta para a empiria, ao invés da abstração sem fronteiras, onde as justificativas circulam entre si, tão comum a muitos juristas. Mas isso não significa que o projeto se limite à descrição de um estado de coisas. Ao contrário, é uma reflexão “filosófica” que faz uso do concreto para avançar, para encontrar na ruptura, que este novo mundo propõe, bases sólidas sobre as quais erigir fundamentos mais apropriados ao nosso tempo. Em outros termos, o projeto resta incompreensível se não percebemos que ele se desenvolve no plano reflexivo no qual o direito pensa a si próprio.
Este artigo, originalmente, foi pensado como um comentário à metodologia do projeto, quer dizer, como a tentativa de estabelecer um diálogo entre um estrangeiro ao campo jurídico brasileiro, um antropólogo, e o olhar que o projeto da professora Delmas-Marty representava. Mas, conforme caminha o argumento, ele encontra sua identidade mais profunda e se dirige à seguinte questão: como pensar a relação do direito internacional no mundo globalizado contemporâneo com os direitos nacionais periféricos – como no nosso caso? Como podemos formulá-la de maneira a encontrar um campo mais amplo, uma base sólida onde um, da perspectiva do direito, “estrangeiro” pode dialogar com o saber jurídico?
Eis a fórmula da nossa exposição: a próxima seção examina duas ideias que estão na fundamentação do projeto e a relação delas com o campo jurídico brasileiro; em seguida, passar-se-á a discorrer sobre as implicações da metodologia adotada pelo projeto, para, depois, examinar em que medida o direito poderia ser pensado como uma linguagem (para aquilo que nos interessa, bem entendido); e, na última seção, se a relação entre o direito internacional e o direito brasileiro poderia ser vista como uma relação entre linguagens diferentes. O projeto, seus supostos, desdobramentos e a relação do direito internacional com o direito brasileiro passam a ser, então, espaços de uma comparação entre direitos como linguagens diferentes que nos permitam, talvez, recuperar a diferença e as especificidades societárias num saber que, justamente, nega sua existência.
1 Duas ideias
As questões colocadas pelo projeto aqui analisado questionam as convicções mais profundas dos juristas brasileiros. Não nos referimos aos juristas participantes do projeto, que representam exceções frente à mentalidade coletiva, mas ao que o direito brasileiro exprime como sua identidade – discurso incorporado nos textos mais dogmáticos (no Brasil, isso significa “técnicos”), exemplo dos manuais jurídicos e até de alguns textos científicos. A “empiria” é, para estes, um detalhe distante das preocupações verdadeiramente centrais do pensamento jurídico: importante mesmo seriam os quadros de organização lógica que se encontrariam, de acordo com os juristas, para além das incoerências e das contradições do sistema normativo pensadas como superficiais e secundárias. Além disso, a maneira pela qual o direito brasileiro se relaciona com o direito dos outros países da América do Sul é ignorar-lhes as especificidades (uma mentalidade que não é exclusiva do direito). Ele reconhece diferenças, na medida em que as normas são diferentes; mas, para ele, é difícil perceber a diversidade de visões do mundo, a pluralidade “cultural” que o projeto sobre a internacionalização do direito supõe.
Para um antropólogo, duas ideias, na base do projeto, são particularmente interessantes: o “pluralismo ordenado” e a “margem nacional de apreciação”. As duas ideias põem em questão a organização lógica do edifício normativo que, de um ponto de vista jurídico, supõe um quadro hierarquizado, à Kelsen. Nas palavras de Delmas-Marty (2005)DELMAS-MARTY, Mireille. Un ordre juridque en formation? Cours prononcés au Collège de France. Paris. 2005:
Acostumados como somos [os juristas] a pensar a geração das normas de acordo com um princípio hierárquico, pensamos que o ajustamento e a regulação são uma única operação de integração de uma norma internacional por parte do receptor nacional.
Ou seja, elas decorrem de uma constatação, no fundo, empírica: as complexidades do processo de internacionalização mostram a pluralidade das formas através das quais as ordens jurídicas nacionais influenciam o direito internacional e as ordens jurídicas de outros países; a variabilidade do tempo de integração entre os países e num mesmo país; e a variabilidade da recepção do direito internacional pelos direitos nacionais. Em outras palavras, as normas internacionais são internalizadas pelos direitos nacionais de maneira bem diferente do que a percepção hierárquica do direito permitira supor. O projeto “As figuras da internacionalização do direito” substitui o princípio hierárquico pela ideia de que os diversos países têm “uma margem nacional de apreciação” que lhes permite uma latitude inesperada. O “pluralismo ordenado”, por sua vez, é a sobreposição, talvez a convivência, de todas as margens nacionais. Num outro plano, o “pluralismo ordenado” e a “margem nacional de apreciação” significam uma ruptura com o pensamento jurídico “tradicional” e, simultaneamente, a necessidade de reter alguns princípios deste sem os quais o direito seria inadmissível para nossa mentalidade ocidental. É a substituição de uma visão hierárquica por outra na qual algo da organização da primeira sobrevive.
Há alguma semelhança, um certo “ar de família” entre a intuição mais profunda da qual partem as ideias de “pluralismo ordenado” e de “margem nacional de apreciação” e a maneira pela qual, desde 2003, vimos examinando o direito brasileiro. Partimos do princípio sociológico segundo o qual um fenômeno social só faz sentido a partir do contexto social do qual faz parte e, particularmente, têm nos interessado as especificidades locais do direito e do judiciário. Baseando-nos no nosso trabalho etnográfico do campo jurídico brasileiro, não conseguimos escapar à conclusão de que, para relacionar o direito brasileiro com seu contexto, é preciso pensá-lo como uma tradição jurídica própria e particular. E isso é exatamente o contrário daquilo que o direito brasileiro, no seu sentido comum teórico (para utilizar o termo cunhado por WARAT, 1988WARAT, Luís Alberto. O sentido comum teórico dos juristas. In: FARIA, J. E. (Org.). A crise do direito numa sociedade em mudança. Brasília: Ed. da UnB, 1988. p. 31-40.), diz dele mesmo: direito brasileiro se afirma como sendo parte da grande tradição jurídica que resulta do direito romano, mais precisamente de Roma, uma tradição homogênea, sem interstício ou ruptura, afirmação evidentemente falsa (vide BERMAN, 1983BERMAN, Harold J. Law and revolution: the formation of the Western legal tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1983.). Voltaremos ao assunto na parte final deste texto.
No fundo, o presente artigo propõe-se falar do projeto “As figuras da internacionalização do direito” a patir de outro saber que, num certo sentido, se coloca nas antípodas do direito. Navegamos em águas turbulentas. É preciso reconhecer entre o direito e uma etnografia do campo jurídico o tipo de diferenças que Kuhn denominou “incomensurabilidade”, palavra mais repetida do que entendida (KUHN, 1996KUHN, Thomas. The structure of scientific revolutions. 3. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.). Esta, simplesmente, tem um sentido matemático: a ausência de uma medida comum capaz de fazer julgar a verdade de um saber em relação a outro. A polêmica começa quando se retiram daí implicações hermenêuticas: “incomensurabilidade” significa a impossibilidade seja da tradução, seja do diálogo (para um comentário do debate, ver BERNSTEIN, 1983BERNSTEIN, Richard J. Beyond objectivism and relativism: science, hermeneutics, and praxis. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983.)? O debate nos interessa porque permite reconhecer, no percurso deste texto, uma decisão: preferimos o partido mais otimista segundo o qual a incomensurabilidade não implica na impossibilidade do diálogo, mas estabelece limites e impõe certos cuidados metodológicos. Dessa perspectiva, nós vamos considerar nossa perplexidade face a algumas propostas do projeto como sendo um sinal de que estamos diante da alteridade, de uma outra visão do mundo. E há, para tanto, um bom motivo: o objetivo do estudo não é fazer o exercício da crítica fundada em valores heterogêneos, uma crítica cujo fim é mais reafirmar a veracidade de seu próprio saber. Pelo contrário, a questão é, sobretudo, descobrir em que termos se pode estabelecer, no âmbito do projeto acima, uma conversa entre a antropologia e o direito. Mas, para tanto, precisaremos, primeiro, examinar os supostos metodológicos do projeto, quer dizer, a maneira a partir da qual seus participantes organizam os dados empíricos. O objetivo é compará-la com a maneira pela qual as ciências sociais em geral lidam com seus dados. É o que faremos a seguir.
2 A teoria e o preenchimento das tabelas
A metodologia do projeto requer, em primeiro lugar, o preenchimento de duas tabelas (reproduzidas abaixo): uma sobre os atores e a outra sobre os fatores. Nas linhas da primeira, encontram-se os diferentes tipos de atores (públicos, científicos e privados) e, em cada um deles, três níveis: mundial, regional e local. Nas colunas, três tipos de funções: “a elaboração das normas”, “a aplicação das normas” e “o controle”; cada uma delas é, na sua vez, dividida nos mesmos três níveis acima. A tabela relativa aos fatores é mais simples: é dividida, no plano horizontal, em “eventos” e podemos colocar aí qualquer número; no plano vertical, “as consequências” divididas nos três níveis que já conhecemos. Assim teríamos:
No entanto, da perspectiva de um antropólogo, a simplicidade das tabelas é profundamente enganosa. Para começar, a ideia de “metodologia” usada nas ciências sociais não se resume ao preenchimento dos dois quadros. Apesar de sua importância, as tabelas são ferramentas que servem para organizar os dados e sugerir relações significativas. São usadas na ciência política, na sociologia, na política pública e, até mesmo, na antropologia. Malinowski, por exemplo, sugeria aos seus estudantes que organizassem os resultados da pesquisa etnográfica no que ele chamava de “quadro sinótico” (RICHARDS, 1964RICHARDS, Audrey R. The concept of culture in Malinowski’s work. In: FIRTH, R. (Org.). Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski. 2. ed. New York: Harper & Row, 1964.). Para nós, cientistas sociais, as tabelas representam um passo intermediário do uso de certas ideias teóricas num conjunto de fenômenos. Portanto, nossa investigação metodológica se desenrola num outro plano. Qual o quadro teórico em que os juristas se baseiam para preencherem as tabelas? O que lhes dá sentido? Essas perguntas, como veremos, se desdobram numa outra: o que as tabelas supõem e aceitam como sendo “evidente”?
Para preencher as tabelas, é preciso circunscrever o tema da pesquisa a um assunto: “lavagem de dinheiro”, “corrupção”, “direitos da criança”; é também desejável delimitar a pesquisa geograficamente, para colocar em primeiro plano os mecanismos institucionais que talvez não existam alhures. No entanto, em alguns temas, uma delimitação por demais restrita pode impedir o preenchimento das tabelas; se, por exemplo, não há nenhum mecanismo propriamente regional, mas este simplesmente reproduz ou usa mecanismos globais, como parece ser o caso, na América Latina, da propriedade intelectual. Etnograficamente, o que se percebe é um notável consenso, no sentido de que não é difícil, para os juristas, entrar em acordo a respeito das categorias de atores que serão usados. Como pudemos observar, para eles, a tabela sobre os atores não coloca questões mais profundas; para completá-la, são necessárias ideias intuitivas. Eles podem discordar se um ator seria melhor classificado como “privado” ou “público”, se sua influência seria regional ou local; mas eles raramente duvidam ou disputam a importância dos próprios atores. O fato notável é que estes não são indivíduos, mas posições institucionais, categorias profissionais ou instituições. Para nomeá--las, o critério empregado é sua “influência” sobre as três funções da tabela que são – não custa enfatizar – “movimentos” de vários mecanismos, públicos ou privados dotados de um caráter coletivo. O mesmo critério se reproduz na tabela relativa aos fatores. Os eventos e suas consequências são pensados como fatos jurídicos. Em uma palavra, os critérios são baseados no plano institucional.
A questão que nos interessa é, talvez, muito simples e evidente para os juristas, mas não para o antropólogo: como será que se podem discernir as relações de causa e efeito que as duas tabelas supõem? Em que bases pode-se afirmar que a ação de tal ou tal ator exerce uma influência ou provoca um movimento sobre os outros? As relações de causa e efeito precisam, nas ciências sociais, de suposições metodológicas muito fortes, quer dizer, de uma teoria. Para desenvolver nosso argumento, iremos descrever a maneira pela qual um jurista preencheria os quadros. Para tanto vamos utilizar nossas observações sobre os outros participantes do projeto. A descrição não corresponde a um participante em particular, mas sugere um tipo, formulado a partir da média dos sujeitos concretos (sobre a utilização de tipos, vide WEBER, 1978WEBER, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978., p. 4). A pretensão é que o nosso retrato seja razoável, e utilizamos “razoável” para explicitar que a sua condição de “verdade” reside na sua capacidade em ser reconhecido pelos mesmos personagens que ele pretende descrever, de ter um sentido para eles.
Nosso protagonista trabalha sistematicamente neste assunto há alguns anos. Ele tem uma formação intelectual sólida, um doutorado, e participou dos eventos cujos desdobramentos fazem parte de sua pesquisa. Vamos imaginar que ele conseguiu circunscrever os dados e começa a preencher as tabelas. Ele emprega sua própria experiência, os documentos oficiais e os processos que ele já conhece (nos quais tenha talvez trabalhado profissionalmente) ou que descobriu ao longo de suas pesquisas; ele usa também as discussões de ordem teórica e prática sobre o assunto das quais, talvez, tenha participado; isso inclui reuniões científicas ou institucionais e, às vezes, declarações de personagens importantes, debates no parlamento e até notícias dos jornais. As possibilidades acima lhe dão suas observações, digamos, “empíricas”. Para ele, não é difícil discernir os atores e os fatos jurídicos que, ele acredita, devem fazer parte da tabela. Ele se debruça na pertinência de certas consequências, a natureza da influência de um ator ou os refinamentos que as tabelas lhe sugerem, mas a marcha da sua pesquisa não sofre outras adversidades. Apesar de sua simplicidade, nossa descrição nos ajuda a propor a hipótese segundo a qual, ao contrário das ciências sociais, o plano institucional substitui a necessidade de uma teoria que estabelecesse relações de causa e efeito ou, simplesmente, de influência pela experiência de alguém que participa dele. Em outras palavras, a teoria já se faz presente na prática e no funcionamento das instituições.
Assim, o estatuto de cada corte internacional estabelece a lista daqueles (pessoas ou lugares institucionais) com legitimidade para iniciar um procedimento judicial; e os mecanismos que uma das partes pode usar para obter o auxílio de um especialista, além de outros instrumentos, tais como o amicus curie, que permite a uma terceira parte se declarar interessada pelo litígio. Nosso pesquisador usa a mesma abordagem para outros órgãos multilaterais. Então, ele pode, examinando o material “empírico”, chegar aos nomes das instituições ou dos indivíduos que, efetivamente, iniciaram procedimentos judiciais, verificar se os argumentos usados num caso qualquer evocam atores que não foram nomeados explicitamente ou, prospectando seus desdobramentos possíveis, estabelecer hipóteses a respeito do risco jurídico para outros que podem, eles também, ser atores possíveis. Se, por uma razão qualquer, as informações “empíricas” lhe faltarem, ele pode, usando as normas jurídicas e seus desdobramentos, inclusive aquelas que regulam o funcionamento das instituições, chegar a conclusões parecidas. Isso não quer dizer que ele possa fazer a economia da “empiria” tal como a concebemos; apesar da possibilidade de estabelecer hipóteses razoáveis a partir das normas, a prática judiciária lhe mostra que o uso, quer dizer, a interpretação das regras, pode seguir os caminhos mais surpreendentes. Além disso, os casos não são somente julgados. Alguns têm uma repercussão pública cujas consequências ou as possibilidades são objeto de um debate institucional ou especializado, e os personagens que participam deles podem ser considerados atores, à medida que sua opinião tem repercussões no que dizem os outros atores e até em movimentos institucionais. A descrição acima nos permite chegar a duas conclusões: primeiro, nosso protagonista vê sua tarefa como sendo a aplicação das regras próprias do campo jurídico; depois, existe um, digamos, “campo de argumentação” cuja compreensão lhe é necessária. Seria possível fazer a redução da primeira conclusão à segunda? Poderíamos considerar a aplicação dos instrumentos jurídicos como sendo um diálogo entre os atores?
3 Uma linguagem para falar
No fundo, a questão é saber se o direito “em movimento” pode ser pensado como uma forma de linguagem. Ninguém, hoje, se oporia, visto que vários autores importantes para o direito utilizam os instrumentos da linguagem para pensar o direito (por exemplo, DWORKIN, 1986DWORKIN, Ronald M. Law’s empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.; HABERMAS, 1996HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.). A questão, então, é, com mais propriedade, saber quais seriam as vantagens de caminhar por aí, isto é, o que o direito como linguagem nos permite enunciar sobre o nosso assunto. E essa questão, por sua vez, nos coloca diante do seguinte problema: será que poderíamos considerar os acordos e os tratados por um lado, os procedimentos contenciosos nos órgãos internacionais e o “campo de argumentação” por outro como sendo duas partes de uma mesma linguagem? Apesar de suas semelhanças, eles têm entre si diferenças importantes das quais não podemos fazer a economia sob o risco de tomar, com relação à empiria, liberdades inesperadas e, por vezes, desrespeitosas. Entrementes, devemos reconhecer que há algo que os une, que os dois planos têm entre si, de uma maneira que ainda não somos capazes de enunciar, uma relação talvez necessária.
Uma observação atenta nos mostraria que o direito e o “campo de argumentação” compartilham, no mínimo, uma ruptura semelhante face às linguagens ordinárias – o que não é difícil de perceber. Na linguagem, digamos “internacional”, os países, os Estados e as entidades coletivas têm opiniões, dizem coisas, votam e, às vezes, vão à guerra, assinam a paz e acordos, festejam tratados. Mais recentemente, as ações dos países têm a obrigação de serem justificadas perante à “comunidade internacional” empregando argumentos jurídicos, mesmo aquelas cuja justificativa, antes, mencionava tão somente as razões de Estado (JOHNSTONE, 2003JOHNSTONE, Ian. Security Council Deliberations: The Power of the Better Argument. Eur J Int Law, v. 14, n. 3, p. 437-480, 2003.); mais ainda, o discurso dos atores emprega argumentos baseados em valores “universais”: a autodeterminação dos povos, os direitos dos homens, a liberdade, o desenvolvimento econômico, entre outros. O direito internacional incorpora esses valores universais: eles servem sua justificação, sua razão de ser, e sua função é vigiá-los. No plano internacional, os atores têm o cuidado de pesar, tanto quanto possível, os efeitos perlocucionários de suas elocuções (AUSTIN, 1975AUSTIN, John L. How to do things with words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 1975., para o conceito de perlocucionário). Isso pode se revestir de formas muito distintas de acordo com o tipo e a posição de um ator particular: uma ONG, cuja missão institucional é proteger o meio ambiente, não tem a mesma estratégia discursiva de um país emergente. As estratégias variam da expressão cujo objetivo é não se comprometer ou se colocar numa situação delicada, até aquela de exortar os outros atores a se pôr em movimento ou tomar certa atitude. Nessa curta enumeração, não relatamos nem as atividades que acontecem nos bastidores do poder, nem as regras da linguagem deste último, nem os procedimentos próprios do contencioso internacional. Em uma palavra, os jogos de linguagem do direito ou deste “campo de argumentação” pertencem a contextos tão distantes das linguagens ordinárias que se tem a certeza de que as mesmas palavras podem significar, naqueles, coisas bem diferentes do que significam nos últimos.
A dificuldade é saber se a semelhança do seu estranhamento, seu distanciamento das linguagens ordinárias indica afinidades mais profundas. Com efeito, a despeito de seu caráter superficial, nossa descrição já aponta para algumas afinidades possíveis. Para começar, é preciso reconhecer que uma não sobrevive sem a outra. O direito internacional somente existe em função do contexto no qual os países têm vontades e interesses, dizem coisas e tomam partido, em que as entidades coletivas são encarnadas em pessoas particulares.2 2 Pode se reconhecer que há diferentes “direitos internacionais” e não somente um único, sabendo que eles interessam a mesma coisa a partir de diferentes abordagens e, ao contrário, que uma mesma coisa não significa o mesmo percurso. Ver a demonstração em Hermitte (1998). Reconhecemos que uma análise detalhada das diferenças poderia mudar substancialmente a discussão. Consequentemente, somos obrigados a reconhecer o caráter provisório de nossas conclusões. No mesmo sentido, as relações internacionais apoiam-se, cada vez mais, no direito internacional, o que tem como resultado uma, diríamos, densificação normativa (DELMAS-MARTY, 2004DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit: le relatif et l’universel. Paris: Éditions du Seuil, 2004., 2006DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit: le pluralisme ordoné. Paris: Éditions du Seuil, 2006.). Depois, há, se não uma certa homogeneização entre o discurso e o direito, pelo menos, uma familiaridade nos valores que eles invocam, os valores que, por sua vez, supõem a ideia reguladora, quase limítrofe, segundo a qual existiria uma comunidade entre todos os países e as pessoas. Por fim, o contexto no qual a ação dos atores tem um sentido mistura as duas ordens de forma que sua separação analítica, em alguns casos, permanece exclusivamente teórica; eles se combinam dependendo das circunstâncias de uma forma tão inconstante que sua ligação não é dada para sempre em função de uma regra invariável. Em alguns contextos, o direito desenvolve o papel que se é associado à norma: a imposição dos limites e a estabilização das expectativas a respeito do comportamento de outrem; em outros casos, é uma ferramenta, algo usado para conquistar objetivos ou para realizar interesses. Pode ser usado para impor aos mais fracos uma vontade alheia ou para defendê-los. O direito legitima quando empregado para negociar vantagens; é, em certos casos, uma base comum para um acordo, seja para ratificar a norma, seja para violá-la. Fala-se dele como um cínico ou como um crente; o direito nos obriga ou nos liberta. As possibilidades acima carecem de uma mesma característica que poderia ser dita como sendo a essência da relação entre o direito e o que se diz no nível das relações internacionais. Os acontecimentos são, sem dúvida, ligados por uma rede de semelhanças, de tal forma que poderíamos dizer, à Wittgenstein, que eles têm entre si um certo “ar de família”, pois a imagem que eles evocam é aquela das semelhanças que encontramos entre parentes (WITTGENSTEIN, 2001WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations: The German text, with a revised English translation. 3. ed. London: Basil Blackwell, 2001., parágrafos 66-67).
Uma outra imagem do mesmo autor pode nos ajudar: a linguagem, diz Wittgenstein, pode ser vista como uma cidade construída em épocas diferentes, o centro de ruas sinuosas traçadas pelo acaso do tempo com construções de estilos variados, casas antigas nas quais se sobrepõem reformas feitas em tempos diferentes; em torno do centro, bairros modernos, com ruas largas, distribuídas segundo um plano cartesiano, e casas contemporâneas; ao lado destes, bairros em labirintos, feitos para evitar o passeio de pedestres desconhecidos.3 3 A imagem reproduz livremente o original: “Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkelt von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern” (WITTGENSTEIN, 2001, parágrafo 18). Se considerarmos a linguagem “internacional” como sendo uma tal cidade (não é necessário ser mais preciso), saber se o direito e o “campo de argumentação” pertencem a uma mesma linguagem, a despeito de suas diferenças e separações, é um falso problema. As diferentes partes da cidade não deixam de pertencer a ela por causa de suas diferenças; mais ainda, elas são ligadas de formas diferentes: pelo transporte público, pelas redes de energia elétrica e de telefonia e por um sistema de saneamento, por exemplo. Para ir de uma parte a outra, de um bairro moderno de ruas largas e regulares até um bairro de ruas tortas, talvez seja preciso atravessar o centro com suas construções sobrepostas de épocas remotas. As diferentes partes da cidade têm, também, semelhanças mais profundas, mas é preciso viver nela para conhecê-las. A metáfora nos lembra características que já vimos na relação entre o direito e o que se diz no plano das relações internacionais; ela nos permite sugerir que os fenômenos primeiros, no sentido de logicamente anteriores, não são suas semelhanças individualmente percebidas, mas o seu contexto comum, a circulação necessária entre eles, o fato, por assim dizer, de seu “convívio” – em uma palavra, sua relação.
A imagem nos remete às questões anteriores. Como vimos, o preenchimento das tabelas exigia, necessariamente, uma teoria para relações de causa e efeito; ou, no mínimo, relações de influência. Entretanto, como pudemos observar, essa exigência de ordem lógica contrastava vivamente com a facilidade, quase intuitiva, com a qual os juristas as preenchiam. Isso nos leva à hipótese de que a teoria já estava presente na prática e no funcionamento das instituições, ou seja, na experiência dos juristas. Agora, percebemos que, a despeito de a conclusão ser fundamentalmente correta, ela permanecia provisória. A metáfora da “linguagem como uma cidade” nos permite reescrever a maneira como nosso protagonista se relaciona com a “empiria”. Imagine-se, então, que o “direito internacional” pertence à cidade onde nosso protagonista mora há muito tempo (onde todos, de certa forma, são estrangeiros, porque ninguém nasceu ali). Ele conhece seu bairro em detalhe, outros lhe são familiares e há aqueles pelos quais ele passou rapidamente; e os que ignora totalmente. Em relação a estes últimos, ele talvez use de uma ignorância estudada, cujos motivos podem variar desde escolhas sobre a importância das coisas, passando por razões afetivas, até representações sobre sua identidade: as pessoas de sua classe – ele imagina – simplesmente moram em outro lugar, e ninguém tira proveito por conhecer certas vizinhanças. Apesar disso, ele entende bem os costumes da cidade: há costumes que vêm d’alhures; outros foram desenvolvidos ao longo de muito tempo e parecem pertencer à cidade, independentes dos habitantes. Ele sabe que há usos peculiares, próprios de alguns bairros, uma rotina comum que varia de acordo com a hora e o dia, como também pequenas diferenças, semelhanças superficiais e variações mais profundas. Em resumo, ele percorre bem os percursos da cidade e controla os caminhos que têm um interesse para os seus negócios.
Vamos ver os caminhos da cidade (nos quais incluímos os percursos, a identidade dos bairros, os costumes, as diferenças, as grandes e as pequenas semelhanças) como as regras dessa “linguagem internacional” da qual faz parte o direito. Mais do que seguir um mapa, chegar a um ponto determinado implica em navegar no meio de possibilidades que mudam de acordo com as circunstâncias, sobre as quais não se tem nenhum domínio. E, portanto, para chegar ao seu destino, é preciso se relacionar com as exigências e as indeterminações dos caminhos da cidade, de se ver nelas, de ser capaz de usar a regra mais apropriada a uma circunstância qualquer. O problema de conhecer os caminhos da cidade bons para os negócios de alguém se parece com a maneira pela qual a experiência “internacional” se apresenta a nosso protagonista (há, também, profundas diferenças). Por exemplo: constata-se a existência, no âmbito internacional, de regras de vários tipos e não somente as normas jurídicas (incluindo aí os princípios) ou valores “universais”, mas, sobretudo, outras que não são redutíveis a essas, como as regras que cercam o cotidiano das relações diplomáticas: a etiqueta das situações sociais, os almoços de negócios e os jantares em homenagem a alguém, as festividades, a construção de alianças que, por vezes, são trabalhadas pelos seus partícipes quase como relações pessoais, a construção de networks, as maneiras de participar efetivamente de uma negociação internacional ou como trafegar de maneira consequente os corredores de uma organização internacional, entre outras (para o exemplo da Organização Mundial do Comércio, vide AZEVÊDO, 2013AZEVÊDO, Paula. Uma etnografia do algodão. O caso da OMC. In: ABREU, Luiz E. (Org.). Os bastidores do Supremo e outras histórias curiosas: 5 estudos de etnografia constitucional. Brasília: UniCEUB, 2013. p. 201-255.). Como em nossa cidade imaginária, não há substância comum a todas as regras, nem aplicação mecânica, nem uma determinação a priori das mais apropriadas aos diferentes contextos. Pelo contrário, o seu uso varia conforme o contexto.
A metáfora da “linguagem como uma cidade” sugere que a experiência de nosso protagonista é, no fundo, a capacidade de falar uma língua particular, morar numa dessas cidades, caminhar pelas suas ruas. Vê-se assim que as relações de causa e efeito que nosso jurista estabeleceu nos estudos não decorrem da observação, mas da linguagem. A questão, para ele, não é “quais as indicações de ordem empírica que me permitem afirmar que este ator ou acontecimento é a causa de tal ou tal estado das coisas?” ou “as suposições teóricas que se usa para afirmar esta relação são razoáveis ou sustentáveis?”, mas, sobretudo, “será que a afirmação desta relação de causa e efeito ou de influência faz sentido?”; dito de outra forma, a questão é saber se as suas proposições empregam corretamente as regras dessa linguagem internacional. Para resumir nossas conclusões: participar do “campo internacional” (no qual incluímos o direito internacional) implica em falar uma linguagem; consequentemente, estabelecer relações de causa e efeito equivale a empregar as regras do campo para dizer coisas que fazem sentido.
A conclusão explica as razões pelas quais o preenchimento das tabelas apresentaram, para o antropólogo, dificuldades inesperadas. O material empírico que ele possuía simplesmente não era classificável nas categorias propostas, havia algo de mal ajambrado na tentativa. O mais importante (para o antropólogo, bem entendido) simplesmente não cabia na tabela – preenchê-las implicava em fazer, face aos dados coletados, concessões desrespeitosas. Se os comentários acima expressassem tão somente uma relação diferente com o que chamamos de “empiria”, o problema poderia ser facilmente solucionado: bastaria iluminar as diferenças teóricas para reger os desacordos; com isso não obteríamos um consenso – aliás, de todo improvável –, mas seríamos capazes de alcançar a paz de espírito que resulta das divergências explicitadas. Mas há uma outra maneira de perceber os mesmos comentários. Não como resultado de divergências teóricas, mas como índices de que estamos diante da alteridade, de visões do mundo e de formas de vida que, apesar de sua aparente proximidade, são fundamentalmente estrangeiras. A questão, portanto, não é teórica; mas de tradução.
Os sociólogos e os antropólogos – é preciso reconhecer – são muito mal preparados para ouvir o que os juristas falam. As questões centrais para os últimos não têm lugar no campo visual dos primeiros. O problema, em parte, vem da relação que a antropologia estabelece com essa linguagem “internacional”. Esta nada mais é, para o antropólogo, do que um objeto de pesquisa. Em outras palavras, ele se aproxima da linguagem internacional, não como um cidadão, nem como um turista eventual, mas como um geógrafo que pretende desenhar-lhe um mapa, cuja aproximação temporária constrói um olhar transeunte e justifica um discurso necessariamente distante. De qualquer modo, tratar o direito como parte da linguagem “internacional” nos coloca todos – antropólogos, juristas e, talvez, outros cientistas sociais – num quadro mais confortável e espaçoso (do ponto de vista do antropólogo, bem entendido).
No princípio deste trabalho dizíamos que, da perspectiva das nossas pesquisas, o direito brasileiro configura-se como uma tradição própria (apesar de ele próprio negá-lo). Agora, somos capazes de reformular nossa proposição inicial dizendo que a relação entre o direito internacional e os direitos nacionais é um diálogo entre linguagens também estrangeiras. A proposta parece polêmica, ultrajante para a mentalidade jurídica (certamente para a mentalidade jurídica brasileira); para uma visão mais dogmática, ela poderia parecer extraordinariamente perigosa, já que questiona a possibilidade de uma ordem jurídica construída sobre os encadeamentos lógicos. O uso que fazemos dessa imagem é, no entanto, mais modesta. Ela serve para explorar, de uma forma antropológica, as duas ideias que tocaram nossa imaginação: o pluralismo ordenado e a margem nacional de apreciação; e, para, a partir daí, dizer algo que faça sentido a alguém que vê o mundo de uma maneira radicalmente diferente da nossa.
4 Uma tradução para fazer
Partindo do princípio de que nossas conclusões são, até agora, razoáveis, vamos desenvolver a hipótese explicitada acima usando nossa etnografia do direito brasileiro (ABREU, 2013aABREU, Luiz Eduardo. Etnografia constitucional: quando o direito encontra a antropologia. In: ABREU, Luiz Eduardo. (Org.). Os bastidores do Supremo e outras histórias curiosas: 5 estudos de etnografia constitucional. Brasília: UniCEUB, 2013a. p. 9-34.). Nossas conclusões se apoiam num contexto local e, portanto, somente podem ser universalizadas com cuidado; muito provavelmente, sua utilização em outros países vai exigir correções substanciais. Mas, antes de prosseguir com o argumento, precisamos examinar uma questão preliminar: somos obrigados a reconhecer que os contextos sociais do direito internacional e do direito brasileiro são profundamente distintos, apesar de o direito brasileiro ignorar ostensivamente as diferenças. Num outro plano, a diferença entre contextos se desdobra em uma assimetria. Não nos referimos à assimetria lógica, ou seja, hierárquica, como apontava Delmas-Marty (2005)DELMAS-MARTY, Mireille. Un ordre juridque en formation? Cours prononcés au Collège de France. Paris. 2005 acima, mas, antes, a uma assimetria de ordem sociológica entre o direito internacional e o direito brasileiro. É preciso examinar o que isso quer dizer com mais cuidado.
A prova da assimetria deriva da ideia de que o direito é uma forma de linguagem. Para nós, a língua, como um fato social, está necessariamente ligada a um contexto e incorpora um conjunto de crenças e práticas compartilhadas.4 4 A ideia de que a linguagem é um fenômeno social e, portanto, requer algo que seja compartilhado já está presente em vários autores. Por exemplo, Saussure (1995), Wittgenstein (2001) e, mais próximo ao direito, Dworkin (1986). No entanto, como sugere MacIntyre, haveria uma “exceção” à regra: as línguas internacionais da modernidade, como o francês, o alemão e o inglês do século XX.5 5 “The conception of language presupposed in saying this that of a language as it is used in and by a particular community living at a particular time and place with a particular shared beliefs, institutions, and practices. These beliefs, institutions, and practices will be furnished expressions and embodiment in a variety of linguistic expressions and idioms; the language will provide standard uses for a necessary range of expressions and idioms, the use of which will presuppose commitment to those same beliefs, institutions and practices. There was no way to discuss political matters in Cicero’s Rome except within a framework supplied by the standard uses of ‘respublica’, ‘auctoritas’ (originally a technical term in the procedures of the senate), ‘dignitas’, ‘libertas’, ‘imperium’, and the like. [...] The boundaries of a language are the boundaries of some linguistic community which is also a social community. This conception of language does require supplementations in one way. [...] [T]here is, for better or for worse, late twentieth-century English, an internationalized language, which like other late twentieth-century internationalized languages [...] has been developed so as apparently to become potentially available to anyone and everyone, whatever their membership in any or no community. [...] We can therefore compare and contrast languages in respect of the degree to which some particular language-in-use is tied by its vocabulary and its linguistic uses to a particular set of beliefs, the beliefs of some specific tradition, so that to reject or modify radically the beliefs will require some corresponding kind of linguistic transformation (MACINTYRE, 1988 p. 372-374).” Estas pareceriam ter uma relação “fraca” com o contexto e a tradição; e acessíveis a todos e em qualquer lugar. A sugestão nos parece sensível e apropriada para os nossos dados, como veremos abaixo. Deveríamos então admitir a possibilidade de uma linguagem sem comunidade? A resposta nos parece ser não. A questão parece-nos outra: quais as características específicas que permitem a uma tradição ou uma comunidade, um contexto social concreto, que os faz imaginarem que sua linguagem escapa de qualquer referência a um ambiente social concreto?6 6 É preciso lembrar-se da ideia de Gray pela qual a sociedade civil é a condição de possibilidade e o que o mundo pode herdar das sociedades ocidentais. Ver Gray (1996), principalmente o último capítulo: “What is live and dead in liberalism?”. Ver também a crítica de Kymlicka (1995) contra o liberalismo. Mas isso não altera o argumento. Qualquer que seja a resposta à questão, o fato sociologicamente relevante é que certas linguagens são imaginadas como tais, quer dizer, são representadas como se pertencessem, no limite, e possivelmente, a todos. Graças à sua relação “fraca” com um conjunto de “crenças contestáveis” e sua “riqueza de modos de caracterização”, argumenta ainda MacIntyre, estas “línguas da modernidade” apresentariam uma dupla característica: primeiro, para aqueles que as empregam, elas pareceriam capazes de traduzir qualquer tradição estrangeira, até mesmo as tradições cuja compreensão exigiria o uso intensivo de referências contextuais muito precisas, o conhecimento profundo de aspectos culturais e sociais. O problema é que uma compreensão mais profunda deveria incorporar fenômenos para os quais as línguas “da modernidade” parecem não ter palavras nem conceitos, que somente podem ser mencionados através de um trabalho minucioso de reconstrução; a alternativa é a distorção pura e simples do significado de origem. Mais ainda,
a distorção da tradução [...] continua possivelmente invisível para aqueles cuja primeira língua é uma das línguas internacionalizadas da modernidade. Para eles, deve parecer que não há nenhum texto que não pode ser traduzido. É possível que eles falem da impossibilidade da tradução em princípio, mas, provavelmente, a impossibilidade lhes parecerá uma ficção filosófica. (MACINTYRE, 1988MACINTYRE, Alasdair. Whose justice? Which rationality? Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1988., p. 384-385)7 7 No original: “[t]his distortion by translation [...] is of course apt to be invisible to those whose first first language is one of the internationalized languages of modernity. For them it must appear that there is nothing which is not translatable into their language. Untranslatability – if cautious, they may say untranslatability in principle – will perhaps appear to them as a philosophical fiction”.
A nossa sugestão é simples: o direito internacional faz parte de uma tal linguagem “da modernidade” que parece escapar das referências concretas de uma comunidade particular (evidentemente, a referência a uma comunidade global como ideia reguladora é algo diferente). A assimetria sociológica à qual nos referíamos resulta do fato de que, ao contrário do direito internacional, o direito brasileiro é uma linguagem “local”, muito ligada a seu contexto social e a uma tradição particular, apesar de se representar como universal e herdeira de uma tradição que, de acordo com nossa hipótese, em grande parte nos é estranha.
A ligação do direito brasileiro à sua realidade local, particular, e a necessidade de modificar aquilo que importamos de outros países não é uma afirmação estranha aos nossos juristas mais antigos. O Visconde do Uruguay, em seu Ensaio sobre Direito Administrativo, já o dizia com todas as letras: o nosso “sistema administrativo” era, dizia ele, “[…] um arremedo imperfeitíssimo e manco das instituições dos Estados Unidos, destituído porém dos principais e essenciais meios e circunstâncias que as acomoda a esse país”; a razão não era, para ele, difícil de apontar: “não se dão no Brasil certas circunstâncias especiais que o torna exequível e eficaz nesses países [Inglaterra e Estados Unidos]” (SOARES DE SOUZA, 2002SOARES DE SOUZA, Paulino José. Ensaio sobre o direito administrativo. In: CARVALHO, J. M. (Org.). Visconde do Uruguai. São Paulo: Editora 34, 2002. p. 65-504., p. 497). A questão era como adaptar nossas instituições à nossa realidade, o que implicava, para ele, um direito administrativo apropriado aos nossos costumes. Oliveira Vianna, por sua vez, partia da “observação” de que a socieda brasileira, deixada à própria sorte, não conseguiria organizar-se; caberia, portanto, ao Estado a tarefa de organizá-la, muitas vezes, contra ela mesma: todo problema se resumiria em encontrar a organização institucional apropriada (TELES FILHO, 2006TELES FILHO, Eliardo França. Estado, sociedade e direito: uma reflexão sobre a ideologia política em Oliveira Vianna. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2006.). O que, provavelmente, causaria espanto a esses juristas mais antigos é a mentalidade do senso comum jurídico mais recente segundo a qual o direito brasileiro representa uma continuidade sem rupturas com a tradição jurídica romano-germânica, quer dizer, ele não adapta, não a transforma em alguma outra coisa, não a subverte. Em suma, ele não dialoga com a realidade social a partir de uma certa compreensão sociológica, mesmo que ela seja intuitiva, inconsciente e construída sobre um certo senso comum do que seja o Brasil e o papel do direito na realidade social da qual fazemos parte. A hipótese com a qual vimos trabalhando nos últimos anos é que a mentalidade jurídica mais recente não é uma ruptura com a narrativa mais antiga, mas é a transposição, num outro plano, da mesma necessidade de adaptação de diálogo. O que o direito brasileiro faz não é ignorar a realidade social. Ele faz que a ignora justamente para, a seu jeito, lidar com ela (ABREU, 2013cABREU, Luiz Eduardo. L’Etat contre la société. La norme juridique et le don au Brésil. Droit et Société, v. 83, p. 137-154, 2013c.).
As duas consequências apontadas por MacIntyre, em nosso entendimento, exprimem bem os mal-entendidos que encontramos na conversa do direito internacional com o direito brasileiro. Para os juristas brasileiros que adotam a mentalidade mais recente descrita acima, a distorção da tradução é “evidentemente” uma impossibilidade empiricamente demonstrável: os termos e os conceitos do direito internacional e do direito brasileiro parecem iguais; mais ainda, os juristas concordam, aparentemente, com o fundamental – suas origens, ou, para continuar nossa metáfora, a cidade onde eles moram é irrelevante. Todavia, uma pequena aproximação já mostra algumas rupturas, imprecisões e inconsistências nesse cenário idílico. Como exemplo, vamos utilizar a ideia de igualdade que pode ser encontrada, provavelmente, na maioria das constituições contemporâneas. A Constituição brasileira a repete no seu artigo 5º. O caput estabelece que “todos são iguais perante a lei” sem discriminação de raça, sexo, crença e que todos têm o “direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. As alíneas são dedicadas aos direitos liberais clássicos e outros que se aproximam daqueles de um Estado-providência. A ênfase sobre os direitos individuais já ganharia um sentido diferente se a percebemos como uma reação contra os excessos do governo militar, recentemente acabado à época da promulgação da Constituição de 1988, ou seja, uma estratégia política de valoração de liberdades individuais das classes altas e médias que supõe uma desigualdade profunda entre elas e as classes mais baixas. Mas o contexto social ao qual nos referíamos não é o da história política contemporânea (apesar da sua importância), mas algo mais profundo e, ao mesmo tempo, corriqueiro, cotidiano, algo que está à frente de todos – e nisso reside sua verdadeira dificuldade. O que nos importa é o uso do conceito de igualdade pelos nossos tribunais e advogados e as estratégias que o direito brasileiro emprega a fim de juntá-lo a uma ideologia social que o contradiz. Dessa perspectiva, a lei permanece sendo o lado mais superficial do fenômeno.
Mas o que significa “igualdade”? Poderíamos perfeitamente apelar para autores contemporâneos (como TAYLOR, 1994TAYLOR, Charles. The politics of recognition. In: GUTMANN, A. (Org.). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press, 1994. p. 25-73.; HABERMAS, 1996HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.; RAWLS, 2005RAWLS, John. Political liberalism. Ed. expanded. New York: Columbia University Press, 2005.), mas há uma certa economia explicativa em nos referir aos clássicos. Pensamos, portanto, em Rousseau (2002)ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Chicoutimi: Université du Québec, 2002.. Para ele, a igualdade é a condição natural do homem e a desigualdade oriunda da sociedade. Evidentemente, ninguém questionará o fato de a igualdade ser um valor, mas em Rousseau, como na maioria do pensamento tipicamente moderno, ela está englobada no indivíduo concreto. Neste, a substância contém o valor, ou, melhor dizendo, uma substância como valor (vide DUMONT, 1985DUMONT, Louis. Essais sur l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Éditions du Seuil, 1985.). A doutrina jurídica brasileira, ao contrário de Rousseau, entende “a igualdade” a partir da fórmula “clássica” de Rui Barbosa: “a parte da natureza varia ao infinito. Não há, no universo, duas coisas iguais […] todas entre si diversificam”, escrevia ele. Portanto, “tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. E continuava,
Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se todos se equivalessem. Esta blasfêmia contra a razão e a fé, contra a civilização e a humanidade, é a filosofia da miséria, proclamada em nome dos direitos do trabalho; e, executada, não faria senão inaugurar, em vez da supremacia do trabalho, a organização da miséria. Mas, se a sociedade não pode igualar os que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, pode reagir sobre as desigualdades nativas, pela educação, atividade e perseverança. Tal a missão do trabalho. (BARBOSA, 1999BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 5. ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1999., p. 26).
Fica evidente que entre o pensamento moderno, exemplificado por Rousseau, e Barbosa existem profundas divergências: a desigualdade, que, para Rousseau, é uma construção social e a deturpação da natureza humana, para Barbosa é a própria natureza do homem.
A comparação mostra que a relação entre diferença e desigualdade não é, de forma nenhuma, um argumento universalizável. Um estrangeiro vindo de uma sociedade individualista diria que diferença não é o mesmo que desigualdade e a segunda não decorre naturalmente da primeira. Para este último, a diferença é uma propriedade da natureza e, em sociedade, do exercício da liberdade; já a desigualdade é uma construção social, ela implica a domição do homem pelo homem. A prova já está, por exemplo, no Discurso da servidão voluntária (LA BOÉTIE, 1982LA BOÉTIE, Etienne. Discurso da servidão voluntária. São Paulo: Brasiliense, 1982.), redigido em 1547. Ou, como diria Rawls, de safra mais recente, “A distribuição natural” – ou, como ele diz em outra parte, “a loteria natural dos talentos” – “não é nem justa, nem injusta; tampouco é injusto que, na sociedade, as pessoas nasçam em alguma posição particular. Estes são simples fatos naturais”. E completa: “O que é justo ou injusto é a maneira pela qual as instituições lidam com esses fatos” (RAWLS, 1999RAWLS, John. A theory of justice. Ed. rev. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999., p. 87).8 8 No original: “The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that persons are born into society at some particular position. These are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institutions deal with these facts”. Para Rawls, o princípio de justiça que propõe Barbosa seria um exemplo de sociedades injustas, justamente porque “A estrutura básica [da sociedade brasileira] incorpora a arbitrariedade encontrada na natureza” (RAWLS, 1999RAWLS, John. A theory of justice. Ed. rev. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999., p. 88).9 9 No original: “The basic structure of these societies incorporates the arbitrariness found in nature”. Vê-se, portanto, que a verdade da fórmula “somos todos diferentes e portanto desiguais” não deriva de um argumento universalmente válido, mas de uma tradição particular: nesta, ao invés da igualdade natural, que a sociedade deturpa e destrói, encontramos a desigualdade social como a condição natural do homem que o direito tem de alguma forma que organizar, às vezes contra o exagero e a insconstância da própria sociedade.
A doutrina jurídica brasileira estabelece dois conceitos auxiliares: a igualdade formal e a igualdade material (PONTES DE MIRANDA, 2002PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Democracia, liberdade, igualdade (os três caminhos). Campinas: Bookseller, 2002.). A primeira fala de igualdade perante a lei, a segunda da igualdade em sociedade ou, com mais propriedade, da desigualdade entre os homens. No que diz respeito à igualdade material, o senso comum dos juristas contemporâneos compreende, como Barbosa, que as pessoas seriam naturalmente desiguais (BARROSO, 1986BARROSO, Luís Roberto. A Igualdade perante a lei; algumas reflexões. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, v. 38, p. 64-79, 1986.; GUEDES, 2014GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.). Como diz um livro de safra recente de um jurista brasileiro, “Os seres humanos são naturalmente desiguais. São diferentes se comparados entre si, seja em suas característas físicas, seja em suas características intelectuais. São também diferentes como sujeitos e agentes sociais” (GUEDES, 2014GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014., p. 25). Outrossim, os juristas interpretam a fórmula “tratar desigualmente com os desiguais, na justa medida de sua desigualdade” como o princípio, talvez o mais fundamental, da justiça. O ponto é que a oposição entre as igualdades formal e material dialogam diretamente com as formulações de Barbosa que vimos acima, chegando mesmo a reproduzi-las no essencial.
A partir daí, constroem-se mecanismos jurídicos que caminham em direções opostas. E esses derivam, por sua vez, de duas interpretações possíveis do princípio da justiça que propõe Barbosa. A primeira delas se caracteriza por interpretar “tratar desigualmente os desiguais” no sentido de proteção das pessoas que estejam no polo interior de uma relação assimétrica. “O princípio da desigualdade”, diz Guedes, “é a regra que permite a compensação, o tratamento diferenciado ou a incidência da regra da justiça e o tratamento proporcional” (GUEDES, 2014GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014., p. 181). E, mais adiante, afirma que, ideologicamente, predomina “o objetivo de se proteger aqueles que estão em posicionados em condição inferior” (GUEDES, 2014GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014., p. 197). Esta parece ser a interpretação corrente do trecho de Barbosa, algo que, além da bibliografia que citamos neste artigo, é corroborado por nossa etnografia do campo jurídico nos últimos anos: sempre que se o menciona, é nesse primeiro sentido, como a interpretação “correta” daquilo que Barbosa quereria dizer. Todavia, a questão central é o sentido que a assimetria tem na ideologia de uma sociedade. A nossa hipótese de trabalho é que os mecanismos jurídicos de discriminação positiva, na sociedade brasileira, não implicam no reconhecimento de uma igualdade profunda. Pelo contrário, eles assumem, no Brasil, um cárater paternalista, justamente porque supõem a inferioridade “natural” de alguns que, por isso mesmo, devem ser protegidos. E isso nos leva ao outro sentido possível do trecho de Barbosa.
O segundo sentido para o trecho de Barbosa corre silencioso, quer dizer, dificilmente se o menciona no campo jurídico. Ele é bem mais próximo ao autor e ao seu tempo e – não resta dúvida – corresponde ao sentido mais literal do texto. Aliás, o autor é bem explícito. Ele vai afirmar que a justa regra de distribuição do produto social (a frase é nossa) resulta do “valor” de cada um: “A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam”, diz ele. “Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade” (BARBOSA, 1999BARBOSA, Rui. Oração aos moços. 5. ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1999., p. 26). Ora, se os homens valem diferentemente – como o autor defende, vimos acima –, eles devem ganhar proporcionalmente aquilo que são, quer dizer, aqueles que valem mais ganham mais e, inversamente, os que valem menos ganham menos. Essa segunda possibilidade da interpretação de Barbosa é – reconheçamos – inapropriada aos humores do nosso tempo, pois defende não apenas que a desigualdade é inescapável, visto que natural; mas que, por ser natural, é também justa (ABREU, 2013bABREU, Luiz Eduardo. Justiça e desigualdade no direito brasileiro. Revista de Direito Brasileira, v. 5, p. 69-90, 2013b.). E a pergunta relevante para o nosso argumento é se esse segundo sentido, como o primeiro, influencia a nossa legislação e as decisões dos nossos juízes. A nossa hipótese de trabalho é que sim. Mas ela corre silenciosa, justamente pelo contexto contemporâneo. Com efeito, na sociedade brasileira mais ampla, ninguém iria, hoje e de boa vontade, admitir que nossa ideologia social considera a desigualdade não apenas legítima mas justa. No entanto, encontramos situações nas quais, ao lado do direito à igualdade de tratamento, espera-se que, legitimamente, alguns tenham reconhecido o direito ao tratamento diferencial, quer dizer, eles teriam direto a direitos que não seriam compartilhados pelo resto dos cidadãos: mais explicitamente, direitos que decorrem do fato de pertencerem ao polo superior de uma sociedade profundamente assimétrica (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2013CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís Roberto. Equality, dignity and fairness: Brazilian citizenship in comparative perspective. Critique of Anthropology, v. 33, n. 1, p. 131-145, 2013.). De forma análoga, não vamos encontrar, no direito, a defesa da desigualdade justa. Ela só pode ser percebida pelo movimento do conjunto das instituições e das decisões. Dito de outro jeito, o uso do conjunto dos dispositivos normativos permite que a diferença de valor da qual falava Barbosa se infiltre nos julgamentos. E o fato de ele correr silencioso torna-o, por isso, muito mais insidioso e difícil de apontar (como exemplo “empírico” vide os trabalhos de SOUZA, 2012SOUZA, Larissa Maria Melo. A fábrica de argumentos: uma etnografia da construção da iniquidade nos casos da anistia pelo Supremo Tribunal Federal. 2012. 295 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, Brasília, 2012., e ABREU e SOUZA, 2013ABREU, Luiz Eduardo.; SOUZA, Larissa Maria Melo. O golpe e os marinheiros: notas sobre o uso à brasileira da jurisprudência no STF. Universita Jus, v. 24, n. 3, 2013., sobre os julgamentos que cercam a Lei da Anistia).
Mas o que isso tem a ver com a margem nacional de apreciação e o pluralismo ordenado? A pergunta não é puramente retórica. Com efeito, parece que estamos tão distantes daqueles conceitos que a tarefa de voltar a eles nos coloca certa dificuldade. E esse é justamente o ponto. A dificuldade de relacioná-los mostra que a margem nacional e o pluralismo ordenado não conseguem dar conta da complexidade que o exemplo da aplicação do conceito da igualdade pelo direito brasileiro traz para o debate. E, isso por sua vez, sugere duas possibilidades. A primeira seria saber se poderíamos continuar defendo a existência de uma “margem”, quer dizer, um campo semântico de interpretações possíveis mais ou menos amplo, conforme a norma e/ou princípio. Ora, vimos que o sentido de igualdade utilizado pelo direito brasileiro é, em algumas de suas aplicações, a subversão do sentido de igualdade adotado pelas sociedades individualistas modernas, como a francesa. Mas há também uma segunda possibilidade que, nos parece, é mais central e está ligada à diferença entre as linguagens da modernidade e uma linguagem local. O que o exemplo do conceito de igualdade questionou foi a capacidade de a linguagem do direito internacional compreender as especificidades locais, compreender, por exemplo, como o direito brasileiro, como uma linguagem local, utiliza sua capacidade de adaptar os termos e os dispositivos do direito internacional para transformá-los em algo inteiramente diverso, de maneiras novas e inusitadas. E isso nos leva a sugerir um outro rumo para as intuições mais centrais do projeto. Talvez seja preciso inverter a ordem do olhar: ao invés de examinar os direitos locais a partir do direito internacional, quer dizer, qual a medida da margem que os direitos locais exercem frente ao direito internacional, percorrer a direção contrária, a saber, descobrir como os contextos sociais e cuturais locais colonizam a seu modo os mecanismos internacionais. Num plano mais teórico, isso equivaleria a inverter a relação entre os conceitos: não mais o pluralismo ordenado como o resultado da margem nacional, mas o pluralismo e a diferença como fenômenos primeiros, no sentido de logicamente anteriores, sobre o qual todo o resto se constrói.
Referências Bibliográficas
- ABREU, Luiz Eduardo. Etnografia constitucional: quando o direito encontra a antropologia. In: ABREU, Luiz Eduardo. (Org.). Os bastidores do Supremo e outras histórias curiosas: 5 estudos de etnografia constitucional. Brasília: UniCEUB, 2013a. p. 9-34.
- ABREU, Luiz Eduardo. Justiça e desigualdade no direito brasileiro. Revista de Direito Brasileira, v. 5, p. 69-90, 2013b.
- ABREU, Luiz Eduardo. L’Etat contre la société. La norme juridique et le don au Brésil. Droit et Société, v. 83, p. 137-154, 2013c.
- ABREU, Luiz Eduardo.; SOUZA, Larissa Maria Melo. O golpe e os marinheiros: notas sobre o uso à brasileira da jurisprudência no STF. Universita Jus, v. 24, n. 3, 2013.
- AUSTIN, John L. How to do things with words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955. 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 1975.
- AZEVÊDO, Paula. Uma etnografia do algodão. O caso da OMC. In: ABREU, Luiz E. (Org.). Os bastidores do Supremo e outras histórias curiosas: 5 estudos de etnografia constitucional. Brasília: UniCEUB, 2013. p. 201-255.
- BARBOSA, Rui. Oração aos moços 5. ed. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1999.
- BARROSO, Luís Roberto. A Igualdade perante a lei; algumas reflexões. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, v. 38, p. 64-79, 1986.
- BERMAN, Harold J. Law and revolution: the formation of the Western legal tradition. Cambridge: Harvard University Press, 1983.
- BERNSTEIN, Richard J. Beyond objectivism and relativism: science, hermeneutics, and praxis. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1983.
- CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís Roberto. Equality, dignity and fairness: Brazilian citizenship in comparative perspective. Critique of Anthropology, v. 33, n. 1, p. 131-145, 2013.
- DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit: le relatif et l’universel. Paris: Éditions du Seuil, 2004.
- DELMAS-MARTY, Mireille. Un ordre juridque en formation? Cours prononcés au Collège de France. Paris. 2005
- DELMAS-MARTY, Mireille. Les forces imaginantes du droit: le pluralisme ordoné. Paris: Éditions du Seuil, 2006.
- DUMONT, Louis. Essais sur l’individualisme: une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne. Paris: Éditions du Seuil, 1985.
- DWORKIN, Ronald M. Law’s empire Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- GRAY, John. Post-liberalism: studies in political thought. London: Routledge, 1996.
- GUEDES, Jefferson Carús. Igualdade e desigualdade: introdução conceitual, normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.
- HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- HERMITTE, Marie-Angèle. Le droit est un autre monde. Enquête, v. 7, p. 17-37, 1998.
- JOHNSTONE, Ian. Security Council Deliberations: The Power of the Better Argument. Eur J Int Law, v. 14, n. 3, p. 437-480, 2003.
- KUHN, Thomas. The structure of scientific revolutions 3. ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- KYMLICKA, Will. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- LA BOÉTIE, Etienne. Discurso da servidão voluntária São Paulo: Brasiliense, 1982.
- MACINTYRE, Alasdair. Whose justice? Which rationality? Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1988.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Democracia, liberdade, igualdade (os três caminhos) Campinas: Bookseller, 2002.
- RAWLS, John. A theory of justice Ed. rev. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- RAWLS, John. Political liberalism Ed. expanded. New York: Columbia University Press, 2005.
- RICHARDS, Audrey R. The concept of culture in Malinowski’s work. In: FIRTH, R. (Org.). Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski. 2. ed. New York: Harper & Row, 1964.
- ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes Chicoutimi: Université du Québec, 2002.
- SAUSSURE, Ferdinand. Cours de linguistique générale: Édition critique préparée par Tullio de Mauro. 3. ed. Paris: Payot & Rivages, 1995.
- SOARES DE SOUZA, Paulino José. Ensaio sobre o direito administrativo. In: CARVALHO, J. M. (Org.). Visconde do Uruguai São Paulo: Editora 34, 2002. p. 65-504.
- SOUZA, Larissa Maria Melo. A fábrica de argumentos: uma etnografia da construção da iniquidade nos casos da anistia pelo Supremo Tribunal Federal. 2012. 295 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Centro Universitário de Brasília, UniCEUB, Brasília, 2012.
- TAYLOR, Charles. The politics of recognition. In: GUTMANN, A. (Org.). Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press, 1994. p. 25-73.
- TELES FILHO, Eliardo França. Estado, sociedade e direito: uma reflexão sobre a ideologia política em Oliveira Vianna. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2006.
- WARAT, Luís Alberto. O sentido comum teórico dos juristas. In: FARIA, J. E. (Org.). A crise do direito numa sociedade em mudança Brasília: Ed. da UnB, 1988. p. 31-40.
- WEBER, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press, 1978.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations: The German text, with a revised English translation. 3. ed. London: Basil Blackwell, 2001.
-
1
Uma versão inicial do texto foi apresentada numa jornada de estudos no Collège de France e num colóquio na FGV em São Paulo. Agradeço aos participantes dos eventos por suas contribuições e comentários.
-
2
Pode se reconhecer que há diferentes “direitos internacionais” e não somente um único, sabendo que eles interessam a mesma coisa a partir de diferentes abordagens e, ao contrário, que uma mesma coisa não significa o mesmo percurso. Ver a demonstração em Hermitte (1998)HERMITTE, Marie-Angèle. Le droit est un autre monde. Enquête, v. 7, p. 17-37, 1998.. Reconhecemos que uma análise detalhada das diferenças poderia mudar substancialmente a discussão. Consequentemente, somos obrigados a reconhecer o caráter provisório de nossas conclusões.
-
3
A imagem reproduz livremente o original: “Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkelt von Gässchen und Plätzen, alten und neuen Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern” (WITTGENSTEIN, 2001WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations: The German text, with a revised English translation. 3. ed. London: Basil Blackwell, 2001., parágrafo 18).
-
4
A ideia de que a linguagem é um fenômeno social e, portanto, requer algo que seja compartilhado já está presente em vários autores. Por exemplo, Saussure (1995)SAUSSURE, Ferdinand. Cours de linguistique générale: Édition critique préparée par Tullio de Mauro. 3. ed. Paris: Payot & Rivages, 1995., Wittgenstein (2001)WITTGENSTEIN, Ludwig. Philosophical investigations: The German text, with a revised English translation. 3. ed. London: Basil Blackwell, 2001. e, mais próximo ao direito, Dworkin (1986)DWORKIN, Ronald M. Law’s empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986..
-
5
“The conception of language presupposed in saying this that of a language as it is used in and by a particular community living at a particular time and place with a particular shared beliefs, institutions, and practices. These beliefs, institutions, and practices will be furnished expressions and embodiment in a variety of linguistic expressions and idioms; the language will provide standard uses for a necessary range of expressions and idioms, the use of which will presuppose commitment to those same beliefs, institutions and practices. There was no way to discuss political matters in Cicero’s Rome except within a framework supplied by the standard uses of ‘respublica’, ‘auctoritas’ (originally a technical term in the procedures of the senate), ‘dignitas’, ‘libertas’, ‘imperium’, and the like. [...] The boundaries of a language are the boundaries of some linguistic community which is also a social community. This conception of language does require supplementations in one way. [...] [T]here is, for better or for worse, late twentieth-century English, an internationalized language, which like other late twentieth-century internationalized languages [...] has been developed so as apparently to become potentially available to anyone and everyone, whatever their membership in any or no community. [...] We can therefore compare and contrast languages in respect of the degree to which some particular language-in-use is tied by its vocabulary and its linguistic uses to a particular set of beliefs, the beliefs of some specific tradition, so that to reject or modify radically the beliefs will require some corresponding kind of linguistic transformation (MACINTYRE, 1988MACINTYRE, Alasdair. Whose justice? Which rationality? Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1988. p. 372-374).”
-
6
É preciso lembrar-se da ideia de Gray pela qual a sociedade civil é a condição de possibilidade e o que o mundo pode herdar das sociedades ocidentais. Ver Gray (1996)GRAY, John. Post-liberalism: studies in political thought. London: Routledge, 1996., principalmente o último capítulo: “What is live and dead in liberalism?”. Ver também a crítica de Kymlicka (1995)KYMLICKA, Will. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Oxford: Oxford University Press, 1995. contra o liberalismo.
-
7
No original: “[t]his distortion by translation [...] is of course apt to be invisible to those whose first first language is one of the internationalized languages of modernity. For them it must appear that there is nothing which is not translatable into their language. Untranslatability – if cautious, they may say untranslatability in principle – will perhaps appear to them as a philosophical fiction”.
-
8
No original: “The natural distribution is neither just nor unjust; nor is it unjust that persons are born into society at some particular position. These are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institutions deal with these facts”.
-
9
No original: “The basic structure of these societies incorporates the arbitrariness found in nature”.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
May-Aug 2016
Histórico
-
Recebido
02 Jun 2014 -
Aceito
23 Mar 2016