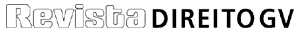Resumo
Em On Human Rights, James Griffin defende persuasivamente a tese jusnaturalista de que direitos humanos devem ser concebidos como proteções da personalidade, isto é, da capacidade inerente a membros da espécie humana de agir enquanto agentes morais autônomos e livres. A partir de uma interpretação holística do pensamento do autor, e por meio de uma abordagem analítica, este artigo examina os principais elementos da teoria dos direitos humanos de Griffin, passando por sua metodologia e objetivos, conceitos centrais e fundamentação filosófico-normativa nas noções de interesses humanos básicos e praticidades. O texto considera, ainda, a crítica de Joseph Raz de que a proposta de Griffin seria inconsistente e incapaz de explicar boa parte dos direitos humanos tradicionalmente reconhecidos na prática internacional. Conclui-se que a teoria de Griffin tem recursos suficientes para oferecer uma resposta à altura da objeção levantada por Raz.
James Griffin; filosofia do Direito; direitos humanos; personalidade; praticidades
Abstract
In ‘On Human Rights’, James Griffin argues persuasively that human rights should be conceived as protections of personhood, that is, of the distinctive status of human beings as self-directing moral agents. Adopting a holistic interpretation of the author’s work, this article conducts a critical analysis of the central elements of Griffin’s account of human rights, including its methodology, objectives, and central concepts, as well as its attempt to ground human rights norms in basic human interests and practicalities. Lastly, the text considers the merits of Joseph Raz’s critique of Griffin, which claims that his proposal is inconsistent and incapable of accounting for most of the human rights traditionally recognized in international practice. I conclude, with Griffin, that his theory has enough resources at its disposal to offer a compelling answer to Raz’s objection.
James Griffin; Philosophy of Law; human rights; personhood; practicalities
Introdução
Em dezembro de 2018, o mundo festejava o septuagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Poucos sabem, no entanto, que a data representou também outro importante marco para aqueles que se dedicam ao estudo dos direitos humanos: eis que completava, naquela ocasião, uma década da publicação da obra On Human Rights (2008), do filósofo e professor emérito da Universidade de Oxford James Griffin. Trata-se, em suma, de uma das mais influentes – se não a mais influente – investigações filosóficas produzidas em tempos recentes sobre a natureza, o escopo e a justificação dos direitos humanos. O tomo foi aclamado pela crítica como “uma obra-prima” (HOOKER, 2010HOOKER, Brad. Griffin on Human Rights. Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, v. 30, n. 1, p. 193-205, 2010., p. 193), “um dos clássicos sobre direitos humanos, ao menos desta geração” (HASSOUN, 2012HASSOUN, Nicole. Reviewed Work: On Human Rights by James Griffin. Journal of Philosophy, Nova York, v. 109, n. 7, p. 462-468, 2012., p. 462), e “possivelmente o mais importante tratado sobre direitos humanos escrito desde a DUDH” (TASIOULAS, 2012TASIOULAS, John. On the Nature of Human Rights. In: ERNST, Gerhard; HEILINGER, Jan-Christoph (orgs.). The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies. Berlim: De Gruyter, 2012. p. 17-59., p. 647).
Este artigo consiste em uma análise crítica da obra de Griffin, propondo-se, enquanto tal, a trazer duas contribuições à discussão filosófica sobre direitos humanos: primeiro, suprir um déficit persistente nos comentários sobre a obra publicados até então na literatura internacional, a saber, a ausência de uma avaliação abrangente e sistemática do pensamento do autor que busque situar sua teoria dos direitos humanos no contexto de suas demais contribuições à filosofia moral, em especial sua discussão sobre interesses humanos básicos em Value Judgment (1996) e sobre praticidades em What Can Philosophy Contribute to Ethics? (2015);1 1 O mais próximo que temos de uma avaliação abrangente do pensamento de Griffin é a coletânea Griffin on Human Rights (2014), organizada por Roger Crisp. Há também o artigo “Human Rights, Universality and the Values of Personhood: Retracing Griffin’s Steps”, de John Tasioulas, publicado em 2002, porém ele precede a publicação de On Human Rights (2008). Em ambos os casos não há, obviamente, qualquer menção à concepção de praticidades desenvolvida por Griffin em What Can Philosophy Contribute to Ethics? (2015), visto que os textos são anteriores à publicação dessa obra. A noção de interesses humanos básicos, por sua vez, é detalhada no artigo de Tasioulas, mas não na coletânea de Crisp. segundo, oferecer, com base nessa interpretação holística, uma defesa da teoria de Griffin contra uma influente crítica feita por Raz, a qual tem sido aceita por seus críticos até então (BUCHANAN, 2010BUCHANAN, Allen. The Egalitarianism of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 679-710, 2010.; CRISP, 2014CRISP, Roger. Griffin on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2014. 252 p.; CRUFT, 2011CRUFT, Rowan. Human Rights as Rights. In: ERNST, Gerhard; HEILINGER, Jan-Christoph (orgs.). The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies. Berlim: De Gruyter, 2011. p. 129-158.; MAYR, 2011MAYR, Erasmus. The Political and Moral Conceptions of Human Rights – a Mixed Account. In: ERNST, Gerhard; HEILINGER, Jan-Christoph (orgs.). The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies. Berlim: De Gruyter, 2011. p. 73-106.; RAZ, 2010RAZ, Joseph. Human Rights without Foundations. In: BESSON, Samantha; TASIOULAS, John (orgs.). The Philosophy of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 321-337.; REIDY, 2014REIDY, David A. When Good Alone Isn’t Enough. In: CRISP, Roger (org.). Griffin on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 46-76.; SANGIOVANNI, 2017SANGIOVANNI, Andreas. Humanity Without Dignity. Cambridge: Harvard University Press, 2017. 317 p.; TASIOULAS, 2010TASIOULAS, John. Taking Rights out of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 647-678, 2010.)2 2 O próprio Griffin (2014, p. 210-212) oferece apenas um comentário de passagem à objeção. – erroneamente, a nosso ver – como uma objeção definitiva à sua proposta.
O texto encontra-se disposto da seguinte forma: as partes 1 e 2 oferecem aquilo que se considera a interpretação mais acurada da teoria de Griffin. Mais especificamente, a parte 1 versa sobre o programa geral da obra, apresentando sua metodologia e objetivos (1.1.) e seus conceitos essenciais (1.2.). A parte 2 aprofunda-se nas duas outras produções do autor mencionadas anteriormente, a fim de resgatar dois pontos pouco explorados em On Human Rights, mas que são fundamentais para sua compreensão: a apologia de Griffin à existência de interesses humanos básicos (2.1.), e como esses interesses, em conjunto com a noção de praticidades, dão origem às normas de direitos humanos (2.2). A parte 3, por fim, analisa a influente crítica de Raz de que o tratamento do autor a respeito da relação entre direitos humanos e o valor da personalidade sofreria de três problemas graves: seria pouco determinado; incapaz de derivar os direitos que diz poder derivar; e não representaria um guia adequado para compreender e avaliar a prática dos direitos humanos. Com base na interpretação desenvolvida em (1) e (2), argumenta-se ser possível elaborar, na forma de um modelo escalonado de direitos humanos, uma resposta convincente a essas preocupações, e que a teoria de Griffin permanece viva como uma teoria de direitos humanos plausível.
1. On Human Rights
1.1. Direitos humanos: um projeto inacabado
On Human Rights inicia-se com uma descrição cética, quase derrogatória, do atual estado do discurso de direitos humanos: “Esse livro é instigado pela não incomum convicção de que nós não tínhamos ainda uma ideia clara o suficiente do que são os direitos humanos” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 1, tradução nossa). Griffin nota que, não obstante “direitos humanos” tenha se consolidado como o principal termo do vocabulário moral de nosso tempo, não há, na prática, nem mesmo entre especialistas, critérios minimamente satisfatórios para indicar quando o conceito é empregado correta ou incorretamente. Em verdade, quando pressionados para justificar nossas reivindicações de direitos humanos, a maior parte de nós pode fazer pouco mais do que deferir acriticamente a certos documentos autoritativos, ou invocar noções imprecisas, como “dignidade humana” e “igualdade”. “Nesse sentido, a linguagem de direitos humanos se encontra debilitada” (GRIFFIN, 2008, p. 15, tradução nossa).
Para Griffin, essa indeterminação de sentido não é fruto do acaso, mas reflete um longo processo histórico que pode remeter à própria origem dos direitos humanos enquanto uma noção moral. O autor explica que o termo “direito”, em seu sentido moderno, a saber “uma pretensão possuída por um indivíduo de controlar ou exigir algo de outrem” (GRIFFIN, 2008, p. 30, tradução nossa), teria aparecido pela primeira vez nos trabalhos dos canonistas de Bolonha, por volta dos séculos XII e XIII. Acontece que, naquele momento, “direitos naturais” (ius naturale) foram concebidos com o propósito de desempenhar um papel específico na doutrina jusnaturalista cristã, possuindo, assim, conteúdo distintamente teológico. Com o avanço do Humanismo, entretanto, tornou-se cada vez mais atraente a noção de que as leis naturais, e, por conseguinte, os direitos naturais, poderiam ser investigados e descobertos exclusivamente pela razão humana, sem o auxílio da revelação divina. A progressiva secularização do termo no decurso da Modernidade resultou em um paradoxo: se, por um lado, ela permitiu sua propagação em larga escala na arena cultural, e, posteriormente, sua transformação em uma potente força política, por outro lado, ela promoveu um contínuo distanciamento de seu pano de fundo religioso, de tal modo que, ao fim desse processo, já no crepúsculo do Iluminismo, o termo foi despido de grande parte de seu conteúdo original. Embora a associação entre “direitos naturais” – agora “direitos humanos”, ou “direitos do homem” – e “leis naturais” ainda pudesse ser encontrada em autores da época, ela passou a expressar pouco mais do que a vaga convicção de que esses direitos seriam normas morais independentes de convenções sociais e do direito positivo. Esse incompleto conceito “iluminista” de direitos humanos é, em essência, aquele que nos é legado até os dias atuais.
O objetivo de Griffin em On Human Rights, em suma, é desenvolver a noção histórica de direitos humanos que emerge da tradição rascunhada acima. Dada a trajetória do termo, esse trabalho consistirá, como o próprio autor coloca, em remediar o alto nível de imprecisão de sentido nele contido, a fim de torná-lo “satisfatoriamente determinado” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 18). “Satisfatoriamente” deve ser enfatizado, porque determinação de sentido é, de modo geral, uma questão de grau: raramente é possível encontrar uma palavra ou expressão cujas instâncias de uso sejam completamente exauridas por uma única fórmula ou um conjunto de critérios linguísticos – ou, conversamente, cujo uso não seja pautado por nenhum tipo de regra. A questão que deve ser posta, portanto, é outra: qual nível de precisão se pode (razoavelmente) esperar de uma teoria de direitos humanos? Felizmente, Griffin deixa sua posição nesse ponto bem clara:
Precisamos de um sentido que nos dará ao menos as condições de existência para um ‘direito humano’, que indicará fundamentos para decidir o conteúdo de direitos particulares, e que revelará como, de modo geral, devemos proceder ao tentar solucionar conflitos envolvendo direitos humanos. Em resumo, precisamos de um sentido determinado o suficiente para nos permitir realizar esses movimentos racionais básicos – movimentos que não conseguimos realizar no presente. (GRIFFIN, 2010GRIFFIN, James. Human rights: Questions of aim and approach. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 741-760, 2010., p. 749, tradução nossa)
Como prosseguiríamos, então, nos termos dessa proposta? Primeiro, é claro, deve-se consultar a prática dos direitos humanos em ambos seus aspectos atuais e históricos. Isso permitirá localizar quais elementos já integram, implícita ou explicitamente, o conceito de direitos humanos em seu estado atual. E se, como visto, esse conceito contém alto grau de indeterminação, o próximo passo envolverá inevitavelmente um ato de estipulação. Nesse ponto, Griffin diverge substancialmente de outros autores jusnaturalistas, como Alan Gewirth (GEWIRTH, 1978, p. 110), os quais buscam derivar direitos humanos a partir de certas necessidades lógicas, ou, simplesmente, apresentá-los como estruturas morais axiomáticas. Seu projeto, Griffin ressalta, é mais bem entendido não como uma derivação, mas como “uma ‘proposta’ baseada em uma intuição de que esse modo de remediar a indeterminação do termo melhor servirá ao seu papel na Ética” (GRIFFIN, 2008, p. 4, tradução nossa).
A existência de um elemento estipulativo em sua metodologia, no entanto, não deve ser confundida com um convite à arbitrariedade, mas se trata, como o autor coloca, de uma forma de “liberdade sob restrições” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 30). Há, primeiro, uma restrição interpretativa: sua teoria deve se conformar minimamente com os critérios de uso prescritos pela prática, não podendo, portanto, constituir-se em uma completa “criação”. Há, também, uma restrição normativa: seu interesse não reside em qualquer concepção de direitos humanos, mas apenas naquelas alicerçadas em robustas razões morais, de modo a permitir que o termo desempenhe o importante papel ético que dele é esperado. Por fim, há uma restrição de natureza prática: como o objetivo final da teoria de Griffin é essencialmente prático – i.e. provocar uma mudança de discurso –, sua proposta deve necessariamente atingir certos requisitos básicos de simplicidade e inteligibilidade, sob o risco de não ter uma chance real de ser adotada pelos membros da comunidade linguística. Excluem-se, assim, opções vagas ou excessivamente complexas de seu leque de possibilidades.
Ainda nesse ponto, é oportuno contrastar a abordagem de Griffin, definida pelo próprio autor como substantiva (substantive) e de baixo para cima (bottom-up), com outras abordagens influentes no âmbito da teoria de direitos humanos. Teorias substantivas são essencialmente éticas e avaliativas, no sentido de que buscam explicar o significado do termo “direitos humanos” apelando diretamente a um ou mais valores morais substantivos – por exemplo, aos valores da dignidade humana, da justiça ou da igualdade. Essas contrapõem-se às ditas teorias estruturais (structural accounts), cujos proponentes incluem, entre outros, Ronald Dworkin e John Rawls,3 3 As referências são, respectivamente, às noções de direitos como trunfos sobre apelos ao bem comum (DWORKIN, 1977), e direitos humanos como normas que delimitam as razões para a guerra e interferência externa no direito dos povos (RAWLS, 1999). No caso de Dworkin, note que a classificação se aplica apenas à sua teoria dos direitos lato sensu, e não à sua teoria dos direitos humanos, a qual veio a desenvolver posteriormente em Justice for Hedgehogs (2011). Esta, ao contrário daquela, é substantiva, pois vincula diretamente o sentido de direitos humanos ao valor da dignidade humana (DWORKIN, 2011, p. 335). as quais buscam articular o sentido de direitos em geral ou direitos humanos em específico com base meramente nas características formais (ou funções) que esses termos desempenham no discurso moral, de modo a evitar vincular sua definição a juízos de valor específicos e potencialmente controversos (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 20).
A segunda distinção é entre as teorias de baixo para cima e de cima para baixo (top-down). Teorias de baixo para cima assumem como ponto de partida o conceito de direitos humanos tal como de fato utilizado na vida social, não apenas por filósofos, mas por ativistas, juristas, políticos, etc., e, a partir daí, definem a quais princípios devem apelar a fim de justificar o conteúdo e a autoridade normativa desses direitos. As teorias de cima para baixo, sua contraparte, procedem pelo caminho inverso, derivando de modo sistemático o conceito de direitos humanos a partir de um conjunto de princípios éticos externos à prática dos direitos humanos. Esse seria o caso, por exemplo, de uma teoria que assume como ponto de partida a ética kantiana ou utilitarista, e, a partir dela, atribui um sentido ao termo – digamos, “direitos humanos são aquelas normas as quais, universalmente aplicadas, resultam no maior aumento da utilidade” – que não necessariamente reflete o modo como ele é utilizado na prática.
Em suma, a teoria de Griffin é substantiva, já que, como veremos, ela busca definir direitos humanos em termos do valor da personalidade (personhood). Ela é também de baixo para cima, pois adota como ponto de partida a noção histórica de direitos humanos; essa, a seu ver, está no cerne da prática contemporânea, e, portanto, informa o sentido corrente do termo.4 4 Em The Idea of Human Rights (2009, p. 7-12), Beitz faz uma distinção similar entre teorias de cima para baixo e de baixo para cima. O autor argumenta, porém, que a teoria de Griffin seria um exemplo do primeiro tipo de abordagem, e não do segundo. O motivo dessa divergência não é terminológico: tal como Griffin, Beitz acredita que uma abordagem de baixo para cima deve, primeiro, adotar como ponto de partida a prática contemporânea dos direitos humanos, e, segundo, buscar elucidar – ou, em suas palavras, inferir – o sentido do termo com base nos materiais providos por ela. O problema, basicamente, é que Beitz e Griffin têm ideais distintos sobre o que, afinal, é prática dos direitos humanos. Para Beitz, há boas razões históricas e teóricas para caracterizar a prática dos direitos humanos não como uma continuidade da tradição dos direitos naturais, mas como um projeto político público sui generis com propósitos, formas de ação e cultura próprios (BEITZ, 2009, p. 8). Como resultado, ele deve necessariamente classificar a teoria de Griffin como de cima para baixo, pois ela adotaria como ponto de partida princípios éticos externos à prática. Griffin, pelo contrário, vê a prática dos direitos humanos e a tradição dos direitos naturais intimamente conectadas. Para ele, a tradição é interna à prática; logo, sua teoria, sendo baseada nela, deve ser classificada como de baixo para cima.
1.2. Os fundamentos dos direitos humanos: personalidade e praticidades
A proposta de Griffin toma como base dois elementos da tradição jusnaturalista, que, segundo o autor, a maior parte de nós toma como dados em nossos argumentos sobre direitos humanos. O primeiro deles consiste na familiar tese de que direitos humanos são “direitos que possuímos simplesmente em virtude de nossa humanidade” (GRIFFIN, 2008, p. 2, tradução nossa) – ou, para usar a forma abreviada de John Tasioulas, que eles são direitos morais universais (TASIOULAS, 2012, passim). Essa definição é, em geral, imediatamente seguida de uma segunda afirmação, a qual é sintetizada pela máxima “direitos humanos derivam da ‘dignidade da pessoa humana’” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 27, tradução nossa). É evidente que o reconhecimento de uma conexão conceitual entre direitos humanos e dignidade humana traz consigo o velho problema, anterior até mesmo à própria noção de direitos humanos, de determinar o que, afinal, é a existência humana, quando tomada em um sentido distintamente normativo. Quanto a esse ponto, o autor concede que um mero exame linguístico da evolução histórica dos padrões de uso do termo não nos deve conduzir a qualquer solução definitiva. Contudo, muito embora a tradição esteja aberta a múltiplas interpretações igualmente plausíveis, Griffin considera que uma das alternativas, todas as coisas consideradas, apresenta-se como a mais viável para os fins específicos de seu projeto teórico – vale lembrar, o autor não está interessado no conceito de “dignidade humana” em todas as suas possíveis aplicações, mas apenas naquele sentido assumido quando o termo é utilizado como fundamento, i.e. fonte normativa, dos direitos humanos. Trata-se, em síntese, do entendimento encontrado em autores como Giovanni Pico della Mirandola, Kant e Rousseau, o qual vincula dignidade e humanidade à capacidade dos membros da espécie homo sapiens para a agência moral – ou, usando seus exatos termos, à sua “personalidade”:
A vida humana é diferente da vida dos outros animais. Nós temos uma concepção de nós mesmos e de nosso passado e futuro. Nós refletimos e avaliamos. Nós formamos imagens do que consiste uma boa vida – com frequência, é verdade, apenas em pequena escala, mas ocasionalmente também em maiores dimensões. E nós tentamos realizar esses planos. Isso é o que queremos dizer por uma existência distintamente humana [...]. Nós valorizamos nosso status enquanto seres humanos com especial estima, as vezes mais do que nossa própria felicidade. Esse status centra-se entorno de sermos agentes – deliberando, avaliando, escolhendo e agindo para realizar aquilo que entendemos como a vida boa.
Direitos humanos podem então ser entendidos como proteções de nosso status humano, ou, como eu colocarei, nossa personalidade. E podemos decompor a noção de personalidade em elementos mais claros a partir de uma análise da noção de agência. Para ser um agente, no sentido mais completo de que somos capazes, é preciso (primeiro) que se possa escolher seu próprio caminho pela vida – isto é, não ser dominado ou controlado por algo ou alguém (chame isso ‘autonomia’). E (segundo) essas escolhas precisam ser reais; é necessário se ter ao menos um mínimo de educação e informação. E, tendo escolhido, deve-se ser capaz de agir; isto é, deve-se ter pelo menos um mínimo de recursos e capacidades para tal (chame isso tudo de ‘provisão mínima’). E nada disso serve para alguma coisa se alguém pode impedir a realização de seus planos; então (terceiro) os outros devem também não impedir forçadamente que cada um possa perseguir o que tenha escolhido como uma vida boa (chame isso ‘liberdade’). (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 32-33, tradução nossa)
O valor da personalidade, então, tomado em seus três componentes – autonomia, liberdade e provisão mínima – é adotado como o primeiro fundamento dos direitos humanos. No entanto, ele não pode ser o único. Como Griffin pondera, considerações acerca desse valor não serão suficientes para fixar diretivas capazes de guiar a ação na maior parte das situações práticas. Considerando que direitos humanos são normas sociais razoavelmente concretas, as condições de existência de um direito humano “devem depender também, em alguma medida, de o conceito ter um grau de determinação capaz de gerar direitos ricos o bastante em conteúdo para serem pretensões efetivas e socialmente manejáveis sobre outrem” (GRIFFIN, 2008, p. 38, tradução nossa). Essa conclusão implica a necessidade de se reconhecer um segundo fundamento para os direitos humanos, o qual Griffin denomina “praticidades” (practicalities). Deve-se ressaltar, contudo, que praticidades não são um fundamento no sentido estritamente técnico que se aplica à personalidade, posto que praticidades não representam uma categoria normativa mais fundamental a partir da qual direitos humanos podem ser justificados. Elas são, como o autor coloca, “informações empíricas sobre [...] a natureza humana e as sociedades, proeminentemente sobre os limites cognitivos e motivacionais dos seres humanos” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 38, tradução nossa) – isto é, considerações práticas que, embora situadas fora do círculo normativo, são relevantes para informar, de um modo ou de outro, nossos juízos morais. Nesse sentido, como será explorado adiante, praticidades funcionam como uma espécie de fundamento suplementar, não apenas para os direitos humanos, mas para toda e qualquer norma moral complexa.
1.2.1. Implicações
É possível identificar três implicações para o conceito de direitos humanos que decorrem de sua fundamentação no valor da personalidade. São elas:
a) Restrições quanto ao conteúdo
Se direitos humanos são proteções da personalidade, isso significa que eles não podem ser “direitos a tudo aquilo que promova o bem-estar ou a prosperidade humana, mas apenas àquilo que é necessário à manutenção de nosso status humano” – nossa autonomia, liberdade e bem-estar material mínimo –, devendo ser entendidos, portanto, como “proteções de um estado mais ou menos austero: uma vida distintamente humana – e não uma vida boa, feliz ou próspera” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 34, tradução nossa). Disso, a lição a se extrair deve ser: direitos humanos são normas intentadas a desempenhar um papel específico e restrito dentro da esfera moral, de sorte que tentativas de entender sua esfera protetiva a todos os tipos de injustiças e ofensas, até mesmo a todas as ofensas graves, incorrem propriamente em um erro de categoria.
b) Restrições quanto ao sujeito de direito
Não deve vir como surpresa a conclusão de que, se direitos humanos se vinculam à capacidade humana para a agência, eles são possuídos apenas por agentes. Entretanto, a afirmação implica consequências nada triviais, uma vez que nem todos os membros da espécie humana podem ser considerados agentes no sentido adotado pelo autor. Entre esses, encontram-se os agentes em potencial – nascituros e recém-nascidos –, agentes parciais – crianças e adolescentes –, e, ainda, aqueles privados da capacidade de agência, total ou parcialmente – indivíduos com certas formas de debilidade física ou cognitiva, e pacientes em estado de coma. Respeito aos direitos humanos, é certo, impõe a obrigação de preservar a agência de outrem, e restaurá-la nos casos em que for possível. Quanto aos demais grupos, no entanto, não há respostas óbvias – fato que é atestado pela ferocidade das discussões sociais travadas em temas como aborto, eutanásia e os limites do direito à saúde. Griffin, em particular, vê-se atraído a adotar uma interpretação restritiva de agente, de modo que direitos humanos se apliquem apenas a agentes humanos completos, sem exceções.5 5 A exclusão de casos-limite controversos do escopo de sua teoria não significa, é claro, que Griffin negue a existência de importantes obrigações morais relativamente a esses indivíduos, mas apenas que essas possuam a natureza de direitos humanos. O autor admite, porém, que sua estipulação nesse ponto é de ordem prática – motivada, sobretudo, pelos critérios de simplicidade e inteligibilidade que informam seu projeto teórico –, e que a alternativa constitui uma opção igualmente plausível do ponto de vista normativo.
c) Restrições quanto à aplicação
Direitos humanos, enquanto direitos da personalidade, são inatos a todos os seres humanos independentemente de sua origem, raça, nacionalidade, condição social, etc. Essa noção familiar, entretanto, não é tão incontroversa quanto aparenta ser à primeira vista. Como nota Raz (RAZ, 2012, p. 224-225), se Griffin deseja sustentar a tese de que direitos humanos são direitos universais, ele deve estar preparado também para conceder que reconhece como direitos humanos genuínos apenas aqueles atribuíveis a todos os seres humanos, em todos os lugares e em todos os tempos. Essa definição, no entanto, seria incompatível com quase todos os direitos reconhecidos na prática contemporânea dos direitos humanos em documentos como a DUDH. Esse seria o caso, entre outros, do direito à educação: “Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito” (ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 217 (III) A, Paris, dez. 1948. Disponível em: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acesso em: 28 maio 21.
https://www.un.org/en/universal-declarat...
). Não deve vir como uma surpresa a constatação de termos como “instrução elementar”, “técnico-profissional” e “superior”, e até mesmo a própria noção de educação formal fariam pouco sentido para homens Cro-Magnon, servos medievais, ou, em verdade, qualquer ser humano não familiarizado com o modo de vida típico de uma sociedade moderna. Para Raz, isso não se trata de uma coincidência, mas explicita o fato de que direitos humanos não são universais em sua aplicação; ao contrário, pressupõem certas condições que apenas podem ser encontradas no contexto particular da Modernidade, por exemplo, a existência de um Estado centralizado capaz de coordenar a construção e o custeio de um sistema de educação público universal.
A questão, então, coloca-se da seguinte forma: seria possível reconciliar o fato de que certos direitos humanos incorporam em seu conteúdo fatos sociais contingentes, e a pretensão da tradição de que esses direitos sejam universais? Griffin argumenta que sim. Para tanto, o autor introduz uma distinção entre direitos humanos básicos e derivados, de modo a permitir sua classificação em diferentes níveis de abstração. Nesse esquema, o nível mais elevado emerge da articulação dos valores contidos na noção de agência: autonomia, liberdade e provisão mínima. As caracterizações menos abstratas, por sua vez, resultam da aplicação desses três direitos básicos “com atenção crescente às circunstâncias” (GRIFFIN, 2008, p. 50, tradução nossa). O autor distingue, ainda, dois tipos de direitos derivados: “aqueles derivados diretamente de direitos fundamentais, retendo, assim, sua universalidade, e aqueles derivados da aplicação de direitos universais a circunstâncias particulares, logo não universais” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 254, tradução nossa).
A possibilidade de um sistema de direitos humanos com diferentes níveis de abstração oferece uma solução persuasiva para o problema levantado por Raz. Confrontado pelo exemplo anterior, Griffin poderia argumentar que o direito à educação previsto na DUDH tem sua existência vinculada a elementos específicos da sociedade moderna por se tratar de um direito humano derivado com baixo grau de abstração, o qual pode ser concebido como uma aplicação, de modo sucessivo, dos direitos mais fundamentais à educação (ou informação) e à provisão mínima, esses sim abstratos o suficiente para carregarem o título de direitos humanos universais.
2. O lugar dos direitos humanos na ética6
A definição de direitos humanos como direitos da personalidade inicia-se, como visto, na rica vida que esses direitos possuem na prática corrente e histórica. Essa noção inicial, no entanto, não permanece inalterada até o término da obra On Human Rights. Para que o conceito de direitos humanos se torne, como Griffin espera, suficientemente determinado, é necessário que o autor vá além da mera análise lexicográfica do termo, e elabore de modo robusto seu conteúdo normativo. Nesse sentido, foi dito que Griffin está interessado em desenvolver a noção de direitos humanos que apareceria na melhor ética que se é possível conceber. Parece inevitável, então, que se suscite a pergunta: qual é essa ética, e qual o local dos direitos humanos nela?
2.1. Interesses humanos básicos
A resposta para essas questões pode ser encontrada em Value Judgment, obra na qual o autor desenvolve sua concepção metaética acerca da natureza das normas morais. A obra, no entanto, não se inicia, como se espera nesse tipo de trabalho, com uma discussão direta do status epistemológico de nossos juízos morais, mas com aquilo que se pode denominar “prudência” (prudence). Por juízos prudenciais, entende-se a consideração de “tudo aquilo que torna a vida melhor tão somente para a pessoa que a vive” (GRIFFIN, 1996GRIFFIN, James. Value Judgment: Improving our Ethical Beliefs. Oxford: Clarendon Press, 1996. 192 p., p. 19, tradução nossa). Nesse tema, a maior parte dos filósofos defere, ainda nos dias de hoje, ao dito “modelo das preferências” (taste model), de David Hume. Segundo esse modelo, há uma distinção intransponível entre juízos prudenciais e juízos de fato: estes concernem à descrição causal de eventos naturais, sendo eminentemente objetivos, enquanto aqueles compreendem tão somente a projeção de sentimentos e preferências individuais sobre objetos de outro modo desprovidos de valor, sendo, portanto, subjetivos. É claro, juízos do segundo tipo podem ser, assim como os do primeiro, informados por premissas empíricas equivocadas, e, nesse caso, também serem submetidos a um julgamento de veracidade. Entretanto, uma vez ultrapassada essa barreira inicial, não restaria qualquer critério objetivo capaz de confirmar a superioridade de um juízo prudencial sobre outro, por exemplo, entre escolher uma refeição A ou B para o almoço, ou uma ocupação C ou D como carreira profissional.
A despeito de sua popularidade, Griffin considera que o modelo das preferências deve ser rejeitado. Como o autor pondera, uma das revelações mais desconcertantes da vida é a descoberta da inexistência de uma correlação direta entre nossas preferências reais e aquilo que traz valor às nossas existências. É possível conquistar tudo aquilo que se deseja e ainda assim permanecer com um vazio enorme dentro de si, e perceber, em seus momentos finais, que uma vida inteira foi perdida perseguindo as coisas erradas, em vez daquilo que verdadeiramente seria capaz de trazer sentido à sua existência. E, se estamos prontos para admitir que existem respostas erradas para as questões da prudência, devemos também estar prontos para conceder que existem coisas que tornam a vida humana objetivamente melhor, não para este ou aquele indivíduo, mas de modo geral. Sendo esse o caso, a análise dos juízos prudenciais conduz a uma lista de interesses humanos básicos (GRIFFIN, 1996, p. 27). Embora qualquer especulação nesse sentido deva ser incompleta e aberta a revisões, Griffin considera a seguinte lista como um ponto de partida plausível:
-
Realização (accomplishment): dedicar-se a algo que atribui importância e direção à sua existência.
-
Conhecimento (understanding): conhecer a si mesmo e seu lugar no mundo; uma vida livre de ilusões e falsas convicções.
-
Prazer (enjoyment): todas aquelas experiências que envolvem a percepção da beleza, assim como a fruição das experiências do cotidiano da vida.
-
Relações pessoais significativas (deep personal relations): conexões pessoais profundas e recíprocas de amor e amizade, e engajamento dentro de uma comunidade.
-
Os componentes da existência humana (the components of human existence): aquilo referido até aqui como o valor da personalidade, com seus três componentes – autonomia, liberdade e provisão mínima.7 7 Uma lista de interesses humanos básicos é compatível, como Griffin faz questão de ressaltar, com uma concepção pluralista da vida humana. Dois indivíduos, por exemplo, podem concordar que realização constitui um valor universal, e ainda assim discordar completamente em relação ao seu sentido e à sua importância relativa aos demais valores.
A posição de Griffin, deve-se dizer, não se baseia exclusivamente no ponto prático mencionado acima. A nível teórico, o autor oferece o seguinte argumento originário da filosofia da linguagem de Wittgenstein:
Palavras possuem sentido apenas em virtude de existirem regras para seu uso, regras que fixam quando elas são utilizadas correta ou incorretamente. E Wittgenstein argumenta que regras não podem, em última análise, ser entendidas como standards mentais, mas apenas como parte de práticas compartilhadas. Essas práticas são possíveis apenas em razão de convicções, interesses, disposições, senso de importância, e assim por diante, que formam aquilo que Wittgenstein chama uma ‘forma de vida’. Nossa forma de vida fornece o cenário no qual nossa linguagem se desenvolve e apenas dentro do qual é inteligível. E uma forma de vida parece consistir em parte em um certo conjunto de valores compartilhados [...]. É impossível interpretar a linguagem que os outros utilizam sem assumir que possuímos certas convicções e atitudes básicas em comum – que, por exemplo, muitos de nossos interesses, desejos e preocupações são os mesmos. (GRIFFIN, 1996GRIFFIN, James. Value Judgment: Improving our Ethical Beliefs. Oxford: Clarendon Press, 1996. 192 p., p. 7-8, tradução nossa)
Esse ponto é melhor expresso por meio de um exemplo. Considere o caso do termo “dor”. Para que qualquer afirmação envolvendo esse conceito seja inteligível, é necessário que ambos os interlocutores compartilhem seus critérios de uso, i.e., sua definição, o que inclui, para Griffin, a compreensão, não apenas de certos elementos factuais – como a dor, que se difere de outras sensações corporais –, mas também valorativos – a saber, a convicção de que a dor é, em geral, um desvalor, algo a ser evitado e aliviado. E como a posse desses critérios deve ser anterior ao ato comunicativo para que esse seja bem-sucedido, torna-se possível afirmar que o modo de vida de uma comunidade linguística, incluindo a existência de certos valores comuns, é condição necessária, e, portanto, pressuposto pela simples ocorrência de tal ato. Note, ainda nesse sentido, que atos comunicativos não são restritos a grupos e culturas específicos; ao contrário, podem ocorrer, ainda que mediante certo esforço, entre todos os membros da espécie humana. Logo, deve-se concluir que a própria existência da linguagem, enquanto fenômeno humano, pressupõe a existência de uma perspectiva humana compartilhada, a qual compreende certos valores prudenciais fundamentais – ou, como colocado anteriormente, certos interesses humanos básicos.
A discussão até aqui permite visualizar o importante papel planejado por Griffin para os direitos humanos por meio de sua conexão com um dos cinco interesses humanos básicos, o valor da personalidade. Esses direitos encontram, em última análise, seu fundamento em uma camada de tamanha profundidade na estrutura valorativa, fornecendo uma explicação plausível do porquê sua autoridade ultrapassa barreiras culturais e linguísticas, vindicando, ademais, a pretensão da tradição de que direitos humanos sejam baseados em standards universais. Esse, porém, é apenas o início da história: direitos humanos são direitos, e, como tal, não se confundem com os valores que se destinam a proteger. Para entender seu caráter enquanto normas morais, é preciso compreender como Griffin concebe a transição entre valores prudenciais e morais, e, em seguida, entre valores e normas morais.
2.2. De interesses a direitos: a complexa origem das normas morais
Prudência e moral, como Griffin as descreve, são melhor entendidas como dois lados da mesma moeda: se a prudência, por um lado, diz respeito a tudo aquilo que torna a vida melhor para a pessoa que a vive, a moral, por outro lado, está vinculada àquilo que alguém deve fazer por ser bom e correto para os outros. Embora essa definição pareça implicar uma divisão rígida entre prudência e moral, a distância entre os dois domínios é menor do que aparenta ser. Essa proximidade pode ser verificada dentro dos próprios valores da prudência. Isso porque, nas palavras do autor, “quanto mais tentamos explicá-los, mais descobrimos neles um vazio enorme que só pode ser preenchido pelo valor representado pelo outro” (GRIFFIN, 1996, p. 69). A observação remete imediatamente, é claro, ao valor representado pelas relações pessoais significativas, mas é igualmente verdadeira para todos os demais. Por exemplo, para a maior parte das pessoas, o valor da realização não se refere primordialmente ao alcance de fins egoísticos, mas a estar a serviço de outrem, isto é, contribuir para o bem-estar de certos indivíduos (parentes, amigos, e até mesmo estranhos) e da comunidade.
Além disso, valores prudenciais e morais estão intimamente ligados em sua origem. Assim como no caso de interesses humanos básicos, a existência de certas noções morais basilares é pressuposta pelas condições necessárias à inteligibilidade da linguagem. A comunicação do conceito de “dor”, por exemplo, pressupõe o reconhecimento da dor como um desvalor, não de modo individual, mas na perspectiva humana como um todo. Esse reconhecimento, ademais, envolve, em alguma medida, um exercício de reciprocidade: o meu interesse básico em evitar a dor implica o reconhecimento de que o mesmo interesse se encontra em jogo na vida do outro, e vice-versa. Há, é claro, uma diferença fenomenológica entre a “minha dor” e a “sua dor”, mas em ambos os casos o mecanismo responsável por gerar uma razão para ação é o mesmo, por exemplo, “a dor deve ser evitada e aliviada”. Não deve vir como surpresa, portanto, que, nesses casos, a transição entre valores prudenciais e morais ocorra de modo tão imediato e intuitivo.
Considerações sobre interesses humanos básicos, embora necessárias, não são suficientes para determinar normas morais complexas como os direitos humanos. Considere, como faz Griffin, a afirmativa de que há um direito humano à vida. Qual o fundamento e conteúdo desse direito? À primeira vista, a resposta parece evidente: o direito em questão existe porque valorizamos a vida enquanto um componente da personalidade, e seu conteúdo inclui todos os bens necessários à manutenção da existência humana. Entretanto, tão logo a norma é aplicada a situações concretas, sua obviedade se esvai: seria esse direito categórico, ou admitiria exceções, como o suicídio e a eutanásia? Qual a definição de existência humana por ele implicada? Ela incluiria a vida anterior ao momento do nascimento, como contestado pelos defensores do direito ao aborto? Finalmente, seriam as obrigações por ele impostas simplesmente negativas – como abster-se de tirar uma vida – ou haveria também o dever de buscar ativamente sua maximização, por exemplo, sacrificando a vida de inocentes sempre que o número de pessoas salvas no agregado for positivo?
Quando chegamos a esse estágio da deliberação prática, Griffin argumenta, somos forçados a buscar outro fundamento capaz de moldar o conteúdo de nossas obrigações morais. É nesse ponto que o autor reintroduz à discussão o conceito de praticidades. Como mencionado anteriormente,8 8 A despeito de sua clara importância, o conceito de praticidades é mencionado apenas de passagem em On Human Rights, motivo pelo qual é corretamente apontado na literatura especializada como um dos pontos fracos da teoria de direitos humanos de Griffin (ver e.g. TASIOULAS, 2010). O que não é dito, no entanto, é que o autor buscou suprir essa deficiência em sua obra mais recente, What Can Philosophy Contribute to Ethics?, na qual é possível encontrar uma discussão extensa acerca dos diferentes tipos de praticidades, e como o termo realiza sua função de determinação das normas morais. praticidades são fatos que determinam, de uma forma ou de outra, o conteúdo de nossos juízos morais. Sua natureza é, portanto, eminentemente prática, não normativa. Não obstante, sua introdução na estrutura do valor ocorre em virtude de um conhecido princípio moral: dever implica poder (ought implies can). Normas morais, Griffin pondera, não existem em um vácuo, mas são destinadas a agentes humanos; e agentes humanos, embora experimentos mentais em filosofia moral com frequência assumam o contrário, não são agentes ideais, mas seres finitos e concretos limitados por uma série de fatos relativos à sua existência biológica e social que escapam de seu controle. Como resultado, qualquer concepção de nossas obrigações morais que ignore esses limites deverá ser, não apenas ineficaz, mas injustificável.
São três as espécies de praticidades elaboradas pelo autor:
a) Os limites da motivação
Seres humanos são, por natureza, egoístas e parciais. Não obstante a realização de fins coletivos constitua parte indissociável daquilo que concebemos como a vida boa, manifestações genuínas de altruísmo, especialmente quando direcionadas àqueles fora de nosso círculo imediato de preocupação, são encontradas em nossa espécie apenas em circunstâncias específicas e limitadas. Mais do que isso, é impossível, a nível individual, florescer e levar uma vida plena sem se tornar parcial em alguma medida; isso porque, para alcançar qualquer tipo de valor em nossas existências, temos, necessariamente, de priorizar certos projetos e relações em detrimento dos demais. Consequentemente, “se a Ética incorpora os limites da motivação, devemos abrir mão da presunção de que todo comportamento humano é, em princípio, sujeito à regulação moral” (GRIFFIN, 2015GRIFFIN, James. What Can Philosophy Contribute to Ethics? Oxford: Oxford University Press, 2015. 160 p., p. 116, tradução nossa). Em um primeiro sentido, essa restrição é prática: há um ponto além do qual a motivação humana, casos extraordinários à parte, simplesmente não é capaz de entregar a conduta exigida. Em um segundo sentido, ela é também moral: ainda que certos atos altruístas sejam possíveis, sua exigência deve ser rejeitada por implicar o sacrifício daquele grau de parcialidade que torna a vida boa de ser vivida.
b) Os limites do conhecimento
Outra restrição decorrente da natureza humana diz respeito aos limites de nossas capacidades cognitivas. Seres humanos têm uma capacidade finita de captação, processamento e armazenamento de informações, estando, ademais, sujeitos às mais diversas formas de lapsos e vieses cognitivos. Como resultado, há certas formas de entendimento que se encontram permanentemente, e não apenas circunstancialmente, fora de nosso alcance. O reconhecimento desse fato implica no abandono do ideal utilitarista, ao menos em suas versões mais extremas, segundo o qual a moralidade de nossas ações deve poder ser computada por meio de um cálculo complexo de todas as suas consequências no decurso do espaço e do tempo.
c) As demandas da vida social
Enquanto seres sociais, agentes humanos são confrontados com o problema adicional de ter de considerar os resultados indesejáveis que podem decorrer do efeito agregado de suas escolhas individuais. É necessário, portanto, que normas morais sejam formuladas à luz de uma perspectiva estratégica no que diz respeito à ação coletiva. Esse olhar, como o autor coloca, “nos dirá o que fazer, em termos de acordos, convenções, instituições, educação, persuasão, e punições, para alcançar e manter um nível de cooperação que seja benéfico para todos” (GRIFFIN, 1996GRIFFIN, James. Value Judgment: Improving our Ethical Beliefs. Oxford: Clarendon Press, 1996. 192 p., p. 93, tradução nossa). Como resultado, é possível que nos encontremos na posição de ter de aceitar, e até mesmo defender, certos ônus e obrigações contrários aos nossos interesses individuais imediatos, tão somente por tratarem da melhor solução política para um determinado problema coletivo.
Incorporar praticidades à ética contradiz uma série de ideias tomadas como certas no âmbito da filosofia moral. Griffin explica que, desde o Iluminismo, tem sido a grande ambição dos filósofos transformar o estudo da moral em uma disciplina sistemática aos moldes das ciências naturais. Pretende-se, por meio da adoção das mais diversas estratégias, transformar a ética em uma estrutura de justificação fechada, em que, a partir de um ou dois grandes princípios mestres, seja possível deduzir a única resposta moralmente correta para os problemas da vida. Para o autor, esse projeto está destinado a falhar, pois perde de vista o fato de que a ética é, antes de tudo, um instrumento destinado ao propósito de regulação da conduta humana em todas as suas nuances. É inevitável, assim, que normas morais não apenas expressem valores, mas tenham de, simultaneamente, acomodar as limitações daqueles que são seus criadores e destinatários. Tomemos como exemplo, novamente, o direito humano à vida. Dados os limites de conhecimento, nós exigimos apenas que esse direito seja respeitado em vez de promovido, segundo a lógica da maximização, e que quaisquer exceções à regra, como o suicídio ou a eutanásia, sejam especialmente bem justificadas. Dados os limites da motivação, nós excluímos de seu escopo condutas que implicam grande sacrifício pessoal, como o sacrifício da própria vida para salvar a vida de outrem. Dadas as demandas da vida social, nós admitimos até mesmo certo grau de arbitrariedade na determinação de seu conteúdo, desde que isso o torne mais simples e inteligível – por exemplo, que de modo geral sejam considerados agentes normativos completos apenas pessoas acima de 18 anos, em vez de 17 ou 19 anos, de modo a minimizar os custos de ter de avaliar cada caso individualmente. Nós fazemos isso, não apenas em razão de considerações estritamente valorativas, mas porque, enquanto seres humanos, “esse é o único tipo de vida moral que temos disponível” (GRIFFIN, 2008, p. 74, tradução nossa).
3. Personalidade: um dilema fatal?
A crítica mais premente à obra On Human Rights foi elaborada por Joseph Raz em seu artigo seminal Human Rights without Foundations (2010). O argumento centra em uma suposta inconsistência no tratamento de Griffin à relação entre direitos humanos e personalidade, a qual colocaria o autor diante de um dilema fatal. Raz observa que, no decorrer da obra, Griffin parece entreter duas interpretações díspares acerca do nível de proteção demandado pelo valor da personalidade, e, consequentemente, dos tipos de direitos humanos que ele é capaz de justificar. Na maior parte do tempo, Griffin tenderia ao posicionamento de que direitos humanos seriam proteções tão somente do estrito mínimo necessário para a subsistência de um indivíduo enquanto pessoa, isto é, enquanto um agente capaz de realizar ações intencionais. Todavia, em outros momentos Griffin parece endossar uma concepção mais ampla das demandas da personalidade, como quando afirma que direitos humanos compreendem tudo aquilo necessário para ser “um agente, no sentido mais completo de que somos capazes” (GRIFFIN, 2008, p. 33, tradução nossa). Raz considera que ambas as alternativas falham em oferecer uma interpretação plausível da prática dos direitos humanos, embora por motivos distintos. Por um lado, os standards sugeridos pela primeira opção seriam impossivelmente minimalistas: endossá-la significaria conceder que apenas devem ser consideradas questões de direitos humanos aquelas violações severas o bastante ao ponto de ocasionar a destruição, ou ao menos a lesão permanente, de um ou mais dos componentes da personalidade. Para Raz, mesmo alguém submetido a condições universalmente consideradas desumanas, como um escravo, seria incapaz de preencher esses requisitos – afinal, até mesmo ele estaria em posse de alguma autonomia, liberdade e recursos, e, portanto, de sua capacidade para agir, ainda que limitada. A segunda opção, por outro lado, seria excessivamente permissiva: uma vez adotada, seria difícil encontrar uma razão para não estender o rótulo de direitos humanos a todas as condições necessárias ao alcance de uma vida próspera e feliz. Nesse caso, a ideia de direitos humanos perderia o caráter prioritário que a caracteriza enquanto um domínio específico e especial da moral, pois toda e qualquer violação considerável da autonomia, da liberdade e da provisão mínima, ainda que corriqueira – por exemplo, o controle exercido por um pai autoritário sobre as decisões de seu filho –, teria de ser considerada uma violação de direitos humanos.
Colocando de modo mais direto, a crítica de Raz parece compreender três afirmações: (1) a noção de personalidade adotada por Griffin é demasiadamente vaga – ela não provê um critério claro para distinguir direitos humanos de outros tipos de direitos e considerações morais; isso é problemático diante do fim último de seu projeto teórico, que é justamente tornar o conceito de direitos humanos satisfatoriamente determinado; (2) a teoria como um todo é incapaz de derivar todos os direitos que Griffin acredita dela poder derivar, o que contradiz sua afirmação de que “a partir da noção de personalidade, é possível gerar a maioria dos direitos humanos convencionais” (GRIFFIN, 2008, p. 33, tradução nossa); (3) como resultado, a teoria não representa um guia adequado para compreender e avaliar a prática dos direitos humanos.
A objeção procede? Para responder a essa pergunta é preciso considerar, com base na interpretação desenvolvida nas seções anteriores, quais recursos Griffin possui para delimitar a noção de personalidade por ele defendida e, consequentemente, os direitos que dela podem ser derivados, e, por fim, se esses recursos são suficientes para endereçar os três pontos levantados por Raz.
O primeiro e mais importante desses recursos diz respeito às restrições de conteúdo decorrentes da adoção da personalidade como fundamento dos direitos humanos. De modo geral, isso se manifesta, como vimos, na noção de que direitos humanos não podem ser direitos a todas as coisas, nem mesmo a todas as coisas necessárias a uma vida próspera e feliz, mas apenas àqueles bens e prerrogativas necessários à proteção de nosso status enquanto agentes normativos. Essa afirmação, por si só, já oferece razões suficientes para o afastamento da segunda “perna” do dilema apresentado por Raz, ao menos em sua versão mais extrema. Dito isso, ela não permite descartar a possibilidade da proposta de Griffin ser, como a crítica alega, ou muito restritiva ou muito permissiva para poder acomodar os direitos humanos tradicionalmente reconhecidos na prática. Felizmente, o fundamento personalidade implica também restrições de conteúdo específicas para cada um de seus três componentes – autonomia, liberdade e provisão mínima. Esses limites, uma vez articulados, devem permitir uma visualização mais clara do conteúdo e do escopo de sua teoria.
a) Autonomia
Autonomia, para Griffin, é melhor entendida nos termos daquilo que se pode denominar “valor da autodefinição”, o qual se funda na capacidade humana de compreender e reagir a valores, e, assim, “avaliar opções e, a partir delas, formar uma concepção de vida boa” (GRIFFIN, 2008, p. 149, tradução nossa). Essa definição do termo, deve-se dizer, não é original, ao contrário, pode ser remetida à imemorial doutrina cristã da imago dei,9 9 Imago dei, a doutrina bíblica de que o homem foi “feito à imagem e semelhança de Deus”, e, por esse motivo, possui uma posição privilegiada na criação em relação às demais criaturas. a qual desempenhou importante papel na fundamentação da doutrina dos direitos naturais no contexto do jusnaturalismo teológico. Em particular, Griffin encontra sua principal referência no clássico Discurso pela Dignidade do Homem, de Giovanni Pico della Mirandola. Nele, o filósofo renascentista argumenta que Deus, no momento da criação, fixou a natureza de todas as coisas, mas deu exclusivamente ao homem a liberdade de determinar seu próprio ser. Nesse sentido, o homem seria não apenas criatura, mas, como Deus, criador – criador de si mesmo, capaz de escolher o tipo de pessoa que almeja ser e a vida que deseja levar. Roupagem religiosa à parte, Griffin acredita que a definição de Pico de autonomia como “autoria da própria vida” consiste na melhor alternativa disponível para a fundamentação de um direito humano à autonomia. Isso porque ela implica uma clara restrição material no conteúdo desse direito: não estamos interessados aqui na proteção das infinitas decisões do dia a dia, mas tão somente do tipo de autonomia envolvido na formação de uma concepção de vida boa – a capacidade de reconhecer os elementos valorativos centrais da existência humana, prudenciais e morais, e elaborar planos acerca de sua realização futura.
b) Liberdade
Se autonomia está vinculada ao elemento escolha, contido na noção de agência, liberdade pode ser entendida como expressando seu segundo componente, “ação” – i.e. a possibilidade de se perseguir uma concepção de vida boa autonomamente estabelecida. A divisão entre os dois valores, Griffin reconhece, não é comum, mas é necessária para os propósitos de sua teoria. Isso ocorre por dois motivos: primeiro, porque, enquanto agentes normativos, nós valorizamos não apenas a capacidade de formar projetos de vida em abstrato, mas também na oportunidade de realizá-los na prática. Segundo, porque liberdade e autonomia possuem inimigos distintos, de tal modo que é possível, ao menos em princípio, ter a autonomia violada e, não obstante, permanecer em liberdade, e vice-versa.
No que diz respeito ao seu escopo, essa definição de liberdade implica, primeiro, uma restrição formal: apenas podem ser objetos do direito à liberdade aquelas formas de liberdade que sejam compatíveis com a liberdade de todos os demais. Há, também, uma restrição material, a qual é dada pelo sentido do termo “perseguir”: o direito à liberdade limita-se à proteção da possibilidade de se perseguir uma concepção de vida boa, o que não inclui, em última análise, a garantia de sua realização. Porém, em que exatamente consiste o respeito à liberdade, assim definida? Esse é um ponto importante, que precisa ser elaborado. Como Griffin coloca, “o direito à liberdade não pode ser limitado a um direito meramente de despender esforço”. Perseguir, nesse contexto, “deve incluir também a possibilidade de obter sucesso, dentro de certos limites, em realizar seus planos. Inclui, portanto, ao menos um direito de despender esforço na ausência de certos impedimentos” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 48, tradução nossa). Para que isso seja possível, é necessário o cumprimento de três requisitos: primeiro, que o indivíduo não seja coagido, mediante uso de força ou forte intimidação, a abandonar o modo de vida por ele escolhido; segundo, a não interferência em todos os outros modos de vida que, embora não tenham sido objeto de sua escolha, poderiam legitimamente ter sido; terceiro, que a sociedade oferte, dentro dos limites do possível, uma gama de possibilidades rica o suficiente para que a escolha por qualquer modo de vida seja real, e não motivada pela simples carência de opções.10 10 Griffin tem em mente aqui apenas a carência de opções ocasionada – ou ao menos remediável – pela ação humana. Logo, “se tais opções forem reduzidas em virtude de atos naturais, ou eventos sociais e econômicos de larga escala além do controle humano, não será possível afirmar que a liberdade de alguém foi violada” (GRIFFIN, 2008, p. 161, tradução nossa). Esse último ponto não implica que a sociedade tenha o dever de prover uma opção específica, ou até mesmo de garantir que todos tenham igual possibilidade de realizar seu modo de vida favorito, uma vez que isso está muito além das capacidades de qualquer sociedade conhecida. O que importa, em última análise, é que “todos tenham a possibilidade de viver como um agente normativo. Em uma sociedade suficientemente livre, se a realização de uma opção não é possível, haverá outras: outras alternativas de vidas igualmente providas de valor e que valem a pena ser vividas” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 162, tradução nossa).
c) Provisão mínima
Na teoria da personalidade, o argumento a favor da existência de um direito humano à provisão mínima é simples: a vida e os bens necessários a seu suporte são condições necessárias para ser autônomo e livre, logo, o reconhecimento do direito a ambos decorre implicitamente da própria existência dos direitos humanos à autonomia e à liberdade. Dito isso, o argumento deixa em aberto os exatos limites acerca de quais formas de bem-estar podem ser consideradas provisão mínima e quais estão acima (ou abaixo) dela. Mais do que isso, o argumento necessita de um limite claro a fim de interromper a corrente causal de condições necessárias, sob o risco de direitos humanos tornarem-se, com efeito, direitos a todas as coisas. Uma sugestão frequente, a qual se encontra, por exemplo, na DUDH, é a de que todos têm direito a condições de vida consideradas “adequadas”11
11
O termo em questão, “satisfactory”, foi perdido na tradução da DDUH para o português.
(ASSEMBLEIA GERAL DA ONU, 1948ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. 217 (III) A, Paris, dez. 1948. Disponível em: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Acesso em: 28 maio 21.
https://www.un.org/en/universal-declarat...
, art. 25). Esse é, entretanto, um critério subjetivo, pois o que se considera adequado no presente frequentemente se revela inadequado no futuro, devendo, assim, ser rejeitado. Para Griffin, uma solução alternativa para esse problema pode ser encontrada no próprio conceito de personalidade: o direito à provisão mínima inclui as condições necessárias para a manutenção de nosso status enquanto agentes normativos, nada a mais, nada a menos. O critério, é claro, consiste em uma aproximação, situando as demandas desse direito em algum lugar “acima da mera subsistência, mas abaixo do nível de bem-estar usualmente encontrado em sociedades contemporâneas desenvolvidas” (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 183, tradução nossa).
A partir de uma visão completa do valor da personalidade e de seus elementos, Griffin acredita ser capaz de derivar uma lista de direitos humanos razoavelmente extensa. O direito à autonomia, na vida privada, implica que, a partir do momento em que somos capazes de tomar decisões importantes por conta própria, aqueles em posição de autoridade não devem nos fazer, ou manter, submissos às suas vontades;12 12 Deve-se ressaltar, novamente, que o direito humano à autonomia concerne apenas às decisões estruturantes da existência do indivíduo. Então, por exemplo, esse direito é violado quando pais controlam qual carreira seus filhos devem seguir, com quem devem se casar e em qual partido político devem votar, mas não é violado quando eles controlam decisões de menor importância, como o que devem comer ou vestir. na vida pública, implica a adoção de instituições capazes de oferecer algum nível de igual participação nas decisões políticas (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 192). Do direito à liberdade, segue que não devemos ser impedidos de buscar os fins básicos de nossa existência. Para tanto, faz-se necessária a proteção de um amplo pacote de liberdades, o qual inclui a liberdade de consciência e religião, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e reunião, os direitos à privacidade e ao devido processo legal, e assim por diante (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 159 e 193). Finalmente, o direito à provisão mínima prevê a provisão dos meios necessários para se conceber e perseguir qualquer concepção legítima de vida boa, incluindo os direitos à vida, à segurança pessoal, à saúde, à educação, bem como a proibição da tortura (GRIFFIN, 2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 162 e 193). Essa lista, deve ser dito, corresponde aproximadamente aos direitos reconhecidos na DUDH e nos dois Pactos Internacionais das Nações Unidas de 1966, os quais, em conjunto, formam a dita International Bill of Rights dos direitos humanos. Exceções não contempladas pela teoria, como o próprio Griffin reconhece, incluem os direitos à proibição das propagandas em favor da guerra, à proteção a ataques à honra e à reputação, à liberdade de locomoção dentro das fronteiras de cada Estado e ao usufruto do mais elevado nível possível de saúde física e mental. Outros casos contestáveis incluem os direitos ao trabalho, ao repouso e ao lazer, com a limitação das horas de trabalho e férias remuneradas, e a certas formas robustas de igualdade perante a lei (GRIFFIN, 2008, p. 193-202).
Diante dessas observações, deve restar claro que a proposta de Griffin não é nem implausivelmente minimalista nem implausivelmente permissiva. De um lado, o nível de proteção demandado pelo valor da personalidade está claramente acima do mínimo necessário à preservação da capacidade humana de realizar ações intencionais, no sentido mais restrito do termo. Um escravo, ou qualquer indivíduo em condição análoga à escravidão, não pode ser considerado um agente autônomo e livre no sentido defendido por Griffin, uma vez que, primeiro, ele tem suas decisões submetidas à vontade de outrem em todas as esferas centrais de sua existência, e, segundo, ele é diretamente frustrado, por meio de intimidação, repressão e tortura, de perseguir qualquer tipo de concepção de vida que se afaste minimamente de sua condição atual enquanto escravo. Similarmente, não há risco de a proposta de Griffin se estender desarrazoadamente para outros domínios da moralidade, ou extinguir a distinção entre direitos humanos e direitos morais lato sensu. Pelo contrário, tudo indica que ela é capaz de derivar uma lista concisa de direitos humanos, a qual, grosso modo, contempla os direitos tradicionalmente reconhecidos na prática.
Dito isso, mesmo após consideradas as restrições específicas a cada um dos componentes da personalidade, a teoria de Griffin ainda permanece com um grau não trivial de indeterminação: afinal, a discussão até aqui permite concluir “apenas” que (1) “há estados abaixo do necessário para ser um agente normativo – e.g. uma vida inteiramente consumida pelo esforço desesperado de manter corpo e alma unidos – e estados superiores a isso – e.g. especialmente ricos em discernimento e recursos materiais” (GRIFFIN, 2014GRIFFIN, James. Replies. In: CRISP, Roger. (org.). Griffin on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 206-232., p. 225, tradução nossa); e (2) direitos humanos incluem todos os bens e prerrogativas aproximadamente necessários ao exercício da agência normativa. Nesse sentido, dois dos questionamentos levantados pela crítica de Raz ainda permanecem em pé: a teoria é rigorosa o suficiente para tornar o conceito de direitos humanos “satisfatoriamente determinado”? Ela é capaz de fornecer critérios adequados para guiar a prática dos direitos humanos?
Felizmente, há dois recursos adicionais aos quais Griffin pode apelar a fim de sanar essas dúvidas: a noção de praticidades e a distinção entre direitos humanos básicos e derivados. Para entender como essas considerações podem auxiliar a moldar o conteúdo de direitos humanos na prática, considere o caso do suposto direito humano à democracia.13 13 Para uma discussão aprofundada, ver Griffin (2008, p. 242-255). Sabemos, pela consideração do componente “autonomia”, que direitos humanos demandam algum nível de igual participação nas decisões políticas de uma sociedade. Sabemos, também, pelas restrições impostas a esse valor, que esse direito não pode se estender a todas as decisões políticas; afinal, apenas um número restrito dos atos do poder público é capaz de afetar diretamente a esfera da personalidade de seus cidadãos. A partir disso, é possível concluir que o nível de participação política assegurado pelos direitos humanos se encontra em algum ponto acima do nível encontrado em regimes ditatoriais, em que não há qualquer tipo de processo de consulta popular e os direitos da população são constantemente violados, e abaixo daquele encontrado em democracias liberais modernas, em que há processos de consulta popular robustos e os direitos da população são quase sempre respeitados. Entretanto, para além desse ponto, o que mais a teoria de Griffin pode a dizer a respeito desse direito? Ela inclui, por exemplo, os direitos ao sufrágio universal, às eleições periódicas, ao voto secreto, à livre formação de partidos políticos e a outras instituições democráticas com as quais estamos acostumados?
Se, como Griffin afirma, direitos humanos podem ser expressos em diferentes níveis de abstração, parece razoável supor que o problema da (in)determinação de sentido desses direitos seja, igualmente, uma questão de grau. Nos escalões mais elevados, em que se encontram os direitos humanos básicos – autonomia, liberdade e provisão mínima – e derivados universais – como o direito à participação política –, é natural que a exigência por determinação seja modesta, pois é justamente esse alto nível de abstração que permite que a aplicação desses direitos seja universal. Aqui, estabelecer a existência de um direito humano envolverá dois requisitos: (1) o direito em questão é um direito moral universal, i.e. sua titularidade e seus deveres correlatos são, ao menos em princípio, atribuíveis a todo e qualquer agente normativo; e (2) ele pode ser justificado como uma condição logicamente necessária à proteção de um ou mais componentes da personalidade.
Conforme passamos aos escalões inferiores, a exigência por determinação tornar-se-á progressivamente mais premente. Encontramos, aqui, os direitos humanos derivados não universais, os quais possuem sua existência atrelada a fatos sociais contingentes, e que, portanto, devem ser mais ou menos detalhados a depender do quão particular for o contexto de sua aplicação. Nesse ponto, estabelecer a existência de um direito humano envolverá três requisitos: (1) o direito em questão pode ser justificado como uma condição lógica ou empiricamente necessária à proteção da personalidade em determinadas circunstâncias sociais; (2) sua titularidade pertence a todos os agentes normativos vivendo sob tais circunstâncias, e seus deveres correlatos recaem sobre indivíduos ou instituições ali existentes, à medida que tenham recursos suficientes para cumpri-los; (3) seu conteúdo final é determinado por praticidades – essas serão, como vimos, fatos acerca das limitações motivacionais e de conhecimento inerentes à natureza humana, e as demandas da vida social no contexto específico sob consideração.
Nesse ponto, é natural se perguntar qual nível de detalhamento a teoria deve atingir para que sua busca por determinação de sentido possa ser dada como concluída. Embora essa questão não esteja sujeita a uma resposta exata, a seguinte estipulação parece apropriada: Griffin, tal como a maior parte da literatura especializada, está interessado no sentido em que a expressão “direitos humanos” vem sendo utilizada na prática internacional contemporânea, proeminentemente nos direitos reconhecidos em seus principais instrumentos – declarações, tratados, convenções, etc. E direitos humanos, nesse contexto, embora não atemporais, permanecem universais em um sentido “fraco” do termo: sincronicamente universais, isto é, aplicáveis a todos os seres humanos vivos no presente. Deve-se esperar, então, que esses direitos, ainda que em menor grau, possuam um nível considerável de abstração, a fim de que sua aplicação seja possível nos vários países com culturas e necessidades distintas que participam dessa prática.
Essa estipulação possibilita, ademais, delimitar os tipos de praticidades não universais (i.e. demandas da vida social) relevantes à determinação do conteúdo dos direitos que a teoria deve, em última análise, sustentar. Essas considerações serão, em suma, fatos sobre a ordem jurídico-política internacional e as sociedades contemporâneas de modo geral, incluindo argumentos empíricos acerca de quais instituições, práticas e políticas possuem maior probabilidade de garantir a proteção dos direitos humanos para a maior parcela possível da população global. Nessas condições, o estabelecimento de um direito humano passará pelos seguintes critérios: (1) o direito em questão é uma condição lógica ou empiricamente necessária à proteção da personalidade contra ameaças padrão do mundo contemporâneo;14 14 Sobre a noção de “ameaças padrão”, ver Beitz (2009, p. 111-112). (2) suas demandas não excedem os limites motivacionais e de conhecimento inerentes à natureza humana; (3) sua realização é, em princípio, possível sob o pressuposto de uma economia de mercado operando em relativa escassez; e (4) sua implementação compete primariamente aos Estados-nação, podendo, no evento do descumprimento dessa responsabilidade, ser levada a cabo, de modo suplementar, pelo restante da comunidade internacional.
É com essas considerações em mente que devemos pensar problemas como o de determinar a existência de um suposto direito humano à democracia, seus fundamentos, conteúdo e deveres correlatos. No caso desse direito em específico, é possível concluir que há, de fato, um direito humano à democracia, pois ele preenche todos os requisitos mencionados acima. Esse direito não é uma condição necessária lógica da autonomia – e, portanto, não é um direito humano básico ou derivado universal –, mas emerge dela como uma condição necessária empírica quando consideramos as demandas desse valor no contexto das condições típicas de uma sociedade moderna, em que há o grande risco de o aparato estatal, com todos os seus poderes, ser cooptado para fins escusos – trata-se, pois, de um direito humano derivado não universal. Os titulares desse direito são todos os seres humanos vivos no presente, e seus deveres correlatos recaem primariamente sobre as autoridades e entidades estatais, as quais têm a responsabilidade de estabelecer e preservar desde já as instituições fundamentais da democracia. E dado o que sabemos sobre a natureza do poder e sua complicada relação com a natureza humana, é necessário estabelecer uma margem de segurança suficientemente larga para garantir que o poder estatal não seja usurpado. Portanto, é necessário que o direito à democracia inclua em seu conteúdo não apenas o direito a alguma participação política, mas a todas as instituições participativas tradicionalmente associadas ao Estado Democrático de Direito, como o sufrágio universal, o voto secreto, as eleições periódicas, a liberdade de associação e a formação de partidos políticos, entre outros. Por fim, há que se dizer que há limites às demandas desse direito: ele não exige, por exemplo, a democracia direta, pois essa seria de organização quase impossível em uma sociedade moderna, nem a consulta popular – por meio de plebiscitos, referendos e iniciativas populares – para todas, ou até mesmo para a maior parte, das decisões de governo, mas apenas para aquelas de importância excepcional.
Esse esquema, é claro, não pretende ser um método infalível para solucionar todas as questões sobre direitos humanos que possam porventura surgir em sua aplicação prática – por exemplo, ele nada tem a dizer sobre se o direito à democracia demanda a realização de eleições periódicas a cada quatro, cinco ou seis anos, ou se o sistema eleitoral de uma sociedade deve ser majoritário ou proporcional. Há, mesmo aqui, um nível não trivial de indeterminação de sentido, o qual terá, inevitavelmente, de ser preenchido em uma etapa posterior, não por uma teoria, mas por tradições, convenções e políticas dentro de cada comunidade política que participa da prática dos direitos humanos. Essa delegação, no entanto, dificilmente constitui uma objeção ao esquema apresentado; ao contrário, ela mostra que a teoria se encontra alinhada à prática, pois esta também se encontra organizada em uma complexa estrutura multinível em que questões mais gerais sobre direitos humanos são endereçadas diretamente à esfera da prática internacional, e questões mais específicas são deixadas em aberto para serem decididas na esfera regional ou nacional – em geral, como questões internas ao ordenamento jurídico de cada país.
É possível que a solução apresentada neste artigo não seja capaz de convencer Raz completamente, e isso não porque ela deixa qualquer um dos pontos de sua crítica não endereçados, mas porque o entendimento desse autor sobre os direitos humanos parte de um local de reflexão diferente do de Griffin. Raz, como Beitz e outros autores, acredita que, ao longo do século XX, a prática internacional dos direitos humanos desenvolveu-se de tal maneira que não é mais possível considerá-la uma continuidade histórica e conceitual da tradição dos direitos naturais. Ao contrário, ela deve ser entendida como um projeto político público dotado de uma lógica que lhe é própria – em particular, Raz acredita que o propósito da prática dos direitos humanos não é a proteção de certos direitos que possuímos tão somente em virtude de nossa humanidade, mas a limitação da soberania estatal.15 15 Nesse sentido, a seguinte afirmação: “Seguindo Rawls, eu definirei ‘direitos humanos’ como aqueles direitos que impõem limites à soberania dos Estados, no sentido de que sua violação atual ou antecipada constitui uma razão (pro tanto) para tomar ações contra o agente violador na arena internacional, mesmo quando [...] tais ações não seriam permitidas, ou não estariam normativamente disponíveis, em razão de infringirem a soberania do Estado em questão” (RAZ, 2010, p. 328, tradução nossa). Logo, é inevitável que ele enxergue a proposta de Griffin como julgando a prática por meio de critérios que são estranhos a ela, uma vez que os dois discordam sobre o que, afinal, a prática é. Não há nada a ser dito aqui para convencer Raz de que seu entendimento está equivocado, a não ser reiterar que a teoria de Griffin é capaz de explicar quase todos os direitos humanos tradicionalmente reconhecidos na prática, e desafiá-lo a provar que sua teoria pode fazer o mesmo.
Por último, é importante ressaltar que o argumento tratado nesta seção não constitui a única crítica à proposta de Griffin existente na literatura – em verdade, não é sequer a única crítica de Raz a ela. No mesmo artigo, Raz (2010, p. 323 e 325) menciona pelo menos dois outros problemas que, no seu entender, a afligem. Primeiro, a teoria não distingue suficientemente entre as noções de valor e direito: a afirmação de que algo é valioso – isto é, de que um sujeito X possui um interesse Y – não necessariamente implica que X possui um direito a Y, e vice-versa; logo, a afirmação de que a personalidade é um valor não é suficiente para estabelecer a existência de um direito à personalidade. Segundo, a teoria impõe, sobre o conceito de personalidade, e, consequentemente, sobre o de direitos humanos, uma visão particular e controversa sobre a vida boa.
Por que, então, a escolha de responder apenas a uma das críticas de Raz, e não às outras duas? O principal motivo é de influência: o argumento tratado nesta seção foi amplamente adotado como uma objeção definitiva à teoria de Griffin,16 16 Nesse sentido, ver, e.g., Buchanan (2010); Sangiovanni (2017) e Tasioulas (2010). e não há, à parte este artigo, qualquer tentativa sistemática na literatura de demonstrar que Griffin possui recursos para respondê-la. O segundo motivo é que as outras duas críticas não representam um problema tão premente à proposta de Griffin quanto a primeira. No que diz respeito à distinção valor-direito, concorda-se com Raz que a teoria poderia se beneficiar de incorporar uma concepção mais robusta do sentido de “direitos” em “direitos humanos”. Contudo, esse problema já foi em larga medida endereçado pelos avanços teóricos feitos recentemente por Tasioulas17 17 Ver, e.g.Tasioulas (2010 e 2012). – a teoria de Tasioulas é, admitidamente, diferente à de Griffin em pontos importantes, mas todas as suas observações sobre “direitos” podem ser facilmente aplicadas a ela. Quanto ao fato de a teoria defender uma concepção particular de “personalidade”, Griffin deixa claro desde o início que sua teoria é substantiva, então dificilmente constitui uma objeção a ela apontar que ela faz uso de princípios morais potencialmente controversos. Para a refutar em seus próprios termos seria necessário oferecer um argumento igualmente substantivo demonstrando que sua caracterização da personalidade em termos de autonomia, liberdade e provisão mínima é eticamente inadequada. Nenhum argumento desse tipo é considerado por Raz.
Conclusão
A obra On Human Rights oferece uma interpretação persuasiva do conceito histórico de direitos humanos como direitos morais universais fundados na capacidade humana para a agência normativa. Embora a obra seja intrigante por si só, ela deve ser compreendida à luz das demais produções do autor no âmbito da filosofia moral, as quais, em conjunto, revelam a complexa normatividade dos direitos humanos como normas derivadas do valor da personalidade, um dos cinco interesses humanos básicos, e moldadas em seu conteúdo exato por praticidades. Partindo dessa leitura holística, é possível elaborar, na forma de um modelo escalonado de direitos humanos, uma resposta, se não definitiva, ao menos à altura da influente crítica de Raz.
Há, como o próprio Griffin reconhece, outros projetos teóricos plausíveis para a filosofia dos direitos humanos: entre eles, a teoria pluralista de Tasioulas, a qual compartilha de muitas de suas ideias, e as ditas concepções políticas de Beitz e Raz, as quais partem de pressupostos teóricos diferentes dos seus. O próximo passo para o sucesso de sua teoria, então, envolverá uma análise comparada dessas propostas, de modo a considerá-las em suas implicações normativas e práticas, e, a partir disso, ponderar custos e benefícios teóricos. Trata-se de um trabalho importante, e que ainda se encontra em aberto.
Referências
- ASSEMBLEIA GERAL DA ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos 217 (III) A, Paris, dez. 1948. Disponível em: https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ Acesso em: 28 maio 21.
» https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ - BEITZ, Charles. The Idea of Human Rights Oxford: Oxford University Press, 2009. 235 p.
- BUCHANAN, Allen. The Egalitarianism of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 679-710, 2010.
- CRISP, Roger. Griffin on Human Rights Oxford: Oxford University Press, 2014. 252 p.
- CRUFT, Rowan. Human Rights as Rights. In: ERNST, Gerhard; HEILINGER, Jan-Christoph (orgs.). The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies. Berlim: De Gruyter, 2011. p. 129-158.
- DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs Cambridge: Harvard University Press, 2011. 528 p.
- DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously Cambridge: Harvard University Press, 1977. 371 p.
- GEWIRTH, Alan. Reason and Morality Chicago: University of Chicago Press, 1978. 401 p.
- GRIFFIN, James. What Can Philosophy Contribute to Ethics? Oxford: Oxford University Press, 2015. 160 p.
- GRIFFIN, James. Replies. In: CRISP, Roger. (org.). Griffin on Human Rights Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 206-232.
- GRIFFIN, James. Human rights: Questions of aim and approach. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 741-760, 2010.
- GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p.
- GRIFFIN, James. Value Judgment: Improving our Ethical Beliefs. Oxford: Clarendon Press, 1996. 192 p.
- HASSOUN, Nicole. Reviewed Work: On Human Rights by James Griffin. Journal of Philosophy, Nova York, v. 109, n. 7, p. 462-468, 2012.
- HOOKER, Brad. Griffin on Human Rights. Oxford Journal of Legal Studies, Oxford, v. 30, n. 1, p. 193-205, 2010.
- MAYR, Erasmus. The Political and Moral Conceptions of Human Rights – a Mixed Account. In: ERNST, Gerhard; HEILINGER, Jan-Christoph (orgs.). The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies. Berlim: De Gruyter, 2011. p. 73-106.
- RAWLS, John. The Law of Peoples. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 208 p.
- RAZ, Joseph. Human Rights in the Emerging World Order. In: LIAO, S. MATTHEW; RENZO, Massimo (orgs.). Philosophical Foundations of Human Rights Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 217-231.
- RAZ, Joseph. Human Rights without Foundations. In: BESSON, Samantha; TASIOULAS, John (orgs.). The Philosophy of International Law Oxford: Oxford University Press, 2010. p. 321-337.
- REIDY, David A. When Good Alone Isn’t Enough. In: CRISP, Roger (org.). Griffin on Human Rights Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 46-76.
- SANGIOVANNI, Andreas. Humanity Without Dignity Cambridge: Harvard University Press, 2017. 317 p.
- TASIOULAS, John. On the Nature of Human Rights. In: ERNST, Gerhard; HEILINGER, Jan-Christoph (orgs.). The Philosophy of Human Rights: Contemporary Controversies. Berlim: De Gruyter, 2012. p. 17-59.
- TASIOULAS, John. Taking Rights out of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 647-678, 2010.
- TASIOULAS, John. Human Rights, Universality and the Values of Personhood: Retracing Griffin’s Steps. European Journal of Philosophy, Nova Jersey, v. 10, n. 1, p. 79-100, 2002.
-
1
O mais próximo que temos de uma avaliação abrangente do pensamento de Griffin é a coletânea Griffin on Human Rights (2014), organizada por Roger Crisp. Há também o artigo “Human Rights, Universality and the Values of Personhood: Retracing Griffin’s Steps”, de John Tasioulas, publicado em 2002, porém ele precede a publicação de On Human Rights (2008). Em ambos os casos não há, obviamente, qualquer menção à concepção de praticidades desenvolvida por Griffin em What Can Philosophy Contribute to Ethics? (2015), visto que os textos são anteriores à publicação dessa obra. A noção de interesses humanos básicos, por sua vez, é detalhada no artigo de Tasioulas, mas não na coletânea de Crisp.
-
2
O próprio Griffin (2014GRIFFIN, James. Replies. In: CRISP, Roger. (org.). Griffin on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2014. p. 206-232., p. 210-212) oferece apenas um comentário de passagem à objeção.
-
3
As referências são, respectivamente, às noções de direitos como trunfos sobre apelos ao bem comum (DWORKIN, 1977DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge: Harvard University Press, 1977. 371 p.), e direitos humanos como normas que delimitam as razões para a guerra e interferência externa no direito dos povos (RAWLS, 1999RAWLS, John. The Law of Peoples. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 208 p.). No caso de Dworkin, note que a classificação se aplica apenas à sua teoria dos direitos lato sensu, e não à sua teoria dos direitos humanos, a qual veio a desenvolver posteriormente em Justice for Hedgehogs (2011). Esta, ao contrário daquela, é substantiva, pois vincula diretamente o sentido de direitos humanos ao valor da dignidade humana (DWORKIN, 2011DWORKIN, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge: Harvard University Press, 2011. 528 p., p. 335).
-
4
Em The Idea of Human Rights (2009, p. 7-12), Beitz faz uma distinção similar entre teorias de cima para baixo e de baixo para cima. O autor argumenta, porém, que a teoria de Griffin seria um exemplo do primeiro tipo de abordagem, e não do segundo. O motivo dessa divergência não é terminológico: tal como Griffin, Beitz acredita que uma abordagem de baixo para cima deve, primeiro, adotar como ponto de partida a prática contemporânea dos direitos humanos, e, segundo, buscar elucidar – ou, em suas palavras, inferir – o sentido do termo com base nos materiais providos por ela. O problema, basicamente, é que Beitz e Griffin têm ideais distintos sobre o que, afinal, é prática dos direitos humanos. Para Beitz, há boas razões históricas e teóricas para caracterizar a prática dos direitos humanos não como uma continuidade da tradição dos direitos naturais, mas como um projeto político público sui generis com propósitos, formas de ação e cultura próprios (BEITZ, 2009BEITZ, Charles. The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. 235 p., p. 8). Como resultado, ele deve necessariamente classificar a teoria de Griffin como de cima para baixo, pois ela adotaria como ponto de partida princípios éticos externos à prática. Griffin, pelo contrário, vê a prática dos direitos humanos e a tradição dos direitos naturais intimamente conectadas. Para ele, a tradição é interna à prática; logo, sua teoria, sendo baseada nela, deve ser classificada como de baixo para cima.
-
5
A exclusão de casos-limite controversos do escopo de sua teoria não significa, é claro, que Griffin negue a existência de importantes obrigações morais relativamente a esses indivíduos, mas apenas que essas possuam a natureza de direitos humanos.
-
6
Os assuntos abordados nesta seção são desenvolvidos em Griffin (2015GRIFFIN, James. What Can Philosophy Contribute to Ethics? Oxford: Oxford University Press, 2015. 160 p. e 1996). A discussão é parcialmente sintetizada em Griffin (2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 111-128).
-
7
Uma lista de interesses humanos básicos é compatível, como Griffin faz questão de ressaltar, com uma concepção pluralista da vida humana. Dois indivíduos, por exemplo, podem concordar que realização constitui um valor universal, e ainda assim discordar completamente em relação ao seu sentido e à sua importância relativa aos demais valores.
-
8
A despeito de sua clara importância, o conceito de praticidades é mencionado apenas de passagem em On Human Rights, motivo pelo qual é corretamente apontado na literatura especializada como um dos pontos fracos da teoria de direitos humanos de Griffin (ver e.g. TASIOULAS, 2010TASIOULAS, John. Taking Rights out of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 647-678, 2010.). O que não é dito, no entanto, é que o autor buscou suprir essa deficiência em sua obra mais recente, What Can Philosophy Contribute to Ethics?, na qual é possível encontrar uma discussão extensa acerca dos diferentes tipos de praticidades, e como o termo realiza sua função de determinação das normas morais.
-
9
Imago dei, a doutrina bíblica de que o homem foi “feito à imagem e semelhança de Deus”, e, por esse motivo, possui uma posição privilegiada na criação em relação às demais criaturas.
-
10
Griffin tem em mente aqui apenas a carência de opções ocasionada – ou ao menos remediável – pela ação humana. Logo, “se tais opções forem reduzidas em virtude de atos naturais, ou eventos sociais e econômicos de larga escala além do controle humano, não será possível afirmar que a liberdade de alguém foi violada” (GRIFFIN, 2008, p. 161, tradução nossa).
-
11
O termo em questão, “satisfactory”, foi perdido na tradução da DDUH para o português.
-
12
Deve-se ressaltar, novamente, que o direito humano à autonomia concerne apenas às decisões estruturantes da existência do indivíduo. Então, por exemplo, esse direito é violado quando pais controlam qual carreira seus filhos devem seguir, com quem devem se casar e em qual partido político devem votar, mas não é violado quando eles controlam decisões de menor importância, como o que devem comer ou vestir.
-
13
Para uma discussão aprofundada, ver Griffin (2008GRIFFIN, James. On Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2008. 339 p., p. 242-255).
-
14
Sobre a noção de “ameaças padrão”, ver Beitz (2009BEITZ, Charles. The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. 235 p., p. 111-112).
-
15
Nesse sentido, a seguinte afirmação: “Seguindo Rawls, eu definirei ‘direitos humanos’ como aqueles direitos que impõem limites à soberania dos Estados, no sentido de que sua violação atual ou antecipada constitui uma razão (pro tanto) para tomar ações contra o agente violador na arena internacional, mesmo quando [...] tais ações não seriam permitidas, ou não estariam normativamente disponíveis, em razão de infringirem a soberania do Estado em questão” (RAZ, 2010, p. 328, tradução nossa).
-
16
Nesse sentido, ver, e.g., Buchanan (2010)BUCHANAN, Allen. The Egalitarianism of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 679-710, 2010.; Sangiovanni (2017)SANGIOVANNI, Andreas. Humanity Without Dignity. Cambridge: Harvard University Press, 2017. 317 p. e Tasioulas (2010)TASIOULAS, John. Taking Rights out of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 647-678, 2010..
-
17
Ver, e.g.Tasioulas (2010TASIOULAS, John. Taking Rights out of Human Rights. Ethics, Chicago, v. 120, n. 4, p. 647-678, 2010. e 2012).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
01 Abr 2022 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
01 Jul 2020 -
Aceito
18 Jan 2022