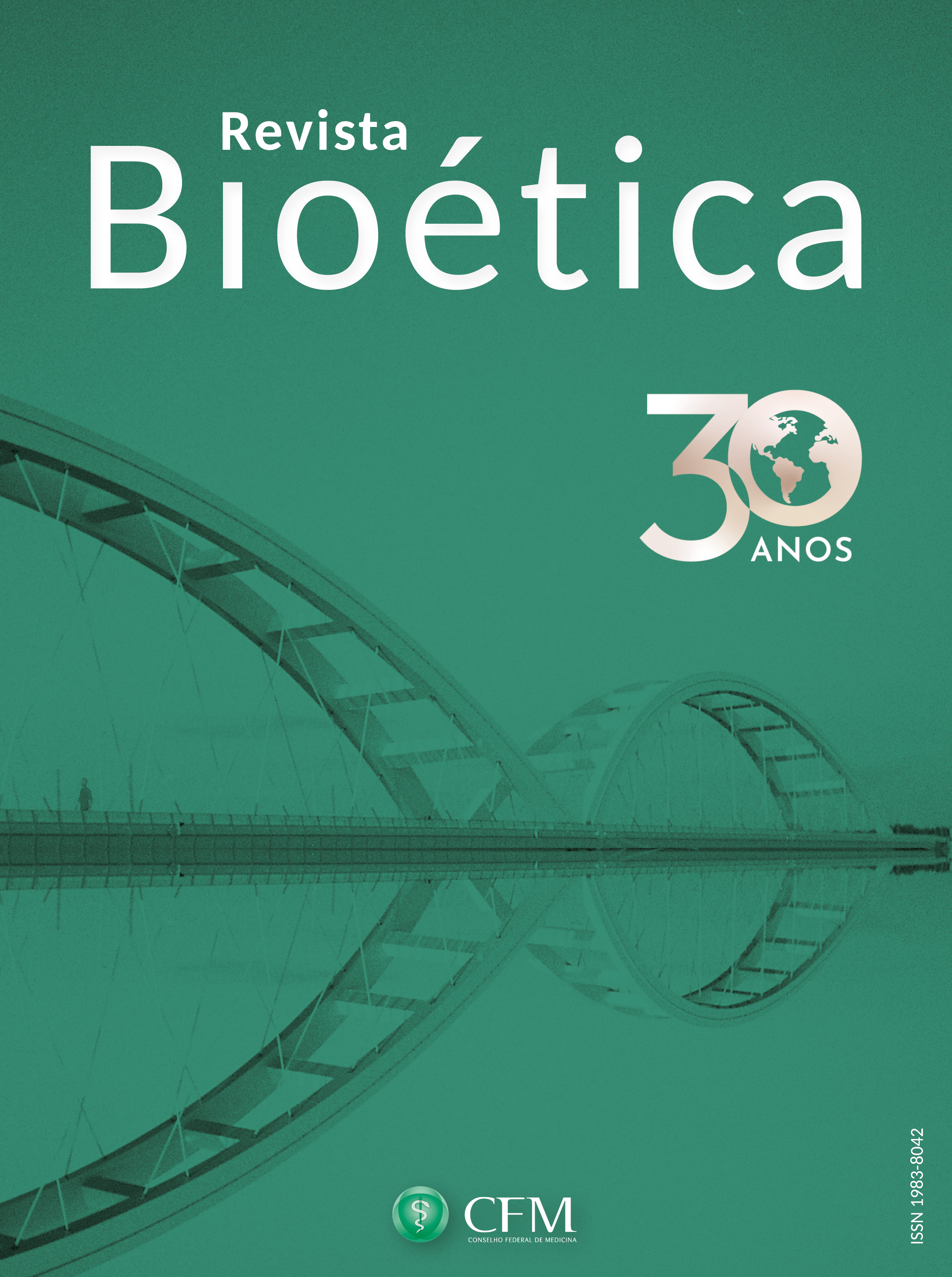Resumo
O propósito deste ensaio é refletir sobre o problema da justificação moral e sua relação com a ideia de justiça. Argumenta-se que, enquanto predicado dos juízos morais, a ideia de justiça envolve dois requisitos éticos articulados entre si: o primeiro assinala a aspiração a garantir sentido não arbitrário para normas a que devemos obediência; o segundo reflete a ênfase no caráter duplamente consensual e universalizável dessas normas. Por fim, conclui-se que o desafio do consentimento recíproco, condição para o consenso normativo, está ligado ao sentido construtivo da moralidade, em torno do qual a noção da justiça pode assumir valor igualmente pedagógico para os agentes morais.
Princípios morais; Ética; Teoria ética; Tomada de decisões; Análise ética
Abstract
The purpose of this essay is to reflect on the problem of moral justification and its relation to the idea of justice. It is argued that, as a predicate of moral judgments, the idea of justice involves two ethical requirements articulated among themselves: the first indicates the aspiration to guarantee a non-arbitrary meaning for the norms that we ought to obey; the second reflects an emphasis on the doubly consensual character and universalizability of these norms. Finally, it is concluded that the challenge of reciprocal consent, a condition for normative consensus, is linked to a constructive sense of morality, around which the notion of justice can assume an equally pedagogical value for moral agents.
Morals; Ethics; Ethical theory; Decision making; Ethical analysis
Resumen
El propósito de este ensayo es reflexionar sobre el problema de la justificación moral y su relación con la idea de justicia. Se argumenta que, como predicado de los juicios morales, la idea de justicia involucra dos requisitos éticos articulados entre sí: el primero señala la aspiración de garantizar un sentido no arbitrario para las normas a las que debemos obediencia; el segundo refleja el énfasis en el carácter doblemente consensual y universalizable de esas normas. Finalmente, se concluye que el desafío del consentimiento recíproco, condición para el consenso normativo, está ligado al sentido constructivo de la moralidad, en torno al cual la noción de justicia puede asumir un valor igualmente pedagógico para los agentes morales.
Principios morales; Ética; Teoría ética; Toma de decisiones; Análisis ético
A generalidade da justificação, a necessidade de poder formular o julgamento a partir de sinais comumente identificáveis, a exigência de decompô-lo para imputar uma responsabilidade a esse ou aquele agente humano (…), todas essas características obrigam a compreender os estados das pessoas segundo uma qualificação geral.
Laurent Thévenot 11. Thévenot L. Justificação. In: Canto-Sperber M, organizador. Dicionário de ética e filosofia moral. 2ª ed. São Leopoldo: Unisinos; 2013. p. 582.
Assim como em alguns livros de introdução à ética, oportuno começar este ensaio com breve reflexão sobre a diferença que juízos morais assumem em relação a outros juízos prescritivos. Para tanto, suponhamos a existência de um filho em pleno processo de socialização moral. E que é hora do jantar. Diante do seu descuido em fazer uso adequado dos talheres, poderíamos solicitar, por exemplo, que corrigisse sua conduta. Porém, o que sentiríamos caso o filho dissesse que machucou, de propósito, um colega de classe? Faríamos, certamente, com que ele reparasse o dano causado. Mas o que teríamos a dizer caso ele questionasse essa ordem? Diríamos que é porque se trata de algo tão errado quanto utilizar inadequadamente os talheres?
Para muitos estudiosos do fenômeno moral, esse é o tipo de pergunta que parece tocar em cheio o núcleo da moralidade. Pois ainda que pudéssemos – como de fato podemos – apontar o “erro” no uso inadequado dos talheres, dificilmente o julgamento dessa conduta teria por razão o mesmo motivo da censura à violência. A diferença, contudo, não estaria na simples gradação do que seria ou não moralmente “mais grave”, mas na própria distinção qualitativa que separa a esfera da moralidade do âmbito das demais convenções sociais.
Podemos testar essa hipótese nos perguntando sobre o que faríamos, por exemplo, caso a criança sentada à mesa fosse agora filho de um amigo estrangeiro, cujos hábitos de etiqueta incluem o poder comer com as mãos. Provavelmente não faríamos nada. Mas o que sentiríamos então caso fosse ele também quem confessasse agressão? Não sentiríamos que tal conduta merece ser igualmente repudiada por seu pai? Tudo indica que a resposta é sim.
No primeiro caso, temos o exemplo de obrigação apenas relativa, atinente a comportamento meramente convencional. Podemos estranhar, com efeito, a maneira como a criança estrangeira se comporta à nossa mesa, mas esse estranhamento não passaria, no máximo, de reação exclamativa. No segundo caso, entretanto, sentimos como se vínculo mais forte fosse rompido, e cujo valor não dependesse da cultura à qual pertencemos. Sentimos, portanto, como se obrigação absoluta não tivesse sido devidamente observada. Juízos morais parecem envolver, assim, pretensão de validade universal. Daí porque nos sentimos indignados quando aquilo que julgamos moralmente como a “coisa certa a ser feita” se torna alvo de violação.
É claro que esses exemplos não são suficientes para compreender a complexidade do fenômeno moral. Eles revelam apenas característica essencial dos juízos morais. Sentenças como “não devemos bater em nossos colegas” são morais porque parecem conter prescrição definitiva, norma, por assim dizer, indiscutível. Exemplos de enunciados assim são também os juízos legais, mas estes só são indiscutíveis porque sancionáveis pela autoridade do juiz, que é quem detém o poder de distinguir o “certo” e o “errado” em relação à lei.
No entanto, da mesma forma como ocorre com as demais convenções sociais, juízos morais também podem expressar diferentes perspectivas do que seja “certo” e “errado”. Nesse caso, o problema é que a pretensão de validade universal desse tipo de juízo acaba gerando sérios conflitos entre as pessoas. Desde então, essa esfera de exigências mútuas criada pela existência dos juízos morais passa a exigir também que os justifiquemos. Já não basta, portanto, dizer que esta ou aquela conduta está “certa” ou “errada”, mas é necessário também explicar o porquê.
Voltando ao caso do primeiro exemplo, parece agora evidente que, ao termos que explicar a nosso filho por que ele deve reparar o dano causado a seu colega, estamos buscando mostrar a ele perspectiva moralmente justificada do que acreditamos ser o certo e o errado. Como se pode deduzir, tal explicação é muito diferente de apontar a regra adequada para o uso dos talheres. Naturalmente, podemos ficar irritados caso nosso filho não se comporte à mesa da forma como esperamos, mas o sentido dessa irritação é completamente distinto daquilo que experimentamos ao saber que ele agrediu seu colega. Conforme já sugerido, é possível descrever tal afeto como autêntica indignação moral.
E por que nos sentimos indignados? Porque a regra segundo a qual “não devemos bater em nossos colegas” não foi seguida? Não parece ser assim tão simples. Se fosse, teríamos de concordar que a regra sobre o uso dos talheres é tão importante quanto aquela que diz que não devemos agredir as pessoas. O mais provável, portanto, é que ficamos indignados porque, em nossa percepção moral, a integridade física das pessoas é algo que comporta, em si, um “bem”, isto é, algo de que, prima facie, não estaríamos dispostos a abrir mão. Se essa formulação estiver correta, já temos então uma primeira definição do que significa justificar juízo moral: é explicar por que razão devemos valorizar alguma coisa como um “bem”.
Todavia, não deveríamos ainda nos dar por completamente satisfeitos com essa definição. Embora indique, de fato, o que significa justificar juízo moral, não parece tão claro de que forma podemos partir do próprio conceito de “bem” como noção moralmente autoevidente. No caso da integridade física das pessoas, em especial daqueles que desfrutam do nosso convívio (como amigo da escola, por exemplo), parece óbvio que o dever de preservá-la representa, em si mesmo, um bem. Não obstante, há muitas maneiras de entender moralmente essa obrigação. Importante ressaltar que a referência aqui não é à problemática metafísica do “bem em si”, mas do valor absoluto que atribuímos a determinadas coisas em si mesmas.
Um utilitarista, por exemplo, poderia dizer que esse dever representa um bem porque a capacidade que temos de experimentar dor e prazer nos impõe a condição de não fazermos sofrer (causar mal) a quem sabemos também ser capaz de experimentá-los – em particular quando isso envolve alguém do nosso círculo afetivo mais próximo. Em sua percepção moral, portanto, o fundamento desse dever diz respeito à constituição intrínseca da natureza humana, o que inclui, além da disponibilidade afetiva, o funcionamento de sistema nervoso capaz de transformar determinados estímulos sensoriais em satisfação ou sofrimento físico. Contudo, sabemos que esta não é a única forma de argumentar a favor da integridade física das pessoas, muito menos quando se trata de explicar em que sentido o dever de preservá-la representaria benefício.
Para exemplificar sob outros parâmetros, pode-se pensar então no que diria agora um homem religioso, digamos da fé cristã, cuja crença se remete à autoridade inquestionável de Deus. Para esse homem, são os mandamentos ditados por tal entidade transcendente que determinam, em última instância, o fundamento do seu dever moral. Certamente, ele pode até concordar com a tese utilitarista segundo a qual somos seres sensíveis, mas o benefício ligado ao dever de preservar a integridade física das pessoas não decorreria exatamente de nossa capacidade de experimentar prazer ou sofrimento. Não é a natureza, portanto, que determinaria o valor da integridade física das pessoas como um “bem”, senão o fato de que assim já foi determinado pela vontade divina.
Já foi dito, anteriormente, que não parece tão claro como se pode partir do conceito de “bem” como noção moralmente autoevidente. Por mais importante que seja sua posição em nosso vocabulário moral, seu emprego como fundamento da moralidade é marcado por ambiguidades nada triviais. Cremos ter também demonstrado, com base nos exemplos, uma das razões que podem contribuir para tanto. Porém, há pelo menos uma outra razão indicativa dessa ambiguidade implícita na noção de “bem” quando se trata de justificação moral, especialmente no que concerne à sua validade argumentativa por meio do uso de expressões como “bom” ou “mau”. Como veremos a seguir, tal razão fica mais explícita quando se compara o uso desses mesmos predicados em relação a outro conceito central do discurso moral: o conceito de “justo”.
A hipótese, contudo, não é que a ideia de justiça seja, por sua vez, noção moralmente autoevidente, e sim que ela parece situar com mais objetividade o problema da justificação moral quando se tem em mente a moralidade como esfera de exigências mútuas. A rigor, delimitar desse modo a ideia de justiça não significa estabelecer, a priori, critérios distributivos ou corretivos para a equação da vida social, pois antes se trata de investigar em que medida tal ideia pode desempenhar o papel de predicado insubstituível dos juízos morais.
A ideia da justiça e os juízos morais
Em “Reflexões sobre o que significa justificar juízos morais”, o filósofo alemão Ernst Tugendhat 22. Tugendhat E. Reflexões sobre o que significa justificar juízos morais. In: Brito NA, organizador. Ética: questões de fundamentação. Brasília: UnB; 2007. p. 19-35. desenvolve instigante análise a respeito dessa hipótese. Para ele, aquilo que pensamos poder definir como “bom” ou “mau” não parece elucidar teoricamente programa de justificação moral porque, para começar, tais predicados são pouco precisos para determinar o significado da indignação quando inserida em quadro social de exigências mútuas.
Sem dúvida, podemos ficar irritados diante de situações que ameaçam determinada defesa que façamos do que seja “bom”. Entretanto, apenas quando essa mesma defesa provém de crença compartilhada do “bem” que ela representa (isto é, a razão também pela qual devemos valorizá-la assim) é que poderíamos explicar aos demais membros da comunidade moral o justo motivo da nossa indignação.
Em outras palavras, ainda que muitos episódios do dia a dia possam nos causar irritação, nem sempre aqueles para os quais dirigimos essa emoção concordarão que o sentido de suas ações significa um “mal”. Pelo contrário: muitas vezes é em nome de diferentes visões acerca dos benefícios e malefícios em questão que ocorrem inúmeros conflitos e mútuas acusações de injustiça. A ideia de justiça, cumprindo assim a função de resguardar equilíbrio do sistema entre os indivíduos33. Tugendhat E. Op. cit. p. 32., tenderia a levar então à concepção de “certo” e “errado” somente presumível na forma de direitos e deveres recíprocos. Como se agora fosse a própria integridade da comunidade moral – doravante entendida como “autonomia coletiva” – o valor em vista no qual se deve depositar o máximo respeito. Nas palavras de Tugendhat:
O que significa, então, justo? Acho que justiça é o conceito contrário a poder. Temos de distinguir uma ordem normativa à qual estejamos subordinados por poder, pela ameaça de castigos externos (como se fôssemos escravos) de uma ordem normativa justa. E me parece que a única maneira de definir uma ordem normativa justa é pensar que os indivíduos se impuseram eles mesmos essa ordem 44. Tugendhat E. Op. cit. p. 27..
Segundo essa percepção do autor, portanto, um juízo parece moralmente justificável apenas quando o sentimento de indignação a ele correlato se refere a abuso cometido contra a autonomia coletiva, isto é, cuja prática expressaria desrespeito à ordem de reciprocidade constitutiva desse sistema. Logo, justificar juízo moral não consistiria em simplesmente explicar por que razão devemos valorizar alguma coisa como um bem, senão quando essa mesma explicação puder ser igualmente reconhecida por todos. Com base nessa perspectiva da moralidade como retrato de sistema coletivamente autônomo, se um indivíduo fere um tal sistema normativo ao qual pertence, ele fere as suas próprias regras, que são igualmente as regras de todos55. Tugendhat E. Op. cit. p. 26..
De acordo com Tugendhat, é ainda nesse sentido que se pode interpretar a culpa como fenômeno moralmente correlato da indignação, ou seja, a partir da qual a consciência emocional de ser objeto da própria repulsa só poderia resultar dessa mesma experiência social. Nesse contexto, supor a justiça como predicado de juízos morais sugere, mutatis mutandis, a presença de dois requisitos éticos articulados entre si: 1) a aspiração de garantir sentido não arbitrário para normas a que devemos obediência, o que exclui qualquer tentativa de fundamentar a moral em concepção de “bem” não compartilhada; 2) a ênfase no caráter duplamente consensual e universalizável dessas normas. Ao que tudo indica, só assim parece realmente possível determinar o que seria moralmente obrigatório e, por extensão, aquilo que poderia ou não ser também justificável.
Muitos estudiosos da moralidade defendem ser essa demanda por justificação vinculada à questão da autonomia, outra importante característica do discurso moral. Em parte, a origem dessa correlação é explicada pela dinâmica simbolicamente interativa da socialização dos indivíduos. Tal dinâmica pode ser descrita, em termos psicossociais, como processo gradativo de assimilação das normas da vida social. Vivendo ativamente essa experiência, as crianças aprendem a reagir também às suas próprias emoções. A pergunta pelo “porquê” das regras passa a determinar então o centro de suas expectativas, cuja satisfação é orientada pelo desejo de exercerem livremente sua autonomia. Dessa forma, quanto mais encontrassem ambiente marcado pela valorização de suas perguntas, mais também estariam aptas a compreender a necessidade de nos justificarmos perante os outros como fator de reciprocidade e engajamento cooperativo na vida social.
Com efeito, pode-se objetar que o resultado desse último exercício comparativo tenha omitido aspectos nada irrelevantes para o debate moral. De início, a tese em virtude da qual a explicação da indignação moral deve ser deduzida da premissa da autonomia coletiva parece enxergar com muito otimismo tanto a capacidade de os agentes morais se reconhecerem como iguais quanto a sensibilidade para incluir outros seres como objeto de consideração moral. Esta última crítica tem sido endereçada também a teorias contratualistas e comunitaristas da justiça e contém, pelo menos, três argumentos complementares.
O primeiro deles põe em questão a ideia de que a justificabilidade moral deva admitir como único fundamento nexo necessário entre validade de juízos morais e exigência de consentimento recíproco. O ponto central desse tipo de questionamento não é refutar a percepção de que a violação de acordos possa justificar moralmente o sentimento de indignação (assim como os juízos a ele relativos), mas sim a concepção de que somente com base na previsão de consenso seja possível determinar o valor moral da nossa indignação. Isso significaria, em princípio, subordinar o âmbito da moralidade à esfera de julgamento caracterizada essencialmente ou por afinidades culturais ou por definições políticas.
O segundo argumento visa a complementação desse diagnóstico. Afinal, se a legitimidade dos juízos morais depende unicamente do consentimento recíproco entre agentes morais autônomos, então é preciso supor que muitos indivíduos estariam impedidos, pelo menos como fonte dessa mesma legitimidade, de integrar a comunidade moral. Na prática, portanto, pensar a moralidade na perspectiva de sistema coletivamente autônomo excluiria não apenas toda pessoa que tenha sua autonomia deliberativa comprometida (como nos casos de certas deficiências ou de condições de extrema vulnerabilidade social), mas também qualquer outro objeto que porventura julguemos merecedores da nossa estima moral, como os animais, o meio ambiente etc. Por essa razão – daí se infere o terceiro e mais conclusivo argumento –, não parece razoável descartar tão facilmente o uso de predicados como “bom” e “mau”. Em certa medida, poderiam representar precisamente visão menos restrita da justiça.
De fato, os argumentos esboçados reforçam a impressão de que o problema da justificação moral requer atenção permanente à coerência filosófica que almejamos. Mais do que simples questão de coesão inferencial, trata-se de avaliar de que maneira as premissas adotadas passam a corresponder também a expectativa de análise orientada por algum grau de resiliência hermenêutica. Nesse sentido, pensar o núcleo da moralidade como algo relacionado à capacidade de indignar deveria levar novamente à questão sobre as condições que tornam possível a partilha mesma de tal sentimento.
Sendo assim, por mais férteis que pareçam agora os argumentos contrários ao caráter consensual da justificação moral, parece óbvio imaginar, por outro lado, que pouco poderíamos compartilhar sem a audiência daqueles a quem gostaríamos justamente de persuadir. E isso implica, de algum modo, já ter admitido como “destinatários afetivos” pessoas capazes de consentir. Como bem provocou Perelman, se os critérios e as normas, em nome dos quais é formulada uma crítica, não são unanimemente aceitos, se tanto a interpretação como a aplicação deles a casos particulares pode ser objeto de juízos discordantes, a qualidade e a competência dos interlocutores se torna um elemento essencial e, às vezes, até mesmo prévio ao debate66. Perelman C. Ética e direito. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 2005. p. 188-9..
É claro que essa advertência não deve servir para anular a pretensão de quem assume a moralidade para além daquilo que pode ou não ser fruto do consenso. Todavia, ao demarcar o campo em que se dão efetivamente as disputas em razão do moralmente justificável, dificilmente as implicações nele presentes poderiam ser contestadas. Sob esse aspecto, se há motivo para concluir a favor da primazia da ideia da justiça em matéria de justificação moral é tão somente porque nenhum outro conceito parece substituí-la quando se trata de garantir, em primeiro lugar, a voz de todos aqueles que, sendo efetivamente capazes, convém ter certeza de que ocupam autonomamente seu espaço no debate.
Mais uma vez, portanto, trata-se aqui da afirmação prioritária de direito, cujo valor é impreterível do ponto de vista da própria natureza pública da argumentação moral. Em tais circunstâncias, pouco importa se estamos convencidos de que nosso sentimento subjetivo aponta um “bem” a ser perseguido ou um “mal” a se evitar. Sem submetê-lo ao crivo do consentimento recíproco, outras crenças morais poderiam gozar do mesmo privilégio axiológico – “prerrogativa” que pode custar, inclusive, nosso mais profundo e mútuo repúdio.
Para esclarecermos melhor essas considerações, talvez devêssemos tomar agora o exemplo de caso concreto ocorrido na década de 1990 na Espanha. O caso inspirou a produção do filme Mar adentro, estrelado pelo ator Javier Bardem. A película mostra o drama vivido por Ramón Sampedro, ex-marinheiro e escritor, cuja vida foi marcada por trágico acidente que o deixou tetraplégico. Após quase 30 anos preso à cama na casa em que vivia, Ramón, que também era ateu, decide então que é hora de partir. Para isso, decide fazer de sua decisão ato igualmente público, com o objetivo de transformar sua causa em defesa do conceito de morte digna.
Sua família, entretanto, não aceita a situação. Seu irmão é o maior opositor, para quem a opção de se despedir da vida representa mal irrefutável. Em torno dessa opinião, outras pessoas da sociedade fazem também questão de desaprovar o desejo de Ramón (que chegou a levar seu caso aos tribunais; no entanto, a justiça espanhola não autorizou sua eutanásia). No geral, os argumentos buscam justificar essa censura não a partir de conduta interessada em ouvir o ex-marinheiro, mas na convicção de que a única coisa certa a ser feita é preservar a vida como um “bem”, ou seja, algo do qual seria terminantemente proibido abrir mão.
Em determinado momento, o filme chega a mostrar o embate entre Ramón e um padre, igualmente tetraplégico, que tenta convencê-lo sem sucesso do “pecado” em se voltar contra a vida, dádiva conferida por Deus, de modo que somente a Ele caberia dispor dela. Não deixa de ser compreensível, portanto, que o desfecho do caso em questão tenha envolvido outras pessoas que, de início avessas à vontade de Ramón, ajudaram-no clandestinamente com sua decisão após reavaliarem, enfim, o significado de suas próprias crenças subjetivas.
Do ponto de vista da argumentação moral, a descrição desse caso assinala de forma emblemática o que buscamos demonstrar aqui. Em linhas gerais, sugere que o fato de possuirmos a propriedade de nos indignar, em que pese sua importância para o âmbito da moralidade, não quer dizer que os juízos daí decorrentes estejam automaticamente justificados. Como alerta o professor Colin Bird, o que precisamos saber não é se as pessoas são de fato persuadidas, mas sim se deveriam ser77. Bird C. Introdução à filosofia política. São Paulo: Madras; 2011. p. 27..
Colocado dessa maneira, parece mais fácil concluir que o problema da justificação moral não foi devidamente compreendido por aqueles que resistiram ao desejo de Ramón. Como era de se esperar, eles estavam tão convencidos do “mal” representado pela vontade do ex-marinheiro que não deram chance para o verdadeiro diálogo. Nesse aspecto, é desnecessário especular sob que ponto de vista os predicados “bom” e “mau” poderiam ser aplicados em tal situação; afinal, por que deveríamos concluir que a decisão de Ramón não representa benefício? Antes mesmo que os predicados pudessem ser avaliados, o princípio da autonomia coletiva – sinônimo de ordem normativa justa – não foi admitido como valor.
Consenso normativo como horizonte da justificação moral
Não há dúvida de que a abordagem do caso de Ramón suscita novamente o problema do consenso normativo como único horizonte admissível da justificação moral. Nesse sentido, parece aconselhável mirar mais detidamente o significado desse horizonte para fins de argumentação. Com efeito, argumentar é apresentar razões com o objetivo de sustentar juízo perante audiência, sendo esta última constituída também por interlocutores autônomos. A ideia do consenso, pois, cumpriria a expectativa de que o produto dessa interlocução corresponda sempre a resultado justo, visto que todas as partes pleiteantes teriam consentido com suas consequências.
Em tese, isso equivale a dizer, em termos tugendhatianos, que todos os envolvidos possuiriam o mesmo motivo para aceitá-las 88. Dias MC. Justiça social e direitos humanos: ensaios filosóficos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Pirilampo; 2015. p. 94.. Por conseguinte, pensar a justiça como predicado dos juízos morais significaria pensar ainda nas próprias condições que assegurariam a autonomia dos indivíduos em regime de reciprocidade normativa. O único consenso válido, a propósito de argumentação moral, seria aquele em razão do qual a aceitação de um mundo marcado por exigências mútuas implica aceitar também tal exigência.
Já ficou claro, todavia, que esse modo de interpretar o problema da argumentação moral é visto com hesitação e suspeita. A razão se deve a suposta restrição do “método”, cujo processo indicaria hierarquia, e não somente diferença, entre agentes e concernidos: de um lado, os que devem (ou podem) tomar parte no processo comunicativo, do outro, os que correm o risco de não serem objeto da consideração moral. A dificuldade consistiria então na possibilidade de excluir o interesse de diversos outros seres cujo rol de funcionalidades não inclui o poder de deliberação argumentativa.
Além disso, supor o consentimento recíproco como único horizonte da justificação moral poderia aludir ainda à aposta perigosa na idealização do consenso como algo necessariamente representativo daquilo que devemos prestar contas. Em suma, mesmo supondo que o único consenso válido tenha origem em regime de reciprocidade normativa baseado no livre exercício da autonomia individual, parece questionável, para não dizer utópica, a imagem de tal regime deliberativo como fundamento pertinente à argumentação moral.
Conforme esclarecido, aderir a essa crítica não torna menos problemática a necessidade de tratar a moralidade como assunto, por assim dizer, deliberável. E isso remete, de novo, à questão de como podemos fazer do diálogo a plataforma de experiência intersubjetiva em direção ao consenso. A pergunta sobre o que deve ser igualmente bom para todos, típica do raciocínio inspirado na ideia de ordem justa, parece conduzir assim à representação primordial da moralidade como exercício socialmente comunicativo, cuja integridade dependerá também do quanto somos capazes de torná-lo, estrutural e politicamente, cada vez mais amplo e inclusivo. Para Habermas, por exemplo, longe de incorrer em espécie de idealismo filosófico, esse é o desafio que toca justamente no aspecto “prático” do problema. Como ele mesmo explica em passagem dedicada ao tema:
É só na qualidade de participantes de um diálogo abrangente e voltado para o consenso que somos chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em relação às nossas diferenças recíprocas na percepção de uma mesma situação. Devemos então procurar saber como cada um dos demais participantes procuraria, a partir do seu próprio ponto de vista, proceder à universalização de todos os interesses envolvidos. O discurso prático pode, assim, ser compreendido como uma nova forma específica do Imperativo Categórico. Aqueles que participam de um tal discurso não podem chegar a um acordo que atenda aos interesses de todos, a menos que façam o exercício de “adotar os pontos de vista uns dos outros”, exercício que leva ao que Piaget chama de uma progressiva “descentralização” da compreensão egocêntrica e etnocêntrica que cada qual tem em si mesmo e do mundo 99. Habermas J. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo: Martins Fontes; 2004. p. 10..
Essa referência à obra de Piaget, aliás, parece guardar estreita relação com o modo como Habermas interpreta o significado prático do respeito mútuo e aquilo que o famoso psicólogo suíço diz estar na própria origem do senso de justiça. Segundo Piaget, o desenvolvimento da mais racional sem dúvida das noções morais1010. Piaget J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus; 1994. p. 156. está ligado, sobretudo, ao sentimento de solidariedade entre coetâneos. Diferentemente de outras regras morais, cujo aprendizado envolve mais nitidamente a ascendência do poder da autoridade, o senso de justiça está determinado, para Piaget, por conflitos vivenciados diretamente com pessoas adultas.
A criança, reconhecendo então desequilíbrio nessa relação, aprende a expressar sua indignação como forma de solidariedade a seus “iguais”, ou seja, àqueles com quem ela costuma manter laço menos heterônomo de cooperação. Embora admitindo alguma influência dos preceitos e exemplos práticos do adulto, Piaget conclui que é quase sempre à custa e não por causa do adulto que se impõem à criança as noções do justo e do injusto1010. Piaget J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus; 1994. p. 156..
É difícil dizer até onde Habermas concorda com essa tese peculiar de Piaget. Não obstante, desde que se pense o problema da justiça como lei do equilíbrio das relações sociais1111. Piaget J. Op. cit. p. 157., convém ter clareza que, em se tratando de relações sociais entre agentes morais autônomos, deve-se ter novamente em mente que nada mais resta de essencial (solidário?) senão o princípio do consentimento recíproco. Do ponto de vista da justificação moral, eis porque, para Habermas, pensar o consenso como fundamento da moralidade só faz sentido na medida em que o atributo da universalidade faça parte também das pretensões normativas do discurso prático.
Se observarmos bem, isso não quer dizer que devamos supor grande “assembleia universal” como condição da validação das normas morais, mas que o contexto argumentativo leve em consideração a possibilidade de universalização dessas normas mediante a submissão de todos os interesses envolvidos. Uma vez mais, Habermas é aqui cirúrgico:
Um consenso normativo, formado em condições de participação livre e universal no contexto de um discurso prático, estabelece uma norma válida (ou confirma a sua validade). A “validade” de uma norma moral significa que ela “merece” o reconhecimento universal em virtude de sua capacidade de, por meio da razão somente, obter o consentimento da vontade daqueles a quem se dirige. O mundo moral que nós – na qualidade de pessoas morais – temos de produzir juntos tem um sentido construtivo. Isso explica por que a projeção de um mundo social inclusivo, caracterizado por relações interpessoais ordenadas entre os membros livres e iguais de uma associação que determina a si mesma – uma tradução do reino dos Fins de Kant, de fato pode substituir a referência ontológica a um mundo objetivo 1212. Habermas J. Op. cit. p. 65-6..
Como se pode ver, talvez agora fique mais evidente que o sentido construtivo da moralidade não quer dizer que o consenso normativo seja mero protocolo de concessões recíprocas, ou apologia “democrática” do voto majoritário, e sim prática em torno da qual cada agente moral pode se constituir exatamente como tal na relação com outros. Essa imagem é, certamente, mais pragmática do que qualquer outra perspectiva moral. O que ela nos ensina, em primeiro lugar, é que, assim como não é possível justificarmos nossos juízos morais por analogia a juízos empíricos, também não parece razoável buscar justificá-los com base em argumentos de autoridade – tenha esta última o disfarce que for.
Em segundo lugar, ela também nos ensina, consequentemente, que pensar a justiça como predicado dos juízos morais requer a mobilização permanente de razão comunicativa em respeito às pretensões de todos os interesses envolvidos. Cabe ressaltar que discordamos, portanto, da crítica feita por Tugendhat a Habermas no capítulo dedicado à ética do discurso em suas “Lições sobre ética” 1313. Tugendhat E. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes; 2012. p. 171.. A menos que se renuncie à própria questão da justificação dos juízos morais, a ideia de que algumas decisões não deveriam levar em consideração a participação de todos os envolvidos não tem fundamento. Nesse sentido, não parece plausível esperar sempre antecipação do “juízo moralmente justificado” sem a garantia da participação autônoma daqueles que, sendo o caso de estarem implicados, devem dele tomar parte.
Em termos metodológicos, isso se aplica tanto às morais contratualistas, ligadas mais a questões de justiça distributiva, quanto aos modelos de tomada de decisão voltados para a resolução de conflitos morais específicos. Aqui, ademais, salta aos olhos como a palavra “consentimento” (em tradução ousada: a capacidade de sentirmos-com!) remonta curiosamente à ideia de afetividade não excludente, sem a qual a “virtude cognitiva da empatia” não se mostraria, ela própria, qualidade moralmente racional.
Retomando a história de Ramón Sampedro, lembremos que o episódio do embate entre ele e o sacerdote católico envolve impasse estrutural vivido por agentes morais em situações de irredutível heteronomia. De acordo com as reflexões desenvolvidas até aqui, tais situações só são concebíveis no contexto do desenvolvimento moral infantil. No caso das relações morais estabelecidas entre adultos, no entanto, parece inconcebível pensar nesse tipo de experiência sob a categoria de situação justa.
Um moralista propenso a falácias talvez apontasse que, com base nesse critério, tampouco poderíamos afirmar que a decisão de Ramón está moralmente justificada. Aparentemente, não vemos como esse apontamento pode ser refutado, mas também não vemos por que ele precisaria ser. Se o consenso não foi possível no caso de Ramón, foi unicamente em virtude da incapacidade de seus interlocutores em obter seu consentimento. A hipótese contrária não se aplica, visto que a pretensão normativa de Ramón não era obrigar ninguém a nada além de reconhecer seu próprio direito à morte digna.
O teste de universalização aqui sugere que a integridade da comunidade moral, isto é, a presunção da “autonomia coletiva”, não foi comprometida pela natureza da reivindicação de Ramón (o qual, além de tudo, propôs debate público sobre sua decisão), mas pela resistência daqueles que a ela se opuseram em nome de crença particular. Nesse ponto em especial, Rawls é preciso: Para termos o direito de objeção contra a conduta ou a crença dos outros, devemos mostrar que suas ações nos prejudicam1414. Rawls J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes; 1997. p. 499..
Em suma, a reivindicação de Ramón não representava ameaça alguma à autonomia individual de seus interlocutores, enquanto ele mesmo se viu constrangido a uma saída clandestina para o impasse em que se encontrava. Dessa forma, parece muito pouco plausível negar o fato de que tenha sido ele, Ramón, a única parte prejudicada na qualidade de agente moral autônomo.
Considerações finais
Efetivamente, pensar a relação entre o problema da justificação dos juízos morais e o desafio do consenso requer compreensão valorativa da própria condição de elegibilidade dos conteúdos normativos. Do ponto de vista da teoria moral, essa abordagem tem sido classificada, via de regra, como perspectiva “procedimental”, cuja estrutura pode ser interpretada, filosoficamente, como ênfase metodológica nos princípios que devem regular o consenso. Contudo, desde que esses mesmos princípios possam ser vistos também como expressão do que Habermas chamou de “virtude cognitiva da empatia”, convém não subestimar seu valor pedagógico. Se a noção de justiça cumpre com mais eficácia o estímulo moral à prática dessa virtude, então parece oportuno apostar nela como a ideia que melhor se ajusta realmente ao encargo de predicado dos juízos morais.
Anexo
Referências
-
1Thévenot L. Justificação. In: Canto-Sperber M, organizador. Dicionário de ética e filosofia moral. 2ª ed. São Leopoldo: Unisinos; 2013. p. 582.
-
2Tugendhat E. Reflexões sobre o que significa justificar juízos morais. In: Brito NA, organizador. Ética: questões de fundamentação. Brasília: UnB; 2007. p. 19-35.
-
3Tugendhat E. Op. cit. p. 32.
-
4Tugendhat E. Op. cit. p. 27.
-
5Tugendhat E. Op. cit. p. 26.
-
6Perelman C. Ética e direito. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 2005. p. 188-9.
-
7Bird C. Introdução à filosofia política. São Paulo: Madras; 2011. p. 27.
-
8Dias MC. Justiça social e direitos humanos: ensaios filosóficos. 2ª ed. Rio de Janeiro: Pirilampo; 2015. p. 94.
-
9Habermas J. A ética da discussão e a questão da verdade. São Paulo: Martins Fontes; 2004. p. 10.
-
10Piaget J. O juízo moral na criança. São Paulo: Summus; 1994. p. 156.
-
11Piaget J. Op. cit. p. 157.
-
12Habermas J. Op. cit. p. 65-6.
-
13Tugendhat E. Lições sobre ética. Petrópolis: Vozes; 2012. p. 171.
-
14Rawls J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes; 1997. p. 499.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jan-Apr 2018
Histórico
-
Recebido
17 Set 2017 -
Revisado
7 Dez 2017 -
Aceito
8 Dez 2017