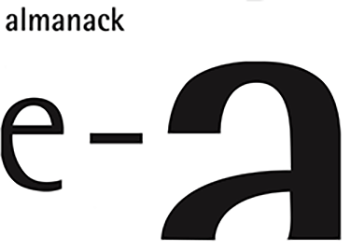Joseph Calder Miller, ou como ele gosta de ser chamado “Joe”, é um dos mais importantes historiadores africanistas em atividade5 5 Logo depois da aprovação da entrevista, os seus autores receberam a notícia do falecimento do professor Miller. Não queremos escrever um necrológio, pois pessoas mais qualificadas escreveram e escreverão textos bem redigidos sobre a imensa contribuição de Miller para a história em geral (e da África em particular), mas os autores gostariam de acrescentar uma frase que escutaram a respeito de Miller recentemente e que sintetiza o que pensavam dele: “Joe Miller foi um dos gigantes da história da África”. . Doutorado pela Universidade de Wisconsin, berço de uma boa parte dos pesquisadores que ajudaram a consolidar o campo de História da África, foi orientado por Philip Curtin e Jan Vansina. Seu campo de pesquisa foi a História de Angola, em particular dos Imbangala, comunidade que viveu independentemente do domínio português até o século XX. Da sua extensa obra, destaca-se o clássico “Way of Death”, que talvez possa ser definido como uma história econômica do tráfico de escravos em Angola, mas também uma história dos povos que interagiram através desse comércio. Trabalho clássico e necessário que agora, graças ao esforço coletivo de diversos pesquisadores brasileiros, será finalmente publicado aqui no Brasil. Atualmente investiga a história global da escravização, contribuindo para o entendimento dessa relação social (ou “estratégia”, como ele mesmo ressalta) fora dos marcos tradicionais de sua interpretação (a escravidão como instituição nos quadros do Estado Nacional).
Poderíamos aqui elencar sua obra, prêmios e títulos acumulados numa profícua carreira universitária, mas acreditamos é melhor deixar que o autor fale por si. Afinal, nesta entrevista, reproduzida na íntegra graças aos editores da Revista Almanack, temos uma síntese da sua trajetória e uma lição sobre História e sobre epistemologia que dispensam qualquer tipo panegírico.
***
1) Conte-nos um pouco de sua trajetória e de suas escolhas na carreira de historiador. Por que História? Por que História da África? Quais suas principais influências acadêmicas nesta área?
Miller. Vocês devem estar perguntando educadamente sobre como eu me tornei historiador da África [especialista em História da África], que é como eu me vejo. O trabalho que fiz sobre a história mundial do tráfico de escravos e da escravidão, eu vejo como secundário. E esses dois “interesses” foram inteiramente por acidente. Eu às vezes digo às pessoas que fazem esta pergunta: “Não é minha culpa!”
Eu vim de uma família de classe média de meados do século XX, de uma cidade de tamanho médio no “meio oeste americano”, o que não é exatamente uma origem que sugerisse que eu terminaria na Baixa de Cassange no meio de uma guerra de libertação em 1969. Meu avô e meu pai tinham sido diretores de uma loja de departamentos naquela cidade (Cedar Rapids, Iowa) e fui criado para ser a terceira geração diretores da empresa. Eu esperava passar toda a minha vida na cidade onde eu havia nascido, assim como meus pais e meus avós.
Mas eu tinha viajado, por mar, para a Suécia como estudante de intercâmbio de verão durante minha escola secundária, e queria ver um pouco mais do mundo antes de voltar para me estabelecer. Então eu saí da cidade para cursar a graduação em uma faculdade masculina pequena, Wesleyan University, em Connecticut, numa parte muito diferente dos EUA (Estados Unidos da América). A filosofia educacional lá era o que foi chamado de “artes liberais”, isto é, variar amplamente em através de todas as disciplinas acadêmicas. Eu não acho que exista um equivalente no Brasil, onde você ganha seu primeiro diploma em um assunto definido, como a História. Nas faculdades dos EUA (que se concentram em estudantes de graduação) e até mesmo as universidades com programas de pós-graduação - mestrados e doutorados - exigem que seus alunos façam uma ampla gama de cursos, com uma concentração apenas parcial (cerca de um quarto do total, um ano em quatro) em um assunto “principal”, como a História.
Mas eu queria explorar campos diferentes, uma vez que - como minha mãe sempre dizia - eu era curioso. O currículo wesleyano exigia que eu me matriculasse em uma área de concentração, então escolhi a menos restritiva que pude encontrar, que era a História. A faculdade de História me permitiu fazer cursos de história da arte, História da Música e História da Literatura, tudo com vistas à minha área de concentração. Eu fui tão bem sucedido em diversificar, que me formei em “História” sem ter feito cursos convencionais de história suficientes para saber o que o tema poderia realmente significar. Eu era um diletante dedicado. Mas a superficialidade acadêmica não importava, porque eu estava voltando para casa para administrar uma empresa familiar, e eu poderia usar um pouco de conhecimento sobre muitas coisas em coquetéis.
Esse objetivo prático levou-me a obter um MBA, dois anos adicionais de treinamento profissional em contabilidade e finanças e outros aspectos da administração de um negócio não relacionado à História. Mas eu deveria ter suspeitado de algo quando por ocasião do trabalho de conclusão da graduação, escrever um “estudo da indústria”, levou-me a escrever um ensaio de 20.000 palavras sobre a história das companhias aéreas nos Estados Unidos. Eu acho que a faculdade estava esperando 2.000 palavras e uma recomendação para “comprar” ou “vender”.
Eu havia me casado com uma jovem da minha cidade natal, cujos avós eram amigos dos meus avós, e nossos pais tinham sido sócios nos negócios ao longo de toda a vida adulta. Nós dois voltamos para casa, para a nossa cidade natal, e comecei a trabalhar na loja da família, com o possível fardo de ser o “filho do patrão”. Mas os funcionários foram muito receptivos e eu comecei a herdar o valor de responsabilidades cívicas de três gerações de duas famílias. Eu não acho que estava pronto.
Então, um dia, minha esposa encontrou na rua uma amiga dela dos tempos da escola secundária. Ambas carregavam filhas de um ano de idade e decidiram encontrar-se para os bebês brincarem juntos. As duas mães gostaram de terem se reencontrado e decidiram organizar um jantar para os maridos se conhecerem também. Esse convite foi o momento decisivo. O marido da amiga de minha esposa era um assistente de ensino da faculdade local - onde [os meus pais e os da minha esposa] todos se formaram, mas sobre a qual eu não sabia nada, exceto que meu pai tinha participado do conselho de administração da faculdade, e eu lembro que ele chegava em casa para jantar depois das reuniões daquela diretoria reclamando veementemente sobre o quão “difícil” era a faculdade.
Essa foi a noite em que compreendi melhor. A amiga de minha esposa havia nos incluído em um jantar com meia dúzia de membros da faculdade e suas esposas. Bem, era 1963 e, portanto, as cônjunges eram todas esposas capazes, talentosas, criativas, mas desempregadas. A conversa deles me eletrizou! Eu senti como se uma lâmpada tivesse acendido na minha cabeça. Essa gente intelectual me animou! Minha cidade natal e os negócios da família pareciam agora um dever ... uma obrigação ... até um fardo.
Mas o que fazer? Obviamente, eu precisava deixar os negócios e me formar como professor e passar o resto da minha vida com amigos e colegas inteligentes, espirituosos, engajados, politicamente experientes. Eu não estava sendo muito bem pago, independente de ser o filho do chefe, e eu tinha uma esposa e uma filha e uma hipoteca sobre a casa que compramos. Eu me voltei para eles, para os meus novos amigos, em busca de conselhos e se eu poderia me dar ao luxo de abandonar tudo. Qual assunto deveria estudar? Eu não fazia ideia, mas como meu curso de graduação era em “História”, por menos que houvesse aprendido sobre a disciplina, eu teria uma chance maior de ser admitido em um programa de pós-graduação nesse assunto.
Mas essa decisão inicial apenas levou a outra escolha, para a qual eu estava igualmente despreparado. Qual campo da história? Meus novos amigos me aconselharam com sabedoria: “Nem mesmo considere a história dos EUA ou da Europa; já existem muitos doutores nesses campos e, com suas responsabilidades financeiras, você precisará de um emprego.” Então eles disseram, com alguma incerteza: “Por que você não considera um desses novos campos ‘não ocidentais’?” Lembre-se, em 1963, todos os campos além da Europa e dos EUA eram novos. Eu pensei “Por que não? Eu sou curioso …”.
Então mais uma decisão: eu tive que escolher uma universidade. Eu escolhi três universidades do Meio-Oeste, porque minha mãe sofria de Parkinson, e eu senti que deveria estar em algum lugar perto o suficiente para estar disponível se necessário. Entre as três, todas selecionadas por motivos pessoais, nada a ver com [motivos] acadêmicos - sobre os quais eu não sabia nada -, eu ouvira dizer que a Universidade de Wisconsin tinha um bom departamento de História. O que não sabia era que esta reputação da qual eu escutara falar era de antes da Primeira Guerra Mundial, o ponto alto do progressismo do Meio-Oeste. Eu estava apenas meio século desatualizado: não é um bom começo para um historiador em potencial.
Então, eu me candidatei. Quando preenchi o formulário de inscrição, não entendi a pergunta na parte inferior da primeira página; perguntava: “Em que seminário você quer se inscrever?” E estavam listados todos os campos regionais que o programa oferecia, começando com os EUA (ainda o principal motivo de [“pretensão à fama”?] daquele departamento), depois a Europa e a História Antiga, seguidos por uma longa lista de campos “novos não ocidentais”: China, Japão, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América Latina, Índia e... África. Minha reação, literalmente, e eu cerro os dentes toda vez que me lembro daquele momento, foi “África? Eu não sabia que a África tinha uma História”. E também não fazia ideia de que Hegel tinha levantado as mesmas dúvidas, muito mais seriamente, 150 anos antes.
Mas, pensei, é apenas um “seminário”, que eu entendi como um curso de um semestre. Eu estava, como sempre, curioso e, então, pensei “por que não?” E marquei a opção de “África”. Eu teria muito tempo, pensei, para avaliar outras opções.
É claro que “seminário” era uma reminiscência da linguagem de seu currículo anterior à Primeira Guerra Mundial, uma relíquia do inglês vitoriano e da primeira ou segunda década de treinamento profissional em história nos Estados Unidos. Assim, a linguagem deles estava tão desatualizada quanto às minhas expectativas.
Eles me admitiram no “seminário” da África, por razões que nunca entendi. Eu certamente não tinha qualificações óbvias. Eu nem notei que tinha me candidatado para um PhD [doutorado] em História da África, não importava se a África tivesse ou não uma história. Você pode imaginar minha surpresa quando cheguei a Madison e percebi que estava comprometido a “longo prazo”.
Mas a boa notícia foi que eu terminei no (provavelmente) melhor programa da história africana no mundo, liderado pelos professores Philip D. Curtin e Jan Vansina, dois eminentes fundadores do campo nos EUA. Junto com nada menos que onze outros novos estudantes, quase todos eles retornando de serviço voluntário na África, que vinham para a pós-graduação como uma forma de suavizar sua reentrada cultural nos EUA. Contraste então de seu mundanismo com minha formação deliberadamente paroquial. O choque cultural foi meu! Felizmente, entre eles estava minha admirada amiga de longa data, Mary Karasch.
Esperado ou não, fiquei fascinado e nunca mais olhei para trás, nem por um instante. Cinqüenta anos depois, aquele grupo de estudantes passou a liderar a profissão de História da África nos EUA e alguns deles internacionalmente - incluindo Allen Isaacman. Somos conhecidos como a “Máfia de Madison”, e eu me considero extremamente privilegiado por ter acabado, de alguma forma, no lugar certo, na hora certa. Totalmente por acidente; não tive “culpa” nenhuma.
Mas ainda havia outras escolhas para fazer. O Prof. Curtin era um homem ocupado e eu acho que ele não tinha tanta certeza sobre as perspectivas em [História da] África para um ex-empresário de Iowa, cujo conhecimento de línguas estrangeiras era extremamente limitado. Lembre-se - eu estava entrando no mundo dos negócios e todos faziam negócios em inglês americano, e meu sotaque era do meio-oeste americano.
Curtin trouxera Vansina para Wisconsin apenas alguns anos antes. Ele ainda não tinha publicado Oral Tradition ou Kingdoms of the Savanna, e, portanto, não devia ter atraído muitos estudantes. Então eu fui designado para ele ser meu orientador; Isaacman havia sido designado para ele no ano anterior. Vansina, nascido na Bélgica (no lado flamengo) era francófono e eu pensei que ele seria um bom guia para aprender francês. Ele era, naturalmente, um erudito, falando uma dúzia ou mais línguas (incluindo africanas) e chegando a publicar elegantemente em seis delas.
Como eu estudaria com Vansina, minha pesquisa se concentraria na África central, o campo dele. Assim, eu solicitei [a Vansina] um tema de pesquisa sobre alguma parte da região francófona - o que compreendia a maior parte dela, claro, desde os Camarões, através da (antiga) l’Afrique Equatoriale Française, até o Congo. Por isso, eu achei um pouco estranho quando ele apontou as dificuldades em pesquisar cada tópico que eu propus. Finalmente, ele sugeriu os Chokwe (Quiôcos) no leste de Angola do século XIX. “Mas”, eu protestei, “estou tentando aprender francês e não conheço nenhuma palavra de português”. Pelo menos eu sabia que [estudar] os Chokwe poderia envolver o português. “Oh!” Ele respondeu, “o português é fácil. Aprendi em duas semanas enquanto estudava italiano. Apenas leia uma gramática, compre um dicionário bilíngue e faça-o”.
A ingenuidade pode ter suas vantagens. Vansina tinha um dom realmente maravilhoso de fazer todos os seus alunos sentirem que poderiam fazer qualquer coisa. Ele parecia saber tudo, literalmente para além de nossa compreensão coletiva, exceto por um ponto cego: nossas próprias limitações. Mas o que eu sabia? Então eu pensei, “OK, eu vou fazer isso.” Claro, ele não tinha mencionado todos os diários dos viajantes alemães que eu também teria que ler, ou as fontes em italiano (que eu não tentei aprender durante um fim de semana enquanto eu estava estudando Português). O resultado foi uma dissertação de mestrado que ganhou o prêmio A.C. Jordan do Programa de Estudos Africanos de Wisconsin e tornou-se minha primeira publicação, circulando bastante ao longo dos anos.
Ainda há muito que contar sobre a melhoria do meu conhecimento em leitura do português, que mal dava para ler, até os níveis de compreensão oral e de conversação necessários à pesquisa de campo em Angola, mas a questão era “Como acabei fazendo pesquisas sobre a história angolana?” e a resposta, mais uma vez, é “não é minha culpa”- com a ênfase adicional de que eu não poderia ter tido mais sorte. Os meus colegas lusófonos foram generosamente receptivos e solidários, em Portugal, Angola e Brasil, sem uma única exceção. Aprendi mais com eles do que imaginei que poderia haver para aprender, e agradeço a todos vocês. Mais um resultado imerecidamente feliz.
Quanto às minhas inspirações intelectuais, fui extremamente afortunado por conhecer tão bem duas das figuras definidoras de História da África, como mentores e como amigos. Foi a combinação perfeita tanto na prática quanto na teoria, uma vez que Vansina e Curtin eram tão diferentes em todos os sentidos, pessoalmente, intelectualmente e como mentores. Eu acho que eles não estavam sempre completamente confortáveis com essas diferenças, assim como com a sua semelhança fundamental em querer estar no comando de quaisquer situações em que eles se encontrassem. Até mesmo Madison não era grande o suficiente para os dois na mesma sala, de modo que eles até alternavam os anos em que saíam em licença de pesquisa. O resultado foi que em minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado trabalhei os temas com Vansina, mas escrevi os textos para Curtin. Com alguma sorte, consegui combinar os insights de Vansina sobre a África com a dedicação de Curtin em escrever com clareza e prestar serviço à profissão. Esta orientação conjunta permitiu acrescentar os feitos de Curtin em História Econômica, nos métodos quantitativos e sobre a escravidão à minha própria formação em finanças e combiná-los com o pouco que pude dominar da versatilidade multidisciplinar de Vansina em idiomas, linguística, antropologia e arqueologia, além do método histórico em sentido mais estrito.
A maior parte disto convergiu no meu Problem of Slavery as History (Yale, 2012), que é dedicado a ambos e tenta substituir o pensamento comparativo convencional sobre “a escravidão (slavery) como uma instituição” por um enfoque histórico epistemologicamente rigoroso sobre “escravização” (slaving) como prática, como estratégia motivada e possibilitada pelas posições dos escravizadores em seus contextos de tempo e lugar. Os escravizadores desenvolveram suas estratégias a partir de processos contínuos de mudança e então usaram recursos (humanos) externos à dinâmica anterior para alterá-la, em sua própria vantagem. É o tópico de Curtin, tratado em uma veia historiológica inspirada pela dedicação implacável de Vansina ao método - herança de sua própria formação como medievalista. A história da África em seus períodos iniciais apresenta-se como um desafio inerente para a maioria do pensamento intuitivo nos campos conceituais das modernas ciências sociais. A “escravidão”, como uma abstração sociológica imaginada - e rotineiramente qualificada como uma “instituição” e não como uma ação - é um excelente exemplo disto.
Subsequentemente, sou inspirado por colegas que pretendem compreender as ontologias distintivas dos africanos. Jane Guyer (Johns Hopkins, professora emérita) é uma antropóloga econômica que merece a atenção de todos, por sua capacidade quase única de adaptar a economia liberal formal, o mais moderno dos discursos intelectuais, para explicar estratégias econômicas radicalmente diferentes na África. Steve Feierman (U. Pensilvânia, professor emérito), um historiador com formação de atropólogo, igualmente preenche a lacuna entre a África primitiva e os nossos “eus” modernos, articulando cada lado do outro. E David Schoenbrun (Northwestern), um historiador lingüístico que, junto com seus alunos, desenvolveu a linguística histórica de uma técnica de classificar linguagens para um método de recuperar motivações históricas, o ponto de partida de “fazer” qualquer história, e fazendo isto sobre a incontrovertível evidência do que as pessoas antigas estavam dizendo sobre o que estavam fazendo. Você pode usar palavras para mentir, mas as palavras que você usa para mentir não podem negar sobre o que você estava falando. A seleção desses três, por motivos epistemológicos, não implica a falta de apreciação dos muitos outros colegas de quem também aprendi enormemente.
Devo acrescentar que sou constantemente inspirado de maneiras mais imediatas pelo tamanho e sofisticação da produção historográfica brasileira, e particularmente por muitos dos profissionais que tratam do tema da escravidão em seu país. Vocês treinam seus alunos rigorosamente sobre uma riqueza incomparável de documentação intrigante e os orientam apropriadamente em direção à teoria sofisticada e à historiografia internacional. Eu tento acompanhar suas conferências acadêmicas em proliferação e as centenas de trabalhos de pesquisa que produzem a cada ano, bem como uma série de monografias e coleções de artigos de pesquisa. E vocês publicam quase toda essa produção de forma acessível na internet e em vários formatos. O Brasil é um modelo de pesquisa comprometida, responsável e acessível. Meus agradecimentos!
***
2. Você esteve nos anos 60 em Angola para fazer sua pesquisa de campo, no contexto da Guerra de Independência, como foi sua experiência por lá? Houve alguma dificuldade relacionada às autoridades coloniais ou aos guerrilheiros?
Ahhh - Angola! Outra experiência no meu aprendizado, “aprendizado extremo”, pode-se dizer.
Um pouco de contexto: afinal terminei com esses Quiôcos, pensei. Agora é se estabelecer em algum lugar na África central francófona e aprender francês corretamente. Mas Vansina tinha outras ideias. Mais uma vez, ele tolerou minha busca por temas de pesquisa de doutorado no Congo e em Camarões, mas ele sempre teve reservas. Até um sábado à tarde, em um encontro casual fora do quadro habitual de colaboração acadêmica, ele suspirou: “Que pena que você não quer ficar com os portugueses e com Angola. Há um reino lá, chamado Kasanje, que eu tratarei em meu próximo livro se você não quiser pesquisá-lo para sua dissertação. ”
Fim de discussão. Eu respondi: “Sim, senhor, eu entendo o que você quer dizer. É melhor começar a aprender paleografia.”
A tarefa era clara e, para mim, isto mostrava uma confiança significativa em mim por parte da Vansina. Seu Oral Tradition estabeleceu o padrão [analítico] para o potencial das tradições orais dos africanos como fontes para as histórias das vastas regiões não documentadas da África central. Ele havia elaborado este método histórico em seu tempo de pesquisa em Ruanda e Burundi e entre a comunidade dos Kuba no Congo Ocidental - todos em territórios coloniais belgas, onde ele havia sido empregado do governo colonial como pesquisador do Institute pour la Recherche Scientifique en Afrique Centrale (IRSAC) (Instituto para a Pesquisa Científica da Africa Central) - baseado em procedimentos de crítica documental que ele aprendeu em sua instrução formal como historiador da Europa medieval, mas ele não teve nenhuma confirmação baseada em documentos escritos dos processos históricos que ele havia inferido.
Angola era a principal oportunidade de comparar tradições orais na área de Kasanje, registradas desde o século XIX por vários viajantes europeus, incluindo os oito volumes maciços da missão portuguesa liderada por Henrique Augusto Dias de Carvalho na década de 1880, com documentação portuguesa da ocupação das regiões costeiras e do subsequente desenvolvimento do comércio de pessoas escravizadas para as Américas. Meu trabalho era estudar a documentação, coletar quaisquer tradições adicionais que ainda pudessem sobreviver sobre a história da organização política de Kasanje e explorar os documentos para confirmar a sua historicidade. Essa estratégia significou um período tão longo quanto possível de residência entre os Imbangala (Bângalas no esquema étnico dos portugueses) de Kasanje. A oportunidade de testar o famoso método histórico de um grande mentor pareceu muito promissora, para dizer o mínimo.
Mas Vansina não mencionou Salazar, o ditador em Portugal, ou movimentos de libertação armados ou a PIDE, a polícia secreta fascista que manteve a ditadura mais duradoura da Europa no poder, àquela altura por mais de quarenta anos.
Tampouco se incomodou em salientar que a violência e a brutal repressão do governo português do que se tornou a guerra de libertação de Angola havia começado no final de 1960 na Baixa de Cassange, exatamente a área do reino que eu deveria estudar. Oito anos depois, para muitos sobreviventes, as lembranças daquela carnificina estavam muito vivas.
E depois também havia uma sensibilidade do governo luso-tropicalista de Portugal para os visitantes que falavam (ou escreviam!) inglês. Suas infelizes experiências com os visitantes anglófonos remontavam ao famoso missionário escocês David Livingstone na década de 1850. Ele havia viajado para o norte a partir do Cabo da Boa Esperança para chegar a Luanda, onde foi prodigamente recebido e tratado com generosidade e respeito. Então ele caminhou de volta para o leste para os postos portugueses no rio Zambeze e retornou à Grã-Bretanha para escrever seu famoso relato abolicionista - Missionary Travels and Researches in South África, (1857) - no qual ele criticava severamente a longa devoção de seus anfitriões portugueses ao tráfico de escravos angolano. Portugal pode ter sido o “aliado mais antigo” da Grã-Bretanha, mas no final do século XIX os triunfantes britânicos desdenharam desse pequeno país da Europa com grandes territórios na África que cobiçavam. Essas tensões culminaram com a crise diplomática de 1890 na área do Zambeze e com a invasão de Cecil Rhodes das áreas entre Angola e Moçambique que Lisboa considerava portuguesas. Em seguida, o produtor de chocolate britânico William Cadbury escreveu uma crítica contundente às práticas de trabalho forçado empregadas para enviar serviçais a São Tomé para cultivar o cacau usado para fazer os doces de Cadbury. Liberais (neste caso, Quaker) britânicos estavam se mostrando convidados indesejados na África portuguesa. As críticas continuaram com o relatório Ross (1925) da Liga das Nações sobre as condições do trabalho forçado em Angola, e as críticas internacionais receberam a chancela acadêmica na própria origem dos estudos africanos modernos nos anos 1950, com o antropólogo americano Marvin Harris, o jornalista britânico Basil Davidson, e o professor dos EUA de literatura portuguesa James Duffy, que registrou com ultraje os métodos coercitivos, decididamente não liberais, de mobilização do trabalho africano para projetos coloniais portugueses na África.
Os americanos também estavam se envolvendo, particularmente após o “ano da independência” de África em 1960 e a eleição de John Kennedy como presidente dos EUA, a crise de Katanga no Congo independente próximo às fronteiras de Angola e as disputas sobre o uso pela força aérea americana do aeroporto das Lajes nos Açores, enquanto os protestos radicais contra os militares no Vietnam cresceram nos EUA nos anos 60. Havia rumores de que a CIA estava envolvida com alguns dos movimentos de libertação na África Austral, ainda colonial, e, não menos importante com a FNLA [Frente Nacional pela Libertação de Angola] em Kinshasa, e circulavam boatos de que acadêmicos africanistas americanos reuniam informações secretas sob o disfarce de sua pesquisa acadêmica. Era uma época agudamente sensibilizada pela política e Madison, Wisconsin, tinha sido um dos centros mais ativos de protesto, até de violência, no movimento anti-guerra americano. Eu e meus colegas fomos expulsos de nossas aulas por diversas vezes devido ao gás lacrimogêneo das manifestações de rua que se infiltravam nos salões da universidade.
O que as autoridades encarregadas da defesa do Estado Novo de Salazar poderiam esperar de um jovem estudante de pós-graduação americano? Particularmente de alguém que pretendia fazer pesquisa de campo em uma zona de guerra altamente sensível, e sobre o reino que, por mais de dois séculos, foi o principal fornecedor de escravos para os portugueses em Luanda? O próprio tema do tráfico de escravos, um constrangimento desde a exposição de Livingstone, na época de Salazar, foi eliminado da história acadêmica portuguesa. A história oficial “angolana” era o estudo de missionários altruístas, governadores, conquistas e uma “missão civilizadora”, seguindo o luso-tropicalismo de Gilberto Freyre, com sua base na harmonia racial. Nesse contexto restrito, era mais seguro editar e publicar documentos do que tentar uma história narrativa e interpretativa. O que acabou sendo uma boa notícia para um jovem historiador anglófono de Wisconsin, já que muitos dos principais documentos foram cuidadosamente transcritos, anotados e publicados, com tantas questões históricas em aberto. Tenho enorme respeito pelo trabalho dedicado e excelente dos estudiosos daquela época, o padre António Brásio, o padre António da Silva Rego e o antigo funcionário do governo António Carreira, para mencionar apenas alguns que sobreviveram a um regime fascista de forma tão criativa e produtiva.
Mas um jovem americano era outra história, mesmo acompanhado, como eu, de uma esposa e dois filhos, de três e cinco anos quando chegamos a Lisboa em 1968. Portugal não era particularmente problemático para pesquisadores estrangeiros, embora o Arquivo Ultramarino normalmente exigisse várias horas para entregar as caixas de documentos que solicitávamos, e algumas chegavam suspeitosamente vazias. Quer a equipe do arquivo, ou o complemento do PIDE, estivesse ou não “higienizando” as partes da coleção que podíamos ver, o fato era que estávamos sendo vigiados de perto. A única maneira de obter um visto para Angola (ou para Moçambique) era acalmar as suspeitas de autoridades invisíveis, passando longas, escuras e frias horas de inverno no palácio de pedra sem aquecimento onde o arquivo estava guardado, folheando coleções de documentos que nós sabíamos que tinham sido esvaziadas do que quer que imaginassem que estávamos interessados. “Nós” éramos um pequeno grupo de pesquisadores britânicos e americanos de doutorado, a maior parte deles trabalhando sobre o Brasil do que sobre a África; não havia um português ou, em 1968, brasileiros, por razões que seus leitores no Brasil conhecerão melhor que eu.
O entendimento - e era tácito, nunca articulado - era que se mantivéssemos nossos narizes nas caixas e não nos associássemos com pessoas consideradas perigosas pela PIDE, que incluíam qualquer africano, seríamos eventualmente informados de que era [o momento] apropriado para solicitar vistos para Angola. Como nunca se sabia de quem o governo poderia suspeitar, nós nos socializávamos principalmente entre nós, amontoados em um pequeno enclave de expatriados. A grande perda foi o quão poucos portugueses pudemos conhecer, mas foi uma época de [prudente?] cautela e cautela para eles também.
Eventualmente, um contato acadêmico que eu conheci, alguém que estava bem relacionado nos círculos oficiais, sugeriu informalmente que os vistos para mim e minha família poderiam estar disponíveis. Acho que a PIDE decidiu que os espiões da CIA não viajavam com esposas e filhos. Ou que eu havia demonstrado suficiente insensatez e futilidade naquele longo e frio inverno no AHU, que eu não poderia ser uma ameaça para ninguém além de mim mesmo e à minha família. Ou que eu era tão ingênuo que eles seriam capazes de me convencer de qualquer coisa e me transformar em um golpe de propaganda quando eu retornasse. Eu poderia me tornar sua vingança pelos insultos de Livingstone.
Não vou tentar descrever as mistificações de conduzir qualquer tipo de negócio com um estado policial, particularmente com sua polícia de estado, mas de alguma forma recebemos os nossos vistos - por apenas trinta dias - e fizemos as malas para o longo voo para Luanda. Uma vez que a TAP, a companhia aérea nacional portuguesa, foi impedida de desembarcar ou mesmo sobrevoar qualquer lugar na África independente, por ser uma agência de um regime colonialista, eles investiram na compra de aviões de primeira geração de 747 de longo alcance. Voar todo o caminho ao redor da costa ocidental da África antes de voltar-se para o sudeste em direção a Luanda foi outra experiência no meu aprendizado.
Mas finalmente aterrisamos. Queria prestar os devidos respeitos às autoridades de Luanda e depois passar directamente para o meu local de investigação nas zonas orientais do Distrito de Malanje, o terminal interior da estrada de ferro de Luanda e acessível por uma estrada asfaltada, parte de uma construção recente de infra-estrutura rodoviária na colônia para permitir a logística do exército Português, implantado lá para defender os interesses portugueses contra os três movimentos de libertação que operavam como guerrilheiros em recantos isolados. O sistema rodoviário ainda consistia principalmente de trilhas de terra, esburacadas e empoeiradas na estação seca e intransitavelmente lamacentas durante as chuvas, exceto para Land Rovers com tração nas quatro rodas ou outros equipamentos pesados.
Um veículo adequado para transportar uma família era essencial para o meu plano, pois esperava encontrar especialistas africanos conhecedores das tradições orais da antiga organização política de Kasanje, muitos deles vivendo em aldeias localizadas o mais longe possível do sistema de postos administrativos e estradas rurais do governo colonial. A premissa de uma “África tradicional” remota e pura, intocada pela modernidade, era absurda, claro, em qualquer lugar do continente, e totalmente impossível em uma área organizada por quatrocentos anos em torno do contato prolongado com exércitos portugueses e comerciantes de escravos. Mas meu método proposto de usar documentos portugueses para confirmar a historicidade das tradições orais africanas pressupunha a independência dos dois tipos de fonte. Eu estava em Angola para descobrir uma “África tradicional” ilusória, que a lógica do meu projeto contradizia completamente.
Essa incongruência não reconhecida acabou por ser a menor das contradições de viver durante seis meses no mato angolano, além de subestimar drasticamente a resiliência e integridade do mundo africano que eu estava prestes a entrar, apesar dos séculos de escravização e repressão militar dos Imbangala numa série de expedições militares do final do século XIX enviadas para a área e com a derrota nominal da sua organização política antes de 1910.
De alguma forma - esqueci-me dos passos exatos - acabei no gabinete de um homem envolvido em trabalhos de “consultoria” não especificados em Luanda, talvez para a BP [British Petroleum], a empresa britânica de produção de petróleo que desenvolvia a perfuração em alto mar em Cabinda. Luanda já mostrava sinais de ser uma cidade de boom do petróleo. Quando perguntei sobre como encontrar um veículo, ele, aparentemente muito generosamente, me ofereceu o seu próprio. Eu protestei. Ele insistiu, e então acabamos com um pequeno e leve Opel britânico - não projetado para explorações no interior, mas pelo menos um começo.
Autoridades em Luanda, também com uma cooperação inesperada, deram-me uma carta formal de apresentação ao governador do distrito de Malanje, onde eu pretendia trabalhar. E lá fomos nós, com nossos filhos pequenos e nosso pequeno veículo carregado com equipamento suficiente para uma família por um ano.
O governador do distrito de Malanje, claramente sob as instruções de autoridades superiores, recebeu-me com elaboradas formalidades vitorianas do tipo que prevalecia no Portugal de Salazar, aparentemente congelado no tempo desde antes do Estado Novo. O conselho nacional de turismo havia promovido o país em jornais internacionais, chamando os americanos para “Venha ver Portugal, a Europa antes de mudar”. Em Lisboa, sente-se como um passo atrás no tempo, eléctricos, e tudo mais. O mundo rural luso-angolano impressionou-me como se estivesse congelado noutro tempo, uma fronteira violenta, tal como o “velho oeste” norte-americano do século XIX.
O governador de distrito favoreceu minha pesquisa, baseada em um pequeno posto administrativo chamado Quela, empoleirado no topo de uma imensa falésia que descia 500 metros até o vale de baixa altitude, a chamada Baixa de Kasanje e até o rio Kwango, o maior rio mais a oeste do rio Congo. Kasanje tinha derivado sua posição de liderança no tráfico de escravos do controle das travessias do Kwango que levavam ao maior sistema político escravizador do século XVIII no centro-oeste da África, o chamado “império Lunda”.
Quela era também o local da instalação de processamento da empresa de algodão monopolista (Companhia Geral dos Algodões de Angola, COTONANG), cujas práticas cruéis de forçar os cultivadores africanos a plantar algodão levaram à revolta de 1960 no vale e à subsequente brutal repressão militar. A povoação também abrigava o acampamento de uma companhia do exército português. Foi o centro nervoso da ocupação colonial portuguesa na região e da Igreja Católica Angolana. Era um bairro de algumas dezenas de europeus cercados por favelas (em Angola, chamados musseques), lares de alguns milhares de africanos.
O oficial administrativo encarregado do governo civil foi instruído a preparar-se para minha chegada. Ao chegarmos ao local no final da tarde, suados e cobertos de pó vermelho, a visão que me recebeu foi uma reunião de todos os sobas (chefes de aldeias) nomeados pelo governo na região, em trajes formais de autoridade, sentados nos degraus do prédio administrativo do governo esperando por mim, prontos para falar, secundados por um mensageiro (e capanga) africano do governo (cipaio) para interpretar o que eles tinham a dizer.
Eu estava totalmente despreparado para este encontro avassalador, mas aproveitei o melhor da ocasião - o que não foi muito. A fita cassete compacta foi inventada em 1964, e o professor Curtin estava atento às possibilidades dessa nova e aparentemente maravilhosa tecnologia para fazer registros armazenáveis das performances de tradições orais na África, para os historiadores posteriores consultarem. Nós deveríamos criar arquivos orais das tradições da África antes - como todo mundo pensava - dos portadores nas aldeias morrerem, sem deixar sucessores entre as gerações recém-libertadas que já avançavam em direção ao futuro moderno nas cidades. Eu estava preparado: máquina Sony, dezenas de novas fitas cassete entre os meus equipamentos, e pilhas diminuintes.
Os sobas, como todo mundo ao longo do meu caminho, recebiam ordens para me contar o que quer que eu quisesse ouvir. Fiquei inquieto ao me ver tratado como se fosse mais um de uma série interminável de “etnógrafos” governamentais ou outras comissões de inquérito, um espião colonial, reunindo informações que poderiam ajudar os portugueses a manter o controle em uma das últimas colônias remanescentes em uma África majoritariamente independente. Então os sobas e eu fizemos o melhor possível para fazer algo que valesse a pena em uma situação artificial e profundamente embaraçosa. Eu sabia o suficiente sobre performances orais para perceber que elas eram profundamente contextuais, produtos de seus momentos, das pessoas presentes, dos propósitos de suas narrativas. Os chefes presentes eram todos das terras altas ao redor de Quela, nenhum do grande vale de Kasanje. E eu ainda não estava acostumado a operar meu gravador, que tinha uma tendência irritante de descarregar a bateria em momentos cruciais.
Neste contexto oficial sufocantemente, certamente com os “observadores” da PIDE em algum lugar em meio dessa multidão de uns cinquenta homens, o que eles estavam preparados para realizar eram os “nomes de louvor” ligados aos cargos tradicionais que ocupavam e que os autorizavam a estar presentes nesta ocasião. Eu expliquei algo sobre esses “nomes de louvor” no livro que se originou a partir desta pesquisa de dissertação (há uma bela tradução de Maria da Conceição Neto com o título Poder Politico e Parentesco6 6 MILLER, Joseph C., Poder Politico e Parentesco: os antigos estados Mbundu em Angola. (Trad. Maria da Conceição Neto). Luanda: Arquivo História Nacional, 1995. ), então aqui eu mencionarei apenas a luta pragamática de tentar capturar o que pudesse na fita. Essas fórmulas verbais eram compilações de versos compostos para comemorar todos os predecessores dos atuais ocupantes de seus títulos, memorizados palavra por palavra e, assim, preservando uma linguagem arcaica e alusões obscuras a questões e eventos que, de outra forma, seriam esquecidos, que remontam a séculos, pelo menos três, talvez cinco ou seis. E eles eram em grande parte ininteligíveis, incompreensíveis para os seus declamadores, que os executavam começando em tons altos em um ritmo determinado, mas depois falando mais rápido e abaixando suas vozes, à medida que se moviam para os trechos anteriores menos inteligíveis, e reduzindo-se a um murmúrio inaudível. Um após o outro ... até o sol estar se pondo e minhas baterias exaustas. Nós concordamos em voltar na manhã seguinte às 9:00.
Enquanto isso, minha esposa estava tentando descarregar nossos pertences do carro, cuidar de uma criança de três anos e outra de cinco anos e mudar para as acomodações que eles haviam preparado para nós. Era o alojamento de uma doméstica ou criada (certamente africana) em uma casa de blocos de cimento vazia, uma das estruturas que o governo mantinha para os funcionários colocados no posto. Para completar esta imagem: quatro pessoas em um quarto individual, talvez com quatro metros quadrados, com um pequeno queimador de querosene para cozinhar, um banheiro e uma cama de solteiro. Nós éramos campistas experientes e nos preparamos para “sofrer” como parte da experiência completa de “África”. Mas essas circunstâncias pareciam um pouco rudimentares.
Na manhã seguinte, voltei a reunir-me no escritório com a oficialidade africana da região, no prédio da administração. Tenho certeza de que eles fizeram o melhor possível. Eu sei que eu fiz. Mas, na pausa para o café, ficou claro que seria inútil tentar continuar. Eles seguiram seus caminhos e eu fui deixado para descobrir como começar de novo.
Nesse ponto, era evidente que a hospitalidade do governo era para apressar minha passagem - talvez uma noite na localidade. Suspeito que estivessem aplicando um modelo familiar de tolerância a “especialistas visitantes” cujas investigações eram superficiais, na melhor das hipóteses, e que passavam mais tempo bebendo com autoridades locais do que consultando os sujeitos de suas pesquisas. Para os funcionários públicos do governo e, sem dúvida, também para a PIDE, a idéia de que os africanos tinham algo parecido com uma história era literalmente incompreensível. Eles eram extremamente educados em tolerar minhas “fantasias” sobre a recuperação de uma história do reino, mas totalmente perplexos; não podiam até imaginar o que eu poderia estar fazendo. Para eles, a “história” em Angola começou com a chegada de Diogo Cão à foz do rio Congo em 1482 e contou a história da subsequente “missão civilizadora” do seu país.
À medida que os meus hospedeiros perceberam que eu pretendia ficar indefinidamente, eles enfrentaram um problema: eu era tão ingênuo, e eles suspeitavam tão terrivelmente dos africanos entre os quais viviam, e que pouco entendiam, que se preocupavam que eu pudesse me meter em problemas que lhes causariam constrangimentos. Ao me permitir entrar no mato angolano, pensavam em demonstrar a falsidade de sua reputação escandalosa como governantes coloniais. Observadores anglófonos, desde Livingston, pareciam atrair as atenções da mídia internacional, e eu, tratado com a generosidade adequada, poderia retornar ao mundo real e corrigir as más impressões predominantes sobre a insurreição de 1960-61 na Baixa de Cassange. Eles não tinham nada a perder e fingiam que não tinham nada a esconder. E eu deveria me sentir mais do que bem-vindo. O que quer dizer que eles não poderiam me expulsar sem contradizer a razão básica pela qual me permitiram vir e já tinham gastado muito para fazer com que eu me sentisse bem acolhido.
Enquanto se preparavam para aguardar, até eu pensar melhor minhas fantasias, fomos levados para a parte principal da casa onde eles nos acomodaram pela primeira vez, se é que se pode dizer isso, no quarto do criado. A sala de jantar da casa principal foi onde eu pedi ao cipaio do governo, meu intérprete oficial (e espião, sem dúvida), para vir e tentar transcrever os nomes de louvor que eu havia gravado naquela primeira sessão caótica. Ele deve ter ficado muito desconfortável ao ser convidado para um espaço familiar totalmente fora dos limites para os africanos em lares portugueses.
Ele era um falante nativo do dialeto Quela, que não é o dialeto do vale, e certamente não estava familiarizado com a linguagem arcaica usada nos nomes dos louvores. Seu português poderia ser melhor descrito como “burocrático de comando” e totalmente alheio às alusões poéticas e às sutilezas políticas dos nomes dos elogios, isto sem falar do vocabulário arcaico e a articulação calculadamente obscura de seus componentes mais sensíveis. Esses nomes poderosos foram projetados para serem ouvidos e compreendidos apenas por aqueles qualificados, treinados e confiáveis para ouvi-los. Palavras eram poderosas. E esse pobre homem era um lacaio do governo que bombardeara e metralhara as aldeias, mulheres e crianças, dos rebeldes de 1960-61. Não foi uma colaboração promissora.
O método prescrito para criar um arquivo oral das tradições era, primeiro, transcrever as palavras gravadas, da fita para o papel. Mas não existia nenhum dicionário dessas línguas, e não havia ortografia para escrevê-las. Eu não era linguista treinado, nem mesmo para ouvir sua fonologia, e muito menos tentar criar os símbolos fonéticos para representar suas características fonéticas, mesmo em um formato bruto sem sentido baseado na fonética inglesa, ou ortografias portuguesas, ou nas convenções do estilo sânscrito “Alfabeto Africano Internacional” adotado durante o entre-guerras pela onda de etnógrafos coloniais que chegou ao continente com o objetivo de escrever descrições padronizadas adequadas para comparações sistemáticas de todas as que eram então vistas, vagamente, como “tribos”. Esse foi um exercício nascido das idéias da era colonial sobre as “sociedades” africanas, que agora vemos como projeções bem intencionadas de idéias européias modernas de ordem social. No entanto, essa “levantamento etnográfico” serviu para resgatar os africanos do suposto caos atribuído a eles no auge da arrogância racial européia.
Escusado será dizer que não consegui convencer o meu intérprete a articular o que tinha sido falado no meu gravador em sons que eu poderia tentar transcrever, incapaz até de discernir as unidades semânticas elementares (palavras distintas) na sintaxe da linguagem Bantu que funciona estendendo radicais com camadas incorporadas de sufixos e prefixos. Ele me tolerou, como ele certamente estava sob ordens estritas para fazer. Mas agradeci-lhe por seus serviços e ele desapareceu, provavelmente transferido para outro posto do governo, pois nunca mais o vi. Ou ele tinha sido trazido para Quela de um posto em outro lugar, a fim de me vigiar, mas relatou a futilidade de sua missão.
Mas então, inexplicavelmente e inesperadamente, minhas perspectivas se iluminaram. A missão católica na região, a Missão dos Bângalas, a Ordem do Espírito Santo, situava-se na Baixa, no coração de um dos principais componentes do sistema político de Kasanje. O sacerdote católico em Quela, muito silenciosamente aberto ao meu projeto, insinuou que seus colegas da missão - irmãos leigos, todos bascos e, portanto, completamente fora das esferas da ilusão em que os portugueses pareciam estar vivendo - conheciam um indivíduo que parecia bem informado sobre as tradições orais da região. Um dos irmãos era um etnógrafo amador autodidata e estava aprendendo a língua local e coletando os provérbios que eram um modo discursivo importante. Esses homens dedicados eram o meu tipo de pessoas, infinitamente generosos e hospitaleiros, e educavam cerca de 120 garotos na escola residencial da missão.
Por causa das preocupações oficiais portuguesas sobre mim, eu precisava manter-me completamente visível para as autoridades. Eu disse a eles tudo o que pretendia fazer antes de fazê-lo. Eu até ofereci a eles a oportunidade de ver as cópias das notas de pesquisa que eu estava enviando de volta para os Estados Unidos, para provar que eu estava realmente falando sobre história, em vez de, digamos, política. Mas, como estavam se apresentando como anfitriões abertos e confiantes, não podiam admitir que suspeitavam de mim, e por isso sempre recusavam meus convites para observar - pelo menos na minha cara. Eu nunca saberei quem pode ter aberto esses pacotes de anotações enquanto eram encaminhados para os EUA, embora cada um deles (várias dúzias) chegasse intacto. Mas se eu deixasse Quela para passar algum tempo na missão, com outros estrangeiros, estaria me metendo em confusão?
Por todas estas razões, estava fora de questão pensar em viver numa aldeia com as pessoas as quais eu havia vindo para Angola para entender. Eu não conseguira sequer contratar alguém para me ensinar a língua, já que a PIDE suspeitaria de um estrangeiro falando com africanos em suas próprias línguas, que poucos portugueses em Angola podiam entender. Sem o conhecimento da linguagem das tradições, o primeiro passo elementar que qualquer pesquisador sério faria, eu estava significativamente limitado antes mesmo de começar. Com o tempo, elaborei um “idioleto” com um só propósito especifíco, isto é, uma combinação particular ad hoc de vocabulário Kimbundu básico e da gramática portuguesa para falar sobre o conteúdo das tradições. Havia uma certa vantagem no conteúdo das tradições, que eram principalmente listas genealógicas de nomes, que, como tal, não exigiam tradução.
Minha família e eu decidimos visitar a missão, fizemos as malas e dirigimos, muito lentamente, ao longo de uma trilha de terra estreita, sinuosa, profundamente sulcada, pelos penhascos íngremes e pelo vale. A Missão dos Bângalas tornou-se nossa “casa longe de casa”, em parte porque os irmãos de lá eram tão hospitaleiros, mas principalmente porque o sábio cavalheiro que morava naquela área revelerou-se a personificação viva do reino que eu vinha estudar. Literalmente: ele personificava o sistema político, a política africana como funcionava, ou - melhor - vivia e respirava. Ele foi treinado como o “historiador da corte” do regime, um ofício que os Imbangala haviam preservado, fora da vista dos portugueses, seis décadas depois de terem removido oficialmente seu último “rei”. Ele era um “arquivo” ambulante e falante. Para meus propósitos, ele era o “filão”. Para seus propósitos, que não eram menos importantes, tenho certeza de que ao ver meu gravador e, em seguida, caneta e bloco de anotações, me considerou sua única oportunidade de preservar detalhes que ele havia sido treinado desde a infância para saber, ou melhor, ser, e ser capaz de lembrar quando necessário, pois ele não tinha sucessor algum para continuar.
Mas a antiguidade de algumas das informações em termos cronológicos que me intrigavam não era o que ele valorizava. Certamente, algumas delas datavam do século XVII, e eu estimei que os elementos mais antigos se referiam a pessoas e processos dos anos 1400. Pensamos sobre aquela época como se há muito tempo desaparecida, como algo que não está mais presente. Mas para ele e para a maioria dos angolanos africanos das zonas rurais, o passado continua a viver no presente. Os vivos encarnavam seus ancestrais. O que eu pensava como sendo história, para ele constituía a própria vida. Os “reinos” que os portugueses pensaram ter derrotado e dispersado em 1900 continuaram, com novas pessoas ocupando os lugares de seus predecessores derrotados e banidos. “O Reino de Cassange” estava vivo e bem em 1969, e meu sábio guia me levou para as aldeias onde morava o seu pessoal atual, todas as vezes que ele podia me levar, enquanto sustentava a si e de sua família como agricultor. Eu me lisonjeio com a ideia de que estabelecemos uma relação de respeito profissional adequado, com ele como meu mentor. Eu fui extremamente afortunado por ele parecer me aceitar como seu aluno. Era ele o verdadeiro herói da minha pesquisa.
Nós estabelecemos uma rotina em que ele marcava encontros para mim com os titulares das posições políticas herdadas do passado, sempre um distinto cavalheiro maduro, às vezes extremamente avançado em idade. Dirigíamos então, muitas vezes por muitos quilômetros ao longo de trilhas de terra, até a aldeia do oficial designado, que nos cumprimentava com todas as formalidades devidas à sua posição e à minha como - suponho - um aprendiz de “historiador da corte” alfabetizado e com tecnologias eletrônicas. Nessas ocasiões oficiais, não muito diferente de conferências diplomáticas formais no mundo dos estados-nação, o oficial personificava - de modo muito mais substancial do que uma mera “representação” de alguma coisa abstrata imaginada e separada - os feitos acumulados de seus ancestrais. Ele aparecia com os emblemas em sua presença plena, ou do passado acumulado, e falava na primeira pessoa do presente sobre os atos de muitas gerações anteriores, sempre na presença de muitas pessoas do seu grupo de parentesco. Falava em nome do grupo, e, portanto, estava sujeito à aprovação do que dizia por parte deles. Suas palavras falavam por todos; eles eram suas palavras, como guardião das gerações reunidas. Ninguém mais poderia dar-lhes a realidade que eles constituíam.
E quem ousasse intrometer-se tornava-se um perigo para todos. As palavras eram a propriedade do grupo que personificava. Cometi um grande erro quando estava apenas começando, pressionando alguém para falar sobre um assunto que violava a santidade de outro orador investido. Mais tarde soube que essa violação levara a uma briga no bar local naquela noite. A partir de então, tive o cuidado de tentar sentir a orientação sutil do meu colaborador, o “historiador da corte”.
Ele próprio era uma espécie de depositário das realidades que só os guardiões eram capazes de manifestar - a denominação “autorizado” não capturaria a substância ontológica do falar com aquela capacidade oficial. De fato, não muitos dos senhores idosos permaneciam capazes de falar essas verdades em 1969; em seus anos avançados, poucos ainda conheciam as tradições pelas quais eram responsáveis por incorporar. A realidade histórica do reino estava desaparecendo diante de nossos olhos, necessitando muito do resgate, tão parcial como for, que eu poderia fazer. O “historiador da corte” conhecia todas as tradições respeitadas, mas nunca pretendia falar pelos outros. Em vez disso, ele gentilmente “encorajava” ou “sugeria” ou, de outra forma, induzia os guardiões legítimos a transmitir o que ele queria que eu anotasse. Essas performances dignas e discretas de propriedade e respeito eram comoventes para contemplar. Acho que eu estava presente em ocasiões oficiais que - exceto pela minha presença silenciosa - ecoavam uma etiqueta refinada e continuada ao longo dos séculos.
Desta forma profissional, tive o privilégio, a honra, de passar alguns poucos dias muito produtivos em aldeias distantes da rede portuguesa de estradas militares. Só posso imaginar por que a PIDE onipresente e nunca visível permitiu que essas consultas continuassem, a menos que os funcionários estivessem preocupados com assuntos mais próximos das estradas pavimentadas. Essas configurações remotas e altamente pessoais eram muito íntimas para um informante permanecer indetectável. Os informantes só podem sobreviver em contextos de anonimato, entre estranhos ou entre pessoas envolvidas em contextos bastante limitados e superficiais.
Para voltar à pergunta sobre fazer pesquisa em um estado policial totalitário, a PIDE ainda estava me vigiando. Duas semanas depois de termos nos instalado em nossa casa em Quela, um jovem muito simpático mudou-se para a casa que estava vazia ao lado da nossa. Ele havia servido no exército Português que lutava para manter o controle da colônia da Guiné-Bissau na África Ocidental. Ele disse que tinha vindo para a Quela como funcionário da COTONANG, a empresa de algodão, com a fábrica de processamento na cidade. Mas nunca o vimos nas proximidades das instalações. Parecia estar sempre descansando em torno de sua casa e disponível para nos aconselhar sobre assuntos de rotina ou como consertar o fogão a querosene em que minha criativa esposa cozinhava refeições para quatro pessoas, ou como preparar para o jantar um frango vivo recebido como um presente. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui.
E então, havia a questão dos nossos vistos de trinta dias. Para renová-los, todos os meses nós dirigiríamos 100 km, felizmente a maior parte em estradas pavimentadas, para o posto da PIDE na cidade de Malange, a entregar nossos passaportes para processamento em Luanda e esperávamos que retornassem na semana seguinte com novos vistos estampados neles. Precisávamos fazer essas viagens à cidade para comprar suprimentos e desfrutar de uma ou duas refeições num restaurante. Depois de três ou quatro dessas visitas à equipe da PIDE, as formalidades pareciam rotineiras.
Até uma vez quando fomos pegar nossos passaportes e eles não voltaram de Luanda. Nos foi assegurado de que o atraso deveria ser normal e que deveríamos esperar que os entregassem na semana seguinte. Só que, quando voltamos uma semana depois, ainda não tinham aparecido. Inexplicável, mas nada para se preocupar. Então, nós não nos preocupamos.
Até que, numa tarde de sábado em Quela, eu estava andando pela rua principal de areia quando vi um dos policiais da PIDE de Malange andando na minha direção. Portugal, em 1969, funcionava na lendária “semana inglesa”, isto é, nada de oficial acontecia após as 13 horas de sábado. Assim, a inesperada presença de um oficial da PIDE de Malange em Quela no meio daquela tarde era claramente fora do normal. Quando ele me viu, ele fingiu surpresa e disse: “Senhor Miller! O que está fazendo aqui?” Então, eu respondi: “Senhor Adjutante, você sabe que estou pesquisando a história da Baixa. E meu trabalho está indo muito bem, obrigado.” “Que estranho”, ele disse, “achei que você tivesse partido”. “Não”, respondi: “Estou planejando ficar o tempo que puder, provavelmente até as chuvas começarem.” “Que estranho”, repetiu ele e continuou andando pela rua.
Depois disso, quando fui tentar contatar autoridades africanas através dos chefes de posto do governo [colonial], os chefes do posto simulavam que disponibilizariam os contatos pretendidos. Mas depois de dirigir 100 kms ou mais para encontrar essas autoridades africanas, elas estavam “momentaneamente longe” e sempre deveriam “retornar muito em breve, talvez naquela mesma noite”. Então eu esperava, e horas se transformavam em dias e ninguém aparecia, mesmo que eles sempre fossem esperados para “muito em breve”. Eu me vi perdendo dias a fio esperando por pessoas que nunca vieram. Felizmente, consegui trabalhar de forma produtiva em minhas anotações. Mas os atrasos estavam se tornando suspeitos. Eu só posso imaginar como aqueles chefes, cujas famílias sempre me recebiam com toda a hospitalidade durante todo o tempo, estavam rindo nas minhas costas.
O ritmo do jogo acelerou quando eles começaram a tentar me incriminar. A Baixa foi uma das regiões diamantíferas em Angola, controlada por uma empresa privada internacional sediada na Bélgica (DIAMANG, Companhia de Diamantes de Angola) e independente ao ponto de operar a sua própria polícia e de funcionar num fuso horário de meia hora à frente do horário [oficial] Português no resto da colônia. Caminhando na areia, alguém poderia ocasionalmente notar o brilho de pequenos diamantes na terra quando a sua superfície era remexida, mas era ilegal inclinar-se para tocá-los. O monopsônio da empresa era total.
Num belo dia, pedras preciosas estavam longe da minha mente quando, durante a hora do almoço, mais uma vez num horário não oficial, alguém bateu na porta da nossa casa. Abri-a, para encontrar um homem africano usando um paletó, apesar do sol quente. Quando perguntei o que poderia fazer para ajudá-lo, ele olhou furtivamente de um lado para o outro e perguntou se eu queria comprar algum “feijão”. Não esperando receber oferta de comida na minha porta da frente, fiquei confuso e, não confiando em minha compreensão do sotaque dele, pedi que ele repetisse. “Feijão!”, ele respondeu, com ênfase. Ainda sem entender, pedi a ele que repetisse novamente. Desta vez, ele colocou a mão na lapela do casaco e revelou o topo de uma garrafa de cerveja marrom: “Senhor… FEIJÃO!”
Nesse ponto, finalmente entendi. Um dos negócios secundários de alguns africanos na região, sempre conduzido sob a cobertura de eufemismos e ilusões, era encher velhas garrafas de cerveja com vidro quebrado e tentar passá-las a turistas desavisados como diamantes. Fiquei tão surpreso ao reconhecer o golpe que exclamei, em voz alta, em plena luz do dia, em uma rua pública: “Oh! O senhor quer dizer diamantes!!” O homem desapareceu, correndo pela rua a toda velocidade, antes que eu pudesse declarar meu total desinteresse pela armadilha que ele estava tentando preparar. Em uma terra de ilusões, era importante manter os olhos bem abertos.
A próxima jogada envolveu os militares. Os soldados de folga na companhia lotada em Quela muitas vezes saíam de seu complexo murado para passear pela cidade, e por isso não fiquei muito surpreso, certa noite, quando três ou quatro deles apareceram em minha casa para me convidar para acompanhá-los em uma expedição de caça noturna que eles estavam planejando. Grandes animais para caça, na maior parte das vezes antílopes, alguns deles tão grandes quanto pôneis, ainda eram abundantes em Angola em 1969, e eles eram nominalmente protegidos por “regulamentos de caça” que proibiam caçá-los durante a noite com faróis acesos. Todos, incluindo funcionários do governo, caçavam à noite com faróis, independentemente da lei. O ambiente “velho oeste” era palpável nesse desrespeito casual por armas de fogo e leis de caça. Armas estavam por toda parte.
Eu havia observado, ou melhor, acompanhado meus amigos civis em mais de uma dessas expedições da meia-noite da estação seca. Eles abasteciam seu Land Rover e depois atravessavam o mato aberto, projetando os faróis no horizonte. Quando um antílope ouvia o barulho, olhava para cima e seus olhos captavam a luz, localizando-o assim para os caçadores. Cego pela luz, o animal costumava congelar, permitindo que os caçadores se aproximassem do alcance de um atirador médio com um rifle de grande calibre e alta potência. Algumas dessas expedições voltaram ao amanhecer, com as áreas de carga de seus Land Rover empilhadas de carcaças. Mas tive o cuidado de nunca tocar em uma arma, muito menos disparar um tiro ilegal.
Quando os soldados me convidaram, achei que seria interessante ver como as armas de nível militar se comportavam nessas circunstâncias e, assim, assegurei-lhes que estaria interessado em ir “para o passeio”. Nós definimos a data para duas noites depois. Na noite seguinte, os soldados voltaram para me assegurar que o plano estava em andamento e que haviam conseguido uma arma para mim. Não querendo incomodá-los, ou expo-los ao uso indevido de equipamentos do exército, especialmente uma arma letal, eu expliquei: “Ah, não, isso não é necessário. Eu não caço, mas estou interessado em observar suas táticas e pontaria.” Eles não disseram nada e retornaram ao seu posto.
Até a manhã seguinte, quando um único soldado apareceu na minha porta, cheio de desculpas. O capitão, ao que parece, teria ordenado que saíssem em uma missão oficial na noite em que havíamos planejado nossa caçada: “que pena!”. A essa altura, eu estava exercendo cada vez mais cautela ao avaliar todos os convites hospitaleiros que me eram feitos, e suspeitei que havia me “esquivado de outra bala”, por assim dizer, ao recusar-me a disparar uma arma na companhia dos defensores da colônia.
Então o administrador chefe do distrito, em uma posição de autoridade e às vezes autoritária na administração civil, aquele que reuniu todos os chefes governamentais, os chamados sobas, para me receber quando eu cheguei, me viu na rua certa noite, novamente “depois do expediente”, um encontro casual, completamente amigável, nada oficial. “Olá, senhor Miller”, ele me cumprimentou, e imediatamente comentou: “Eu entendo que vocês não têm vistos para estar aqui conosco”. Eu reconheci que não. Ele continuou: “Você sabe o que fazemos com estrangeiros em nosso país sem permissão?” e riu. Antes que eu pudesse especular, ele seguiu sua piada particular com um convite para se juntar a ele em sua casa para um copo de uísque. E assim dissolvemos o incidente em uma névoa alcoólica de negação.
Mas eu estava entendendo a dica de que era hora de sairmos, com certeza voluntariamente. Como éramos oficialmente bem-vindos para permanecer o tempo que quiséssemos, eles não poderiam nos expulsar ou até mesmo nos aconselhar a seguir em frente. Então precisávamos de um motivo para ir. Na verdade, eu já havia me preparado para partida, pois estava claro que nosso carro não era capaz de se mover nas trilhas de terra em que eu andava quando as chuvas começassem. Angola tem uma estação chuvosa de seis meses no verão do hemisfério sul, de novembro a abril, e eu estava lá na estação seca, absolutamente sem chuva, durante a outra metade do ano - daí as estradas empoeiradas que notei. Nesse ponto, começamos a “rezar pela chuva”, como diz a expressão inglesa.
Mas naquele ano as chuvas atrasaram. E então os meus anfitriões me deram mais razões para seguir em frente. Meus amigos missionários me avisaram que foram questionados sobre mim e eu não poderia arriscar colocá-los em perigo. A situação estava tornando-se urgente.
Assim, o administrador assistente me convidou para almoçar em um sábado à tarde - mais uma vez, depois de “horário comercial”, o tipo de ocasião que tivemos várias vezes com amigos e que se transformavam em coisas que duravam até tarde da noite, e num exemplo delicioso, transformou-se em uma viagem de cinco dias para o sertão. Quaisquer que fossem as suspeitas oficiais, a hospitalidade pessoal de que desfrutamos foi generosa a ponto de ser esmagadora. E nesse espírito eu aceitei o convite dele. Também porque, na teia de vigilância suave que me cercava, ele era o “bom policial”, o rosto amistoso e prestativo da administração civil, para compensar a postura de “policial malvado” de seu superior bastante severo.
O almoço era um assunto de família relaxado e descontraído, com a esposa e os filhos pequenos, e os acompanhamentos alcoólicos de costume. Quando terminamos, ele convidou-me para o salão da família, em Portugal, um espaço privado reservado a parentes e amigos de confiança. Acrescentou ao ar de confiança copos de uísque escocês importado, não o produto angolano normalmente disponível, nem o “Johnny Walker” falsificado, destilado localmente. Com outros acentos de intimidade, a conversa se transformou em experiências pessoais de nossas respectivas carreiras, para mim, uma possível espiada por trás da postura ambivalente. E quando o sol estava se pondo, ele casualmente perguntou “O que você está fazendo aqui, realmente?”
Foi um momento que revelou a profundidade da ilusão de viver na Angola colonial tardia, na longa sombra da ameaça de uma revolta popular como a da Baixa em 1960, ou de seus desdobramentos mais tarde no norte de Angola, que resultou no assassinato de um número considerável de portugueses morando e trabalhando na região, muitos deles colegas dos sobreviventes entre os quais eu estava em Quela. A guerra da libertação também pairava constantemente. A PIDE poderia estar em qualquer lugar e parecia estar em toda parte. E eles não podiam reconhecer que eu estava fazendo exatamente o que aparentava fazer: conversando com velhos africanos sobre sua história. Depois de seis meses, já que eles não conseguiam entender o que eu estava fazendo, as suspeitas deles só aumentaram.
Finalmente, as chuvas começaram a cair, e nos apressamos a fazer as malas para voltar a Luanda, onde eu esperava começar a pesquisar no Arquivo Histórico de Angola, em uma volumosa coleção de registros do governo que remonta a década de 1740, lendo-os à luz do que eu aprendi sobre as tradições orais. Quando anunciamos nossa partida iminente, fomos recebidos com um coro de lamentos de que estávamos partindo muito cedo. Todos queriam que pudéssemos ficar mais tempo. Mas, felizmente, as chuvas continuaram a cair, justificando nossa partida “relutante”. Além disso, nossos vistos ainda não tinham chegado ao posto da PIDE em Malange, e um dos oficiais ali havia sugerido, gentilmente, que uma vez que o pessoal local não tinha tido sorte em penetrar a burocracia em Luanda, poderia fazer sentido para nós irmos até lá e perguntar pessoalmente sobre a documentação.
Mesmo com o nosso carro cheio com os nossos pertences e indo para o oeste, eles não quiseram se arriscar. Uma cachoeira espetacular, Quedas de Duque de Bragança (agora Kalandula), ficava a alguma distância da estrada de asfalto e pensamos que poderiamos tirar proveito de nossa evacuação mais ou menos forçada e desviarmos para visitar o lugar. O governo colonial angolano estava promovendo o turismo, apesar da guerra de libertação, e construiu uma grande pousada, centro de convenções, restaurante, hotel, salas de reunião, em uma localização espetacular bem à beira das cataratas. Nós prevíamos um bom almoço com uma visão dramática, e, assim, nós partimos em direção a outra estrada de terra empoeirada, esburacada, para relaxar, observar a vista, e desfrutar a hospitalidade. Nós achávamos que tínhamos merecido uma folga.
Até que o nosso carro perigosamente sobrecarregado, desgastado pelo desgaste de percorrer todas as trilhas pelo mato na Baixa de Cassange, teve um pneu furado. Consegui descarregar o suficiente de nossa bagagem para encontrar o pneu sobressalente e montá-lo no carro, recarregar nossos pertences e seguir em frente, ainda a tempo para o almoço. Quando chegamos à pousada, o vasto estacionamento estava vazio, exceto por um único veículo. Estávamos com medo de que a instalação estivesse fechada, mas tínhamos ido tão longe que pensamos em sair e ver se as portas estavam trancadas. Na verdade, elas estavam abertas, e fomos recebidos por uma equipe completa de gerente e garçons, prontos para nós. A sala de jantar era enorme, mais de cem mesas. Apenas uma delas estava ocupada por um casal, evidentemente os donos do único carro que vimos no estacionamento. O pessoal deveria estar ansioso para receber outro grupo de clientes.
Fomos levados para a mesa ao lado da que estava ocupada, onde o casal nos recebeu com entusiasmo e nos convidou a acompanhá-los como convidados deles. O homem era o oficial comandante da companhia militar estacionada em Quela, um capitão, a quem eu havia encontrado várias vezes nos meses anteriores. “Que surpresa! Que coincidência de nos encontrarmos nesta pousada bastante remota juntos!” Naquele momento da encenação, eu não estava nada surpreso. Mas o capitão e a sua esposa eram pessoas divertidas, e nós gostamos de passar a tarde inteira juntos, explorando a cachoeira. E, sinceramente, lamentamos ter que terminar uma ocasião agradável quando o sol começou a descer em direção ao horizonte ocidental.
Dirigindo de volta a Malange, com o sol se pondo, pagamos novamente por ter sobrecarregado o carro, quando um segundo pneu estourou. Desta vez, eu não tinha estepe para substituí-lo. Estávamos abandonados em uma estrada de terra deserta à beira de uma aldeia africana, com dois filhos, enquanto a escuridão descia e não havia ajuda à vista. Até que uma nuvem de poeira apareceu no horizonte e logo se materializou como o automóvel que vimos no estacionamento da pousada, dirigido por nosso amável anfitrião e novo amigo, o capitão. Eles pararam, é claro, e o oficial assumiu o comando da situação. (Eu não poderia imaginar um romance que se desenvolvesse tão previsivelmente quanto os eventos que se desenrolaram).
Era sábado à noite, e as perspectivas de encontrar um mecânico disposto a consertar os pneus eram muito pequenas. Mas nosso comandante assumiu o comando. Ele carregou os pneus e minha esposa e filhos em seu carro e os levou para a cidade de Malange para um hotel. Eu fiquei com meu veículo e todos os nossos pertences. Ele de alguma forma localizou um mecânico para consertar os pneus e o levou de volta para o mato onde eu estava esperando, àquela altura, muito depois do anoitecer. Ele mobilizou os homens da aldeia para levantar o carro com as mãos e substituiu a roda pelo pneu reparado. E nós então dirigimos, muito lentamente, para a cidade, para um jantar tardio e muito agradável juntos.
O lado positivo das preocupações oficiais sobre mim não poderia ter sido mais claro. Eles estavam me acompanhando para cuidar de todos nós. Os perigos de dirigir um carro sobrecarregado em estradas esburacadas deveriam ser óbvios para todos, menos para nós. Depois soubemos que o estranho jovem que havia se mudado para a casa ao lado da nossa logo depois de chegarmos foi “transferido” alguns dias depois que saímos. A autoridade no comando do exército português em Angola poderia ser destacada para proteger um investigador americano perigosamente ingênuo de si mesmo, bem como para proteger os portugueses de guerrilheiros furtivos que lutavam pela sua independência.
O restante da viagem até Luanda prosseguiu sem maiores distrações. Lá, minha prioridade era esclarecer o status de nossos vistos, como eu havia sido gentilmente avisado. Mas eu previ que recuperar nossos passaportes exigiria esforço e frustração consideráveis. O segredo de uma “polícia secreta” como a PIDE estende-se até a sua presença visível, ou melhor, a sua invisibilidade. A repartição aberta ao público da sua grande e proeminente sede em Luanda era uma sala com um balcão com uma alta barreira de vidro fosco que escondia o seu pessoal do público, pessoas como eu que precisavam deles para lidar com todo o tipo de documentos legais. Toda a comunicação era por um buraco redondo na altura do peito, talvez 10 cms. em diâmetro. Eu tinha de me inclinar para falar através do buraco e depois virar a cabeça para o lado para posicionar meu ouvido para ouvir uma resposta; era impossível ver alguma coisa. Embaixo no vidro, na superfície do balcão, havia outra abertura, larga o suficiente para que os papéis passassem por ela. A estranheza do arranjo era projetada para manter os requerentes, já cautelosos com a letargia burocrática, calculada ou não, confusos. Para mim, encarar essa barreira e me comunicar em português, uma língua na qual eu me sentia à vontade na conversa, mas não tanto em contextos formais, era ainda mais intimidante.
Então me aproximei de um dos buracos no vidro com uma cautela aumentada por meses de hospitalidade enganosa e generosidade calculada. Falei com cuidado através da abertura para me identificar e expor meu problema, “Boa tarde, sou Joseph Miller ...” Antes que eu pudesse terminar, a voz por trás do vidro fosco respondeu: “Sim, senhor, eram quatro passaportes americanos, não?” E os nossos documentos apareceram através da abertura embaixo no vidro, com os vistos carimbados neles. Não faço ideia a quem, por trás do vidro, eu posso ter agradecido, ou por que deveria ter apreciado a totalmente elaborada representação que culminou ali, na frente e atrás daquele cenário assustador. Eu poderia estar agradecido principalmente por ter vislumbrado pelo menos um pouco da realidade por trás das ilusões, pelo menos o suficiente para finalmente recuperar nossos passaportes.
Fomos bem-vindos a permanecer em Luanda durante o tempo que tínhamos planejado, outros seis meses de pesquisa produtiva no Arquivo Histórico, perturbados apenas no dia em que um missionário de algum lugar do interior resgatou uma cabra de uma píton de sete metros de comprimento, esmagando a cabeça da cobra com uma marreta. Pensando que a seção de história natural do museu poderia querer exibir a carcaça, ele havia colocado a cobra em seu Land Rover e trazido-a para os funcionários, descarregando esse imenso réptil na calçada do prédio pelo meio-dia para mostrar seu tamanho realmente impressionante.
Exceto que ele não conseguiu realmente matar a cobra. Fui ouvir sobre esses acontecimentos quando um dos assistentes do arquivo correu para a sala de leitura gritando “A cobra fugiu!”. Eu desisti de pesquisar pelo resto do dia e fui me juntar à equipe em busca daquela besta gigante, que - dado seu tamanho - não era muito difícil de encontrar. Mas então alguém teve de encurralar o animal, para se aproximar o suficiente para terminar o trabalho de matá-lo. Um imenso canhão do século XVIII e uma grande palmeira estavam disponíveis como âncoras para um cabo amarrado ao redor da cabeça e da cauda e a serpente naquele ponto estava fraca demais para quebrá-lo. Mesmo assim, à noite, o corpo ainda estava se contorcendo. O evento muito interessou às crianças.
Ficamos sabendo mais tarde o fim da história sobre os funcionários do Quela, que nos permitiram partir, quando o capitão que nos salvou de uma noite no mato em um carro quebrado apareceu em Luanda, de licença. Nos encontramos e, sem falar muito, ele me permitiu deduzir que uma caravana de munições da guerrilha do MPLA estava se movendo de sua base na Zâmbia em direção a uns poucos camaradas isolados em uma região a oeste da Baixa. Os militares estavam se preparando para tentar eliminá-los enquanto passavam. Eles não queriam testemunhas do que deveria acontecer, menos ainda de anglófonos. Eu não fui informado de qualquer coisa que os militares teriam de fazer.
E isso foi o mais próximo que sei que cheguei à mesma luta de libertação, embora o controle apertado que os combatentes pela libertação forçavam os portugueses a manter permeou nossos meses no mato. Minha pesquisa foi mais produtiva do que eu poderia ter planejado, graças à orientação do “historiador da corte” de Kasanje e seus colegas da organização política das sombras, que eles preservaram totalmente invisíveis para os portugueses, por mais de duas gerações. Aprendi o suficiente para finalmente reconhecer o assunto com o qual deveria ter começado, fazendo a última pergunta que fiz a um de meus historiadores-colaboradores: “Mas e quanto às bruxas?” Ele quase caiu no chão de concreto da sala onde estávamos conversando. “Como você soube delas?”, ele gaguejou. E terminou a conversa, quando eu finalmente atingi o nível que estava procurando, e era um assunto sensível demais até para se mencionar tão próximo aos ouvidos das autoridades civis, ou missionários, ou não iniciados Imbangala. A Angola colonial tardia era um emaranhado de enganos, de todos os lados - exceto o meu. E toda vez que eu tocava a verdade, alguém fugia.
Quanto às bruxas, eu tenho trabalhado nelas desde então, e elas, ou eles, estavam - e ainda estão - em todos os lugares.
***
3. Creio que você é mais conhecido no Brasil pelos seus trabalhos mais “históricos”, principalmente com as fontes do Império português, mas o seu primeiro livro, “Kings and Kinsmen” 7 7 Ver nota 1. , é baseado numa intensa pesquisa etnológica entre os Imbangala, onde você desenvolveu uma metodologia para reconstruir aspectos históricos a partir de fontes orais e seu cotejo com fontes escritas. Poderia falar um pouco sobre essa metodologia e a relação entre etnologia e história em sua investigação?
Dei alguns detalhes sobre as qualidades ontológicas das tradições orais, já que a minha tentativa de segui-las no trabalho “de campo”, provocou as atenções da PIDE. Mas posso elaborar aqui um pouco mais em relação ao que vocês chamam de “etnologia”.
Como você me lembra, minha missão em Angola foi confirmar a “historicidade” das tradições orais usando a documentação portuguesa que cobre as mesmas áreas geográficas nos mesmos quatro séculos. As “boas novas” vieram a ser que dois povos, africanos e portugueses, que viviam lá juntos, interagindo frequentemente de formas intensas, negociando, lutando, casando entre si, às vezes em termos de correspondência diplomática formal, registraram duas histórias inteiramente separadas, não relacionadas entre si. Africanos e portugueses viviam em mundos paralelos, no sentido matemático técnico de linhas que nunca se cruzam.
Esse paralelismo compatível, como poderia ser chamado, é - claro - familiar para os etnógrafos, que têm expressões irônicas para isso, em inglês, como um “mal-entendido operacional” ou como “diálogos de surdos”. Chamo isso de “regra universal 90/10”, pela qual - por exemplo - os estereótipos não podem ser refutados, porque são cerca de 10% válidos, mas o problema é que eles são considerados como 90% verdadeiros. “Mal-entendidos funcionais” “dão certo” porque cada parte é capaz de perceber cerca de 10% do mundo do outro e, em seguida, proceder inocentemente no pressuposto de que eles entenderam 90%. Para livros, os 10% são a capa ou apenas 10% de um iceberg se eleva sobre a superfície da água. Entende-se o que quero dizer sobre sua universalidade. O potencial para problemas é enorme, como os angolanos de todas as tendências lamentavam constantemente.
O mesmo se aplica às tradições orais como fontes históricas. No início, para um historiador treinado para trabalhar com documentos, elas se parecem com evidências escritas conhecidas do passado. Ou - pode ser melhor dizer que - em primeiro lugar, um historiador documental será capaz de notar apenas as semelhanças - os 10% da realidade. Esses historiadores inocentes não sabem o que eles não sabem sobre o resto. Eu precisei de meses de perplexidade para finalmente reconhecer que os africanos descrevem seus sistemas políticos - o “reino” que eu pretendia estudar - em termos de relações pessoais existenciais, que mantiveram o sistema político, e não em termos das abstrações que usamos - “reino”, “estado”, e “império”. Quando perguntei sobre “o reino de Cassange”, eles responderam com genealogias, “fulano e fulana casaram, fulano e fulana geraram fulano de tal”. Parecia o livro de Gênesis. Mas os homens nas genealogias eram autoridades políticas, e as mulheres eram o povo (comunidades reprodutoras de parentesco, daí o significado feminino) que forneciam os detentores dessa autoridade.
E esse discurso político era preciso, não uma metáfora. A comunidade política não era um «reino» como os do início da Europa moderna, mas sim uma rede, uma confederação ou um «composto» dos grupos reprodutores dentro dela, ligados pelas genealogias que eles recitavam. As genealogias eram, de fato, a constituição formal do sistema político e tão vitais para as identidades políticas/coletivas das pessoas que a compõem como a cidadania nacional é para nós; somos definidos em lei pelas nações em que somos cidadãos e vivemos em um contexto definido mais por lei do que por familiaridade, pelo menos publicamente. As identidades Bângalas desse tipo político e competitivo são literalmente vitais, e a confiança dos africanos nelas, e um intenso senso de pertencimento pelas ligações, explicam as sensibilidades que descrevi, inclusive a briga na taverna.
Assim, os africanos contavam uma realidade inteiramente coerente e adequadamente abrangente de estar em Angola entre 1560 e 1960, e os portugueses, presentes no mesmo espaço e tempo abstratos, viviam noutra existência paralela. Como eles eram paralelos, sem interseções, as pessoas de ambos os lados não se confrontavam de maneira sistematicamente conflitiva. Como resultado, ninguém de nenhum dos lados teve que levar em conta muito mais do que 10% do outro para prosseguir em seus respectivos mundos, mesmo interagindo. Estes não eram espaços mentais comparáveis às falsificações diretamente conflitivas atualmente designadas em certos círculos como “fatos alternativos”.
Para mim, como historiador, essa compatibilidade foi uma oportunidade de triangular a partir dos dois 10% reconhecidos em cada um para inferir os 90% restantes do outro. Como se viu, os sistemas políticos compostos deveriam manter listas sequenciadas dos homens investidos nas posições que constituem a comunidade política, e particularmente as [posições] centrais em torno das quais as redes giravam ao longo do tempo. Essas sequências constitutivas são o que a etnografia e os historiadores chamam de “listas de reis”. Alguns tentaram (muito grosseiramente) inferir a cronologia deles, assumindo uma certa “duração de reinado” média e multiplicando as posições dos “reis” na lista para adivinhar as datas do calendário para eles. Mas as figuras centrais não são “reis” no sentido do poder pessoal unilateral atribuído aos monarcas europeus do início da era moderna. Em vez disso, eles são depositários dos legados de seus predecessores, que devem ser lembrados, isto é, introduzidos no presente, para que o curador atual seja efetivo ao incorporar os atos e poderes acumulados de seus antecessores. E eles são correspondentemente constrangidos pelos mesmos precedentes, que vemos como passado.
Como se viu, os documentos portugueses registraram a maioria dos nomes dos “reis” nas tradições orais e na mesma sequência em que foram recitados. Isso confirmou a historicidade deliberada das tradições, como eu havia sido designado para demonstrar. No entanto, para fazer isso eu tive que aprender quais dos seus aspectos devem ser lidos como se referindo a quais tipos de eventos, ou - mais provavelmente - processos. As tradições não registravam percepções individuais de eventos, como um documento poderia descrevê-los, embora as apresentassem como narrativas de personas humanizadas, como os nomes em genealogias referindo-se a grupos e títulos políticos integrados à comunidade política. Em vez disso, eram interpretações consensuais, retrospectivas e espontâneas, do significado do que as pessoas tinham experimentado juntas, os significados compartilhados e duradouros do que as pessoas haviam feito, como lições preservadas para guiar as vidas de contadores posteriores e suas audiências. São interpretações, e não descrições.
Eu entendo o sentido da sua pergunta sobre “etnologia”8 8 Em inglês, “etnologia” refere-se a uma espécie de etnografia descritiva, focada na cultura material e procurando padrões no espaço, característica da Alemanha pré-guerra - e sobrevivendo em 1960, principalmente entre um círculo restrito de etnólogos em Portugal. “Etnografia” refere-se à observação participante britânica e francesa no período entre as guerras herdada de Malinowski, buscando estruturas sociais para os britânicos e estruturas mentais para os franceses (incluindo o estruturalismo de Lévi-Strauss). Usei o que conhecia de todas as variedades de antropologia para me alertar para as possibilidades, mas não vi nenhuma compatibilidade significativa entre sua ênfase na modelagem abstraída e meu interesse em processos criados por humanos para criar mudanças históricas. [JCM] como perguntando sobre as maneiras pelas quais os insights antropológicos, ou modelos de comportamento humano, incluindo o que é visto como “cultura”, me permitiram reconhecer essa coerência alternativa compatível. Eu não posso dizer como eu reconheci as sensibilidades africanas, mas a antropologia que eu aprendi - por exemplo, modelagem de parentesco - foi apenas um ponto de partida, embora vital para me alertar sobre vários aspectos do mundo dos africanos sem homólogos na minha cultura - ou portuguesa. Então, isso me deu perguntas, mas resposta alguma. Quase todas as várias correntes da antropologia, desenvolvidas por volta de 1965, eram estruturais, portanto estáticas, atemporais, sem a capacidade de articular qualquer tipo de mudança e, menos ainda, todas as iniciativas incrementais e resultados inesperados que caracterizam a mudança de uma maneira histórica.
Minha dissertação e a subseqüente monografia (Kings and Kinsmen/Poder politico e parentesco) deram apenas o primeiro passo, de integrar o que havia sido modelado como alternativas mutuamente excludentes (“estados” e o que era um tanto redundante e negativamente caracterizado como “sociedades sem estado”). Daí os “reis e parentes”, o mesmo contraste, mas visto como interagindo nos mesmos sistemas políticos. Mas combinar “tipos” abstratos foi apenas um passo preliminar em direção a uma epistemologia histórica mais completa, pois sequenciou modelos ou tipos estáticos em vez de mostrar como os precedentes geraram seus sucessores através de um número infinito de etapas incrementais e onde a ideologia (que é o que “estruturas” ou “instituições” são, em termos históricos), encaixava-se nesse processo. Esta combinação agora amadureceu na noção de comunidades que eu caracterizo como “compósitas”, ou compostas, e com uma dinâmica política e processual muito mais complexa, e minhas interpretações dos dados são resolutamente históricas.
História e etnografia, ou antropologia, são disciplinas diferentes por boas e substanciais razões epistemológicas. Um historiador da África Antiga deve conhecer bem o suficiente para mantê-las separadas. Combiná-las entorpece o que há de melhor na analíse de ambas.
4. Sobre as origens e, mesmo, a existência das comunidades dos “jaga”, produziu-se uma controvérsia historiográfica entre você e outros destacados historiadores africanistas; mais recentemente, Mariana Cândido abordou de forma crítica a denominação “Jaga” para a região de Benguela. Como você vê essa controvérsia atualmente?
O debate sobre a “morte” dos jagas continua muito vivo, muitas vezes liderado por brasileiros, inclusive a expatriada [Mariana] Cândido. Ela está perfeitamente certa em reconhecer o significado legal / político do modo como autoridades portuguesas usaram o termo “Jaga” para designar autoridades africanas - sobas - não cooperativas em Angola como selvagens irredimíveis e, portanto, alvos legítimos de uma “guerra justa” para produzir escravos. A sua sensibilidade aos aspectos legais da história angolana é exemplar; os portugueses, quaisquer que fossem suas irregularidades como saqueadores de escravos, sempre conforme as regras, cobrindo seus rastros com a legalidade, muito antes de os brasileiros inventarem o “para o inglês ver”. A lei importava para eles porque a escravização tinha de ser legítima para estabelecer um direito claro à propriedade de seres humanos, um título que eles poderiam transmitir com segurança quando vendessem os cativos - o que, naturalmente, era o seu propósito final.
Mas Cândido9 9 CANDIDO, Mariana P., An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and Its Hinterland. Cambridge University Press, 2013. está olhando para o século XVIII e não para o arquetípico “Jaga”, que supostamente atacou o Congo em 1568. Eles são os que, como tentei argumentar, nunca existiram em qualquer forma parecida com os canibais selvagens que foram retratados. Em vez disso, eu suspeitava de uma conspiração dos interesses escravistas de São Tomé e Kongo (o regime católico que foi restaurado dois anos depois) para encobrir sua própria intrusiva e ilegal colocação de um colaborador no trono do que legalmente era um “reino” soberano, igual e aliado com as monarquias da Europa. Supunha-se, também, que o Congo teria sido um triunfo do catolicismo, isto é, um sistema político em que os portugueses tomistas - de São Tomé - deveriam ter respeitado, em vez de subordinado aos seus interesses principais em escravizar pessoas. Não se podia legalmente submeter à escravidão a um correligionário católico, mas muitos Congo, contados como os católicos supostamente protegidos, estavam sendo escravizados.
John Thornton10 10 THORNTON, John K., “A Resurrection for the Jaga”. Cahiers d’Études Africaines. Vol. 18 N°69-70. 1978, p. 223-227. , é claro, tentou dar um sopro de vida a esses “Jagas canibais”, tratando-os como um “grupo étnico” invadindo o Kongo de algum lugar do interior, e Anne Hilton11 11 HILTON, Anne, “The Jaga Reconsidered”, The Journal of African History, 22(2) 1981, p. 191-202. , com outros agrumentos, chegou à mesma conclusão. No entanto, um missionário-estudioso belga, François Bontinck12 12 BONTINCK, François, “Un Mausolée pour les Jaga” Cahiers d’Études Africaines, 79 (1980), 387-389. , juntou-se ao debate em curso ao meu lado. Eu havia declarado um “réquiem para os jagas”; Thornton declarou uma “ressurreição”; eu respondi com uma reflexão sobre a morte (“Thanatopsis”)13 13 MILLER, Joseph C., “Thanatopsis”, Cahiers d’Études Africaines, Vol. 18, Cahier 69/70 (1978), pp. 229-231. . Hilton contentou-se com uma “reconsideração” imprecisa, mas Bontinck abordou o cortejo de alusões à mortalidade publicando “une mausolée pour les Jaga”. No entanto, os “Jagas” estavam longe de estarem mortos nas mentes dos historiadores.
Mas houve outras confusões, devido à generalização estratégica portuguesa do rótulo “Jaga”, que eles aplicaram pela primeira vez a salteadores realmente bélicos e invencivelmente destrutivos nas vizinhanças de Luanda, trinta anos depois e centenas de quilômetros ao sul. Um documento extraordinário atribuído a um marinheiro inglês que viveu por volta de 1599 com um desses bandos de invasores relatou que eles chamavam a si mesmos “Imbangala”. Um desses grupos mais tarde se tornou o progenitor dos “Bângalas” da Baixa de Cassanje.
Mas as tradições orais de Kasanje, registradas por Henrique Augusto Dias de Carvalho na década de 1880, haviam atribuído a origem da rede política de Kasanje a outro lugar, a um “príncipe” exilado do “império” da Lunda bem a leste. Em busca de uma data para a “fundação de um império Lunda”, imaginado inteiramente em termos eurocentricos de uma monarquia, Jan Vansina e David Birmingham tentaram usar a data conhecida dos Imbangala perto da costa para inferir uma data para um acontecimento imaginado em Lunda que nunca poderia ter acontecido (uma vez que as comunidades políticas compósitas africanas consolidam-se gradualmente e não têm “datas de fundação” como tal). Eu estendi este debate em seus termos originais oferecendo minha compreensão das tradições orais que se acredita terem contribuído para isso. Mas nenhum desses Imbangala ou Lunda tinha qualquer ligação histórica com o que quer que tenha acontecido em 1568 no Congo, para além do rótulo português de inimigos possíveis de serem escravizados legalmente. Fábio Baqueiro Figueiredo14 14 FIGUEIREDO, Fábio Baqueiro, “Tradição, invenção, história: Notas sobre a ‘Controvérsia Jaga’,” Revista Perspectiva Histórica, Salvador: Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas, 5, 8 (2016), pp. 73-96. escreveu um resumo muito claro e abrangente desses debates sobre datas, em português.
Vários brasileiros têm contribuído com reflexões aprofundadas sobre os outros “Jaga”, do Congo, olhando para as pistas adicionais que as mesmas fontes primárias podem oferecer, sob uma análise ainda mais intensiva, embora nem sempre distinguindo claramente os “Jaga” de 1568 dos posteriores, dos muito distintos Imbangala e da comunidade de Kasanje (relacionados a Lunda, ou não). Estes esforços têm rendido poucas contribuições novas, continuando a justificar uma ou outra das duas posições iniciais, de Miller e de Thornton, e tendendo a favorecer a horda misteriosa de invasores selvagens de Thornton sobre a minha proposta direta da possibilidade de uma revolta interna que eu tinha atribuído aos fracassos da conversão católica para deter a onda de violência escravista que inundava o Congo. Em geral, poucos estudiosos consideraram seriamente a crescente violência escravizadora em toda a região como o choque verdadeiramente traumatizante, que deve ter sido capaz de produzir uma interpretação dos escravizadores como “canibais” consumidores de pessoas. Esta imagem exata é relatada repetidamente de todas as partes da África.
Mas a “arma fumegante” agora foi descoberta, e no menos provável dos lugares. Um historiador português que trabalha em Macau, Paulo Jorge de Sousa Pinto15 15 PINTO, Paulo Jorge de Sousa. “Em torno de um problema de identidade: os ‘Jaga’ na historia do Congo e Angola,” Mare Liberum: Revista de história dos mares, 18-19 (1999), p. 193-243. Disponível em: https://www.academia.edu/5366238/Um_Problema_de_Identidade_Hist%C3%B3rica_Os_Jaga_na_Hist%C3%B3ria_de_Angola_e_Congo. , descobriu uma petição de um padre, candidato a nomeação como bispo de Malaca em 1588. O padre, a título de apoio à sua candidatura ao alto cargo eclesiástico com um recital de seus muitos serviços antecedentes à Coroa, citou sua presença acompanhando o exército que resgatou o regime católico do Kongo de “quase de sessenta mil alevantados nos ditos reinos do Congo”: uma testemunha que descreve explicitamente os distúrbios como uma insurreição doméstica. Sua petição escapara à atenção dos africanistas porque não estava em Lisboa nem em Roma, mas em Madri, então sede da “monarquia dual” dos Habsburgos, que sucedera Lisboa [como sede da monarquia], e em arquivos não da África, mas do sudeste da Ásia. Um novo livro de Jared Staller, Converging on Cannibals16 16 Athens: Ohio University Press, 2019. , irá reescrever a história do Congo como um sistema compósito ao invés de uma monarquia católica de modelo europeu e detalhar tanto a dissensão política no Congo quanto a subsequente criação do mito de “Jaga” como “canibais” legalmente úteis.
Estranhamente, Pinto, que não é um africanista, não percebeu o que essa fonte singular de fato dizia, já que ele estava revisando profundamente a complexa historiografia para apoiar Thornton. Staller entendeu o que o documento de fato disse e chamou a minha atenção, sabendo que eu ficaria feliz em encontrar este último cravo de Malaca dirigido diretamente para o coração do mito vampírico da “Jaga canibal”. Quase quarenta anos depois, os Jaga finalmente foram postos para descansar. A questão parece encerrada, mas os historiadores - e não menos os brasileiros - sendo tão criativos quanto eles são, podem muito bem levantar as sombras dos “Jagas” novamente, e eu seguirei a trilha destas fantasmas com interesse duradouro.
***
5. Em “Kings and Kinsmen”, você procurou discutir as origens dos Reinos angolanos a partir da mudança institucional, demonstrando como o surgimento desses Reinos foi o produto da transformação e adaptação de instituições, para além do parentesco, que existiam entre os diversos povos na África Centro-Ocidental. Mais recentemente, em “The Problem of Slavery as History”, você questiona a própria ideia de “Reinos” ou “Impérios” para a África e dá uma ênfase muito grande à escravização (slaving) nos processos de integração política. Poderia abordar um pouco das transformações no seu pensamento nesse tópico?
A resposta direta é “absolutamente sim”, como tenho detalhado em minhas respostas às suas perguntas anteriores.
Em primeiro lugar, meus cumprimentos pela definição muito aguda da lógica dos Kings e Kinsmen. Mas considero meu pensamento posterior não como uma “transformação”, o que implica uma substituição holística de uma coisa inteira por outra. Neste caso, isso poderia estar substituindo estruturas abstratas - como “reinos” e “linhagens” - pelos processos históricos que eu passei a entender como maneiras muito mais realistas de entender a mudança em si, como fluxo. Uma vez que K & K foi estruturado em termos dessas “instituições”, que são estáticas, a única maneira de rastrear a mudança é compará-las e sequenciá-las. Vocês me deram pelo menos algum crédito por “adaptações”, presumivelmente atribuídas aos Mbundu que as teriam feito no século XVI, mas não acho que dei atenção suficiente a esse aspecto elementar de explicar as mudanças que as pessoas fazem nas suas vidas. Eu aprecio o benefício da dúvida.
Mas o mesmo entendimento de mudança como processo histórico - isto é, adaptações incrementais, acessíveis, mínimas do que as pessoas herdaram do passado para novas condições além de seu controle - se aplica ao que eu fiz em K & K, eu tinha estruturas antropológicas («reinos» e “linhagens”) para trabalhar; de fato, é claro, esses aspectos políticos e de parentesco da vida eram apenas uma parte pequena dos quadros de relações que aqueles Mbundu haviam herdado de talvez trinta gerações de respostas inventivas de seus ancestrais a um milênio de enfrentamento de desafios históricos - menos da metade, talvez apenas o famoso 10%. Então eu havia reduzido toda a riqueza de suas vidas a um esquema excessivamente racional. E eu não substituí o que eu tinha derivado da literatura, mas apenas juntei os mesmos pedaços de uma nova maneira. Foi, portanto, um passo incremental, que foi tanto um produto do passado como também um passo em direção ao futuro: pensado dentro dos limites de qualquer processo histórico. O historiador não está fora da sua própria história.
Mas foi um movimento na direção certa, isto é, “certa” para mim, na medida em que eu me movia para além do estruturalismo da “história social” dos anos 1960 e dos modelos antropológicos que permitiram à primeira geração de historiadores trabalhando na África inferir padrões (modelados, no abstrato, em termos gerais) a partir da evidência muito dispersa do passado não escrito que tínhamos na época. Os modelos nos deram feixes estreitos de luz na obscuridade. Eles foram o ponto de partida disponível para nós.
Desde então, tudo o que tenho escrito se esforçou na direção de uma epistemologia mais histórica, uma ênfase na mudança como produto de ações humanas motivadas e capacitadas pelos contextos específicos em que as pessoas viviam. “Reinos”, entidades abstratas que poderiam - no discurso dos anos 1960 - ser “fundadas” ou “formadas” em um vácuo, desapareceram de meu entendimento, e processos históricos graduais, com pessoas atuando com qualquer meio que tivessem em mãos (incluindo seus próprios passados limitantes) para enfrentar novos desafios “semipercebidos”. “Semipercebido” em um sentido preciso, uma vez que a novidade só pode ser percebida em aspectos que mantêm características familiares, reconhecíveis pelas pessoas como produtos de seus próprios passados. A outra metade não é perceptível, ou será distorcida em termos do que é já familiar. A vida em si é um “mal-entendido que funciona”, de nossos presentes emergentes baseados em nossos passados obsoletos e seletivamente lembrados.
Se você entende a história desta forma existencial, é incrível que tenhamos alguma [mudança]. Mas, claro, o progresso acontece menos por projeto do que por acidente. Os resultados raramente são o que pretendíamos, ou raramente acontecem da maneira que alguém pretendia. Se uma compreensão histórica da mudança ensina uma lição sobre a vida, seria humildade, com um forte tom de ironia.
Se quisermos contrastar a dinâmica política africana - não “reinos” estáticos - com a dinâmica social de fundo, então devemos começar com pessoas que vivem em comunidades pequenas, íntimas e face-a-face, nas quais as comunicações orais (e visuais, táteis) são ricamente suficientes. Eles operam em termos de familiaridade e se dedicam a se reproduzir, de forma significativa, por meio de relações matrimoniais gerenciadas por meio de categorias sociais criadas por regras de parentesco, “casável” e “não-casável”. Quando essas estratégias reprodutivas conseguem aumentar seus números, elas levam à escassez de recursos locais, o que significa que as comunidades reprodutoras precisam intensificar a utilização de seu próprio terreno e também envolver parceiros mais distantes no comércio. Ou seja, parceiros além do alcance dos bairros dentros dos se casam, que são “estranhos” nesses termos.
Mas estranhos são um problema porque são anomalias, incontroláveis a partir dos contextos existentes de familiaridade e comunidade. Assim, as pessoas estendem suas categorias de relações humanas para aplicar, em aspectos definidos, aos estrangeiros que as relações comerciais os colocam em contato direto, episodicamente. Quando essas novas relações comerciais, entendidas e administradas em termos das antigas categorias de parentesco, são bem-sucedidas, elas trazem novos problemas de competição e conflito potencial entre estranhos-comerciantes longe de casa e de parentes solidários. (Estou simplificando omitindo clientes, sogros e outros recursos humanos desenvolvidos ao longo do tempo.) Eles não conseguem imaginar relacionamentos fora desses quadros de parentes obrigados, e, então, grupos remotos, pessoas que não interagem face a face rotineiramente, elaboram termos análogos pelos quais eles possam colaborar, à distância, mesmo na ausência dos outros, e evitar mal-entendidos, traições e conflitos. Alguns dos povos nessas situações elaboram entendimentos viáveis, complementando suas comunidades herdadas baseadas em parentesco, mas sem substituí-las, já que o objetivo não é criar um sistema político abrangente, mas simplesmente se proteger, de onde quer que eles estejam vindo.
Se eles elaborarem um arranjo que tenha sucesso, suas vantagens então levarão outros a se unirem voluntariamente, e alguns deles serão bem-vindos por suas contribuições únicas ao coletivo emergente. Alguns desses entendimentos ad hoc desaparecem com a passagem da geração que os criou, para fins do momento, que podem não durar. Mas as circunstâncias propícias em andamento podem levar seus sucessores a estender regras familiares de herança em comunidades baseadas em parentesco para regular o acesso a cargos em cada grupo designados para representá-lo para seus homológos. Esse aspecto político de suas vidas - diferenciado de “social” como regras abstratas de cortesia que permitem que pessoas que são estranhas se envolverem mutuamente de forma produtiva ou bem sucedida - assim surge como uma extensão dos aspectos sociais / familiares de suas vidas que querem preservar. Você deverá notar como uma incipiente mudança significativa, a adição de um aspecto operativo - mesmo que ocasionalmente significativo - às vidas vividas em aldeias e bairros, emergiu contraditoriamente dos esforços conservadores para preservar um status quo de familiaridade em um novo contexto de aglomeração e conflitos incipientes entre estranhos. Isto é, um fracasso criado por seus próprios sucessos do passado. Nada (na história) falha como o sucesso!
Qualquer variedade de circunstâncias nesse ponto pode, então, provocar os bairros e aldeias a intensificarem a arena limitada de colaboração que criaram: uma seca provocando conflitos que outros podem se unir para conter ... ou o surgimento de um indivíduo ambicioso e carismático que se aproveita desta rede incipiente para se promover como conciliador e árbitro em um período prolongado de conflito ... ou alguma ameaça externa a todos ... ou uma oportunidade de controlar e tributar fluxos de bens comerciais de regiões externas à incipiente coletividade política.
Tais extensões deixam resíduos de precedentes e processos que as pessoas posteriormente invocam para integrar e regular ainda mais os componentes da linhagem, ou os nós da rede, cada vez mais em torno de um nó central compartilhado, declarado independente de qualquer um deles [dos outros nós], portanto, [tornando-se] uma figura neutra capaz de arbitrar disputas entre eles. Nem toda vizinhança expandida considera necessário seguir esse caminho, e poucos receberam bem os seus custos. Uma autoridade independente de qualquer um deles era anômala, por definição incontrolável, portanto potencialmente uma ameaça ao passado que eles pretendiam preservar, um passo tomado apenas sob condições desafiantes, como o menor de dois males. Poderíamos pensar na África central, a partir do décimo ou décimo primeiro século DC, como tendo muitos desses sistemas políticos incipientes, mas as circunstâncias suficientemente convincentes para dar esse passo drástico em direção à consolidação de um regime político podem convergir apenas raramente. Partes da África Ocidental haviam encontrado esses momentos propícios vários séculos antes. Mas sempre que os momentos eram oportunos, as pessoas acabavam por consolidar compósitos políticos duradouros a partir de contextos anteriores (baseados em parentesco). Estas redes políticas seriam confederações coordenadas, não “reinos” unificados.
Há muito mais a ser dito sobre as soluções perfeitamente sensatas, para os recorrentes desafios, a que as pessoas na África recorreram e que, de uma forma ou de outra, deixaram aos seus herdeiros arranjos políticos capazes de mobilizar números imponentes [de pessoas]. Para regularizar a primeira fase de entendimentos ad hoc, eles criariam constituições orais, que - ao longo do tempo - seus sucessores, que não estiveram presentes na criação nem conheceram os seus criadores, sintetizaram nas memoráveis formulações verbais em que pensamos como “tradições orais” narrativas. Esses consensos coletivos retrospectivos frequentemente atribuíam os poderes autônomos concedidos às figuras centrais - sempre cuidadosamente limitados, nunca absolutos ou abrangentes - a uma fonte externa ao compósito dos grupos. Representando estas figuras como estranhos - caçadores errantes dotados de fortes poderes sobre a “selva”, ou descendentes de uma autoridade política longe o suficiente para parecerem invulneráveis - declaravam sua independência das facções componentes da organização política.
Eu vou parar por aí, embora haja muito mais a ser dito, além de destacar a incoerência do relato habitual da criação por conquista. “Conquista” não era nem sensata nem logisticamente possível. A lógica da “conquista” também pressupõe o poder político militar que se supõe que [ela] cria. As comunidades africanas não eram significativamente militarizadas, a não ser nas exceções das comunidades baseadas na cavalaria/cavalo das latitudes sudânicas imediatamente ao sul do Saara. Eu enfatizei os processos históricos lentos, essencialmente conservadores, que deixam as gerações posteriores em contextos muito mais politizados do que os criadores imprevidentes sabiam. As inovações políticas sempre incorporaram os passados sociais dos quais foram geradas. Seu mundo histórico - como o nosso - estava em constante movimento, impulsionado pelas tensões dialéticas da vida, constantemente renovadas. As únicas “estruturas” nela eram as “constituições” ideológicas, sempre modelos retrospectivos e esquematizados de comportamento aceitável e consensual.
Um último ponto metodológico: sem conhecimento da escrita, como os historiadores podem acessar evidências suficientes desses processos para colocá-los como “História”, um passado cognoscível? A lingüística histórica pode reconstruir as palavras que as pessoas inventaram ou adaptaram para falar sobre o que estavam fazendo, o que é um testemunho direto do passado sobre processos generalizados da mesma ordem lógica das narrativas que eu descrevi aqui. O indivíduo específico e os eventos são perdidos dentro de três gerações ou mais, isto é, com as mortes das testemunhas oculares. Mas as testemunhas oculares raramente percebem a significância, apenas impressões parciais de detalhes reconhecíveis.
A segunda fonte é a etnografia moderna. Se você pensar nos comportamentos rotineiros que os antropólogos chamam de “cultura” não em termos estruturais mas como acumulações de inovações e adaptações herdadas das gerações do passado, você abre a possibilidade de distinguir componentes particulares adicionados em momentos específicos do passado, como reflexos de respostas a momentos históricos que podem ser reconstruídos em termos gerais, ordenando-os, então, de acordo com essa sequência de contextos e usando essas mudanças contextualizadas para inferir aspectos adicionais de seus tempos passados, não evidentes na linguagem. O passado vive no presente, na forma de seus resíduos em comportamentos consensuais.
Mas isso é certamente o suficiente. Se você conhece Kings and Kinsmen, pode ver como minha ênfase atual nos processos históricos preenche a lacuna entre os momentos institucionalizados deixados por sua formulação da mudança-chave como uma “transformação” estrutural. Suponho que fiz parte da “virada pós-estrutural”, numa voz histórica e não literária ou filosófica.
***
6. “Way of Death” é o seu trabalho mais conhecido, onde você claramente procura interpretar o conjunto da História do tráfico em Angola e a sua relação com o capitalismo e com as diversas sociedades que interagiram por meio do negócio de pessoas, na melhor tradição da história “total” da escola dos Annales. Como você descreveria o contexto intelectual da produção do livro? E por que essa abordagem “Atlântica”, por assim dizer, já que seus trabalhos anteriores focavam muito mais as populações africanas?
Outra pergunta inteligente, relevante e instigante; obrigado.
A historiografia, quando comecei o livro, precisa ser considerada em três partes. Uma era, claro, a história africana. Ainda estava presa em “reinos” e outras “instituições” pouco atraentes e era fortemente atraída para os tempos recentes pelos estudos esmagadoramente populares de Terence O. Ranger sobre a “resistência” ao domínio colonial17 17 RANGER, Terence O. Revolt in Southern Rhodesia, 1896-97. London: Heinemann, 1967 (2a. ed. 1979). . O campo de história da África ia passando para a era colonial18 18 A era colonial na África começa gradualmente com a ocupação militar do continente pelos fins do século XIX, embora a presença portuguesa remote ao fim do século XV em pontos limitados, como o Kongo, a vale do Zambesi, a Costa da Mina, partes de Angola, etc. É definida historiograficamente pela documentação densa do estado moderno, suplementada pela missionária e etnográfica. É a primeira metade do século XX, até os 60s. , 90%, enquanto os arquivos se abriam, e os estudantes de pós-graduação acorriam a eles. A África colonial também era menos exigente do que a história africana mais antiga, que Wyatt MacGaffey chamou uma vez “o decatlon das ciências sociais”.
A segunda era a historiografia angolana, que florescia sob os prodigiosos estudos de Beatrix Heintze19 19 Ver: HEINTZE, Beatrix, Angola nos séculos XVI e XVII: estudos sobre fontes, métodos e história. Luanda: Kilombelombe, 2007. e John Thornton, assim como Jill R. Dias em Lisboa. Mas Thornton e Heintze trabalhavam principalmente sobre os séculos XVI e XVII, e seguiram os documentos bem de perto. Dias estava começando a desenvolver uma história africana do século XIX. Ninguém estava trabalhando com o século XVIII, e assim Way of Death começou a dar os contornos dessa “era média” de 1730 até cerca de 1830. Foi também a primeira tentativa de integrar os temas da história africana no contexto mais amplo do Atlântico. Thornton e Linda Heywood, em particular, elaboraram subseqüentemente essa estrutura, embora usando o conceito de “atlântico criolo”, que não acho útil para entender a África - sempre minha “linha de fundo”. Com o “Atlântico Crioulo” vemos os africanos, principalmente, no que eles se assemelhavam aos europeus; outro exemplo do apelo enganoso da “regra 90/10”.
A terceira foi o primeiro despertar do que mais tarde se tornou a história atlântica, e foi o livro The Atlantic Slave Trade: A Census (1969) de Philip Curtin, que definiu o tom quantitativo para pelo menos uma geração de estudos imitativos destinados a explorar os arquivos da Europa (um pouco menos do Brasil, com algumas contribuições de Angola) por dados para documentar um comércio que sempre foi assumido como estando além do alcance da investigação histórica, conduzido sub-repticiamente e não deixando nenhum rastro de papel para os historiadores recuperarem. Quão errada essa suposição estava, como sabemos, cinquenta anos e 36.000 viagens documentadas depois!20 20 http://www.slavevoyages.org/. Ninguém jamais tinha olhado isto - ou talvez não se quisesse encarar um episódio vergonhoso em um contexto historiográfico ainda progressista.
Assim, o tom desta primeira rodada de contar as pessoas exportadas da África não foi bem historicizado. Tratava-se de encontrar números e, em seguida, colocá-los em cartões de computador para alimentar as versões então iniciais dos laboratórios de computação das universidades que rodavam enormes rolos de fita espessa magnética. As versões publicadas desses estudos consistiam em tabelas reproduzindo os números que os computadores geravam e depois os descrevendo em prosa; isso era pura redundância, mas provavelmente era necessário, já que nem todos os historiadores entendiam completamente as tabelas que os computadores produziam. Foi uma fase “cliométrica” de dados e quantificação bastante eufórica. Esses “cliométricos” raramente contextualizaram as fontes de onde extraíram os números ou os contextos históricos que produziram as fontes. Foi um exercício falho como história, uma vez que não explicou de maneira significativa (analiticamente) o que produziu os resultados descritos. Olhar para evidências do passado sem contexto não é história.
Por causa da minha graduação em Administração de empresas, eu sabia ler os números bem o suficiente para me perguntar sobre os contextos que faltavam. E os quatro (poderiam ser cinco) contextos embutidos de Way of Death foram o resultado. Naturalmente, o resultado me surpreendeu quando percebi que havia substituído um modo de quantificação da história econômica por uma ênfase na história dos negócios em finanças e estratégia, ou seja, as motivações e os meios. Quando deixei os negócios e mergulhei nas tradições orais da Baixa de Cassange, pensei que, se eu fosse ainda mais longe, eu teria de voltar novamente. Mas lá estava eu, um historiador de negócios africanos. Tanto quanto eu sei, sou o único historiador da África com um MBA. Você pode fugir do seu próprio passado, mas você não pode escapar dele. E a historiologia africana reconhece isso; a história progressista gostaria de negar isso.
E você de fato responde a sua própria pergunta. A “história total” dos Annales significa entender pessoas e eventos específicos em seus contextos históricos completos. E a “abordagem atlântica” em Way of Death simplesmente contextualizou um aspecto primário da história na África central ocidental - que é a escravização - na escala do Atlântico Português. As pessoas no centro da África central estavam reagindo às conseqüências das decisões tomadas em Lisboa. Eu não conseguia entender o que os africanos estavam fazendo, a menos que eu pudesse apreciar o contexto completo em que eles estavam vivendo. Então, eu não deixei a história africana; na verdade, eu estava cavando mais fundo.
Way of Death tem - como vocês bem sabem - quatro partes: os mundos herdados dos africanos, como eles se basearam naqueles para se engajar comercialmente com os europeus (como compradores intencionais de bens importados esperando adquirir pessoas ao invés de perdê-las como acabaram involuntariamente fazendo), o conjunto de comerciantes, obrigados, pelas dívidas que assumiram, a adquirir os bens que importavam, e depois os grandes mercadores que financiaram todas essas etapas no processo, evitando a propriedade direta dos frágeis seres humanos que morriam de seus sofrimentos em números que levavam os financistas, cuja riqueza os colocou no controle de todos os demais, a elaborar um arcabouço legal que os isolasse do “risco dos escravos”, como eles reconheciam claramente.
Cada uma destas partes é o contexto da anterior: começando com um menino capturado nas margens do rio Zambeze, apanhado na política e na economia das autoridades africanas, colaborando com comerciantes do mato trazendo os bens importados para o coração da África central. Os comerciantes do mato (funantes, aviados) tomavam emprestadas as mercadorias que levavam a crédito dos importadores de Luanda e Benguela, dívidas que eles pagavam com pessoas que eles recebiam no interior, e estes mercadores na costa formavam, assim, um contexto fortemente motivador, assim como de possibilidades, para eles. Os comerciantes costeiros, por sua vez, trabalhavam em um contexto comercial do Atlântico Sul com base operacional no Brasil, onde obtinham importações, novamente a crédito, e pagavam por eles com os africanos cativos. E os mercadores no Brasil operavam em uma estrutura imperial baseada em Lisboa e focada no ouro de Minas Gerais.
Tudo o que alguém fez com relação ao tráfico de escravos estava embutido nessas esferas concêntricas de contexto. Eu não poderia entender, digamos, a política em Kasanje, que tinha sido o meu ponto de partida em Quela e na Baixa, sem investigar a praça em Lisboa. Para entender a história completa (l’histoire totale) de Kasanje, para fazer a história dos africanos corretamente, eu tive que incluir o Atlântico. Então Way of Death não foi o abandono da África que vocês insinuam. Pensei nele como o capítulo 2 da história de Kasanje que Vansina me enviou para descobrir em Angola; Kings and Kinsmen era o capítulo 1 da dissertação planejada, com efeito, para definir o contexto local do qual Kasanje emergiu. Eu poderia agora mesmo, trinta anos depois, estar começando a esboçar elementos do capítulo 3 - que seria traçar os detalhes específicos de Kasanje dos processos gerais que designei como “políticas compósitas” ao responder sua pergunta anterior. Não era um “reino” de forma alguma, embora os portugueses tentassem tratar sua figura central como “seu Jaga”. Mas você já sabe que isso, por sua vez, foi outra história, um potencial capítulo 5.
Digamos que minha dissertação planejada ainda esteja “em andamento”, com suas perguntas evocando meu pensamento atual sobre vários dos seus possíveis componentes. Naturalmente, o próprio Way of Death estava incompleto, como vocês sabem melhor do que eu. Lisboa estava trabalhando no mercado de capitais em Londres, assim como a maior parte do Atlântico não-francês no século XVIII. Com 750 páginas necessárias para chegar a Lisboa, não tive energia para expandir o contexto para a sua esfera pan-atlântica final. O livro deveria ter tido o subtítulo “Dos bancos do Zambeze ao Banco da Inglaterra”. Felizmente, vocês dois estão agora empenhados em escrever essa seção final, e espero que requeira de vocês muitos livros e artigos para acompanhá-la - onde vocês eventualmente acabarão navegando pelo Oceano Índico - uma Parte Seis iminente.
Fico feliz também que vocês reconheçam o que eu fiz como “história atlântica”, já que terminei de escrever o livro em 1985, e o resto da profissão não enfrentou as limitações da estrutura nacional ou estadual da disciplina por mais vinte anos. E vinte anos após a consolidação da “história atlântica” como um campo, a maioria dos estudiosos no campo ainda se mantém em derivados do arcabouço do estado-nação, que - por definição - permanece centrado na Europa. Portanto, reconheçamos que os “impérios” estão “emaranhados”, ou que as pessoas se moveram “transnacionalmente” ou que as pessoas nas Américas e na África tiveram suas próprias histórias, pelo menos na medida em que “resistiram” aos europeus. Mas isso é apenas um primeiro passo, do tipo histórico - e também historiográfico - usual. Ele ainda precisa ser descentralizado, ou melhor, multi-centrado, dando iguais iniciativas às pessoas em todas as margens do Atlântico. Então, veremos que a Europa não se “expandiu”, nem “explorou”, mas sim alavancou dinâmicas históricas locais e regionais na África e nas Américas para servir a propósitos próprios, e que esses propósitos eram apenas uma parte, às vezes muito pequena, de todos os aspectos regionais e das dinâmicas históricas locais. Volto outra vez a minha regra 90/10.
***
7. Como você vê a recepção de Way of Death, especialmente no Brasil?
Bem, essa é uma pergunta que eu deveria estar perguntando a vocês.
Sou extremamente grato pelo que parece ter sido uma apreciação significativa, apesar dos desafios de lutar com um texto muito longo em inglês. Minha primeira recepção no Brasil foi bem impressionante. Eu tinha chegado ao Rio um pouco atrasado para participar de um congresso internacional e o Embaixador Alberto da Costa e Silva, um historiador muito eminente, estava dando a palestra de abertura, elogiando um recente livro de alguém sobre o tráfico de escravos. Quando encontrei um assento, percebi que o embaixador estava falando muito generosamente sobre Way of Death. Depois que ele terminou, eu me apresentei e conheci melhor não apenas um bom erudito, mas também um cavalheiro gracioso e refinado.
O embaixador Costa e Silva continua sendo um firme defensor do livro. Há mais de dez anos, ele organizou uma tradução para o português, que infelizmente permanece inédita, embora os esforços continuem para disponibilizá-lo. Um grande número de historiadores brasileiros parece tê-lo lido, suspeito que por causa de sua integração da história africana em temas da história do Brasil de há trinta anos.
Em outros lugares, a edição original impressa em inglês continua disponível, e estudantes e acadêmicos - nem todos africanistas - parecem continuar a referir-se a ela em termos elogiosos. Mas não parece ter fornecido um modelo a ser seguido por outros na busca da integração da história dos Africanos em narrativas atlânticas e históricas do mundo. Dois novos campos muito fortes - a abordagem da “segunda escravidão” de Dale Tomich e seus associados na Universidade de São Paulo - e a “nova história do capitalismo” nos Estados Unidos - reconheceram a importância histórica do capital que é um tema central de Way of Death. Costumo observar que o grupo da “segunda escravidão” usa o capital industrial para explicar a escravidão em Cuba e no Brasil, e a “nova história do capitalismo” usa a escravidão para explicar o capitalismo nos Estados Unidos. Mas ambas as abordagens se limitam aos processos do século XIX, virtualmente definindo-se em torno daquela fase da história global do capital, e parecem não olhar para o meu livro sobre o século XVIII como inspiração.
Entretanto, estou avançando em mostrar o significado de classificar os seres humanos como propriedade pessoal como garantia para os empréstimos necessários para financiar as fases iniciais dos investimentos em todo o Atlântico, a partir do século XV. De que outra forma os fazendeiros financiaram o rápido crescimento da produção de café no Vale do Paraíba? Espero fornecer o pano de fundo para esses debates do século XIX e fazê-lo em um modo epistemologicamente histórico, mostrando as extensões incrementais dos estágios anteriores no limiar de cada estágio seguinte. Eu publiquei pela primeira vez essa ênfase, sobre a história do Atlântico como um processo histórico incremental, em português no Brasil na revista Áfro-Ásia, agora reimpresso em uma colectânea comemorando o quinquagésimo ano da publicação daquela boa revista21 21 “O Atlântico escravista: açúcar, escravos, e engenhos,” Afro-Ásia, Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais, N. 19-20, 1997, pp. 9-36; reeditado em REIS, João José Reis; SILVA, Carlos Francisco da (orgs.). Atlântico de dor: faces do tráfico de escravos. Cruz das Almas, BA; Belo Horizonte: EDUFRB; Fino Traço, 2016, p. 39-67. .
***
8. Em “Way of Death” a dinâmica do tráfico de escravos é relacionada com a demografia camponesa, num argumento “neomalthusiano” que remete aos trabalhos da historiografia francesa (Ladurie), mas também ao argumento da fronteira da escravização. Alguns trabalhos posteriores, apesar de terem sua obra como referência, questionam ou procuram problematizar (P. Manning, M. Cândido, D. Domingues da Silva) essas duas ideias que julgamos serem centrais em sua interpretação. Como você vê essas críticas? Quais os pontos que você considera que poderiam ser revistos em seu argumento?
Primeiro, deixe-me dizer como fiquei impressionado com as contribuições para a história mais antiga de Angola que os estudiosos mais jovens aqui do Brasil têm feito. Eles têm produzindo uma torrente de estudos de primeira linha, ampliado as questões convencionais centradas nos portugueses e cada vez mais vêm investigando os mundos vividos dos africanos. Eu tenho compilado uma bibliografia destes estudos, na medida em que posso acompanhar a enchente, contendo umas dezenas de nomes e centenas de títulos. Espero que toda essa nova historiografia critique as obras mais antigas, inclusive a minha. Um pesquisador elabora a sua contribuição em seu próprio tempo e, em seguida, os outros devem explorar as limitações inerentes ao trabalho de qualquer um e ir além.
Os “outros historiadores” críticos que vocês mencionam são jovens brasileiros, embora formados na América do Norte e agora fazendo carreira nos Estados Unidos. Eles são bons acadêmicos, com carreiras notáveis pela frente, mas a leitura da “fronteira escravizadora” é um tanto parcial, compreensivelmente, acho. Eles se concentram na violência extrema, na razia organizada e na guerra, que são ênfases convencionais nos estudos das origens dos cativos, alguns dos quais acabavam sendo vendidos como escravos. A guerra é o que os historiadores parecem entender em qualquer parte do mundo, e particularmente no que diz respeito à produção de escravos na África. Não é intuitivo para a maioria perceber, como eu argumentei, que os africanos escravizavam uns aos outros, de muitas maneiras, por muitas razões, além da sombra ainda iminente do que é chamado de guerras angolanas.
Consequentemente, eu me preocupo um pouco que meus principais argumentos sobre as origens das pessoas vendidas de Angola como escravos possam escapar aos leitores inclinados a focar seletivamente na violência. Meu propósito era dar conta de processos muito mais complexos, e localmente enraizados, do que “reinos” e “guerra”, que, para mim, carregam implicações infelizes do estereótipo pejorativo de selvagens brutais na África, constantemente presos em “conflitos tribais”. O livro tenta reconhecer a violência extrema da escravidão, mas contextualizando-a, localizando-a como um momento inicial específico, localizado em espaços que se deslocaram para o interior ao longo dos séculos entre 1580 e 1850. Ou seja, a violência foi histórica, não inerente a algum caráter africano mítico violento.
Um dos meus críticos recorre à sua pesquisa muito minuciosa e criativa na área interior de Benguela, o menor e mais ao sul dos dois portos de Angola, através dos quais os escravos foram enviados para a “travessia do Atlântico”, para observar os contínuos incidentes de violência perto de costa num tempo em que a “fronteira escravista” havia se deslocado mais para o interior. Ela afirma que essas perturbações em curso mais próximas da costa, no mínimo, limita seriamente minha hipótese22 22 CANDIDO, Mariana P. An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and its Hinterland. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. . Considero essa lógica bastante tênue, já que meu argumento era de que a violência extrema caracterizou as fases iniciais da escravidão em uma ampla sequência de regiões, mais e mais distantes ao interior, ao longo de trezentos anos. Eu não disse que a violência desapareceu, mas sim que os usos da força eram de um caráter diferente, menos caótico, mais organizado, mais sistemático, pois a escravização se tornou um modo de vida para os sobreviventes. E ela encontra exatamente esse tipo de violência.
Também enfatizei que a “fronteira escravista” apareceu de forma particularmente clara no interior de Luanda, onde a maior parte do capital Atlântico estava sendo investido. Esse financiamento amplo apoiou estratégias por trás da “fronteira escravista”, isto é, mais perto da costa, baseadas menos na violência e mais em dívidas na forma de bens comerciais vendidos a crédito, com pessoas comuns sendo atraídas a tomar emprestado mais do que podiam, e os inadimplentes inevitáveis e suas famílias inteiras apreendidos e escravizados para pagar o que deviam. (Vários estudiosos documentaram detalhadamente o endividamento, com registros do chamado Tribunal dos Mucanos, um juizado colonial em que súditos dos portugueses poderiam pleitear a injustiça de sua escravização, muitas vezes por dívidas.) Essa é uma forma de violência de baixo nível mais perto da costa que era estimulada por agentes comerciais e não por senhores da guerra.
Também contrastei o interior de Benguela com essa mudança a partir de Luanda em direção a execuções forçadas de dívidas, embora timidamente, já que eu não tinha tido a vantagem da boa pesquisa que minha crítica fez posteriormente, confiando menos no endividamento e mais na contínua violência. Roubo e pilhagem, sob a forma de guerra, é sempre mais barato do que investimento na criação de uma economia produtiva. Entendo que a lógica financeira desse argumento pode não ser tão clara quanto a guerra para um africanista treinado na lógica do clichê dos cativos de guerra e que ela pode não ter levado totalmente em conta esse nível do argumento. Eu vejo sua pesquisa como confirmando o que eu tinha adiantado apenas como uma hipótese e, respeitando suas habilidades como eu respeito, gostaria de receber uma crítica mais refinada da tese como eu propus.
O segundo debate depende mais de interpretar os resultados detalhados das primeiras contagens do recenseamento português realizadas nas áreas em torno de Luanda que os portugueses controlavam por meados do século XIX. Essas contagens enumeravam os escravos que viviam lá individualmente, por nome e “origem”, por analogia com a posição civil portuguesa definida pela paróquia do nascimento, com registros batismais anteriormente equivalentes às certidões de nascimento modernas. A maioria das pessoas listadas nessas contagens como escravos apresentava “origens” nos territórios portugueses. O autor afirma, de forma bastante redutora, que a hipótese da “fronteira escravista” preveria que esses números deveriam mostrar uma grande quantidade de pessoas das zonas de violência, que por essa data tardia estavam localizadas bem no coração do continente, além do leste da fronteira da Angola moderna, e muito além das áreas então controladas pelos portugueses23 23 DOMINGUES DA SILVA, Daniel B. The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780-1867. New York: Cambridge University Press, 2017. .
Este historiador não foi treinado principalmente por um africanista e pode não ser sensível ao foco analítico de meu livro sobre os aspectos africanos dos processos históricos que trouxeram pessoas para os locais onde quer que fossem contados. O meu livro é complexo, com vários temas entrelaçados, e seria possível lê-lo em termos de dois ou três níveis e não levar totalmente em conta um ou dois outros. Mais uma vez, vejo-o enfatizando a violência remota a ponto de negligenciar os meios financeiros de gerar escravos perto da costa por meio de apreensões de dívidas. Sua interpretação também ignora o número de pessoas escravizadas que foram mantidas, particularmente nas áreas portuguesas, para substituir outras para o tráfico de escravos ou mobilizadas para participar do comércio. Ou seja, o interior de Luanda provavelmente foi repovoado por pessoas escravizadas várias vezes desde as primeiras guerras perto de Luanda na década de 1580. A população estava em constante fluxo forçado e as autoridades africanas provavelmente haviam mantido mais cativos para si mesmos do que tinham vendido aos portugueses.
As pessoas contadas como escravas na década de 1850 poderiam ter incluído principalmente descendentes de cativos de gerações anteriores originadas em outros lugares, incluindo as zonas de “fronteira escravizadora”. Sabemos que os cativos vindos da “zona de escravização” em 1850 continuavam esse padrão, sendo retidos em grande número pelo Chokwe a leste do rio Kwango, pelos Ovimbundu nos planaltos centrais e em outros lugares além do alcance dos funcionários portugueses responsáveis pelo recenseamento. Penso que a geografia observada nas “origens” das pessoas classificadas no censo como “escravos” levanta mais questões do que respostas e que encontrar essas respostas dependerá de uma maior contextualização das listas de nomes resultantes que temos. Estou ansioso para mais críticas desses documentos muito valiosos.
Quanto a Malthus, eu interpreto sua pergunta como mais um de meus esforços para contextualizar os números da população na África, que os africanistas têm debatido há anos, em grande parte sem colocá-los em contextos demograficamente relevantes. Você está se referindo a um artigo que escrevi, e a um ensaio paralelo da falecida Jill R. Dias24 24 DIAS, Jill R., “Famine and disease in the history of Angola c. 1830-1930”, The Journal of African History, 22(3), 1981, 349-378. , destacando referências constantes na documentação de Angola à “seca, doença e fome”25 25 MILLER, Joseph C., “The Significance of Drought, Disease, and Famine in the Agriculturally Marginal Zones of West-Central Africa,” Journal of African History, 23, 1 (1982), pp. 17-61. e à sensibilidade política e econômica de alimentar a população da cidade de Luanda. Essas preocupações malthusianas também incluíam provisionar os milhares de cativos famintos sendo conduzidos aos navios em sua baía. Era uma grande preocupação de todos, com epidemias de varíola originadas no rastro de secas em Angola sendo transportadas por cargas atormentadas de escravos, dando início a epidemias no Brasil.26 26 ALDEN, Dauril; MILLER, Joseph C.. Unwanted Cargoes: The Origins and Dissemination of Smallpox via the Slave Trade from Africa to Brazil, c. 1560-1830. In KIPLE, Kenneth F. (Org.). The African Exchange: Toward a Biological History of the Black People. Durham, NC: Duke University Press, 1988, p. 35-109. Mas esse fato básico - “malthusiano” em um sentido impreciso, suponho - mal era reconhecido em histórias dedicadas às guerras, aos governadores e aos muito comuns abusos do tráfico de escravos.
Eu simplesmente compilei uma lista que sequenciava relatos desses eventos, que mostrava que as guerras geralmente coincidiam com as secas e que epidemias de varíola as seguia. Mais uma vez, o timing e os processos históricos mostraram padrões claros em eventos que de outra forma pareciam meramente aleatórios ou “naturais”. A confirmação final da importância da dimensão climática da história africana veio de relatos de como várias comunidades de africanos haviam enfatizado os mesmos fatos afetando negativamente as suas vidas. Os africanos, para seu crédito, tinham conseguido maximizar os números que poderiam suportar com os recursos disponíveis de forma otimizada para eles. Eles conseguiram a ocupação plena de suas terras. As interrupções - na maioria das vezes, as ausências de chuvas no regime de clima tropical da África - forçaram ajustes significativos e, em casos extremos (que ocorreram pelo menos uma vez a cada século por um período muito longo), colapsos. Eu estava pensando mais em termos de história climática do que em dinâmica malthusiana, mas a referência a ela é exata.
Eu estava pensando em termos de clima na época porque a historiografia geral da África tinha começado a levar em conta essas reações históricas aos climas modificados, já que as secas severas no Sahel da África Ocidental no início dos anos 1970 focalizaram a atenção na instabilidade ambiental. Outros estavam trabalhando com grandes tendências seculares para regimes mais úmidos e secos, principalmente na África Ocidental. Então, por um lado, eu estava apenas estendendo suas percepções muito importantes para a documentação portuguesa excepcionalmente clara e consistente para Angola, enquanto, por outro, eu estava focando em mudanças imediatas e de curto prazo que influenciavam eventos específicos, ao invés de padrões gerais de longo prazo. Mudanças climáticas claramente estabelecidas ao longo de seis ou sete milênios (e mais) são agora estruturas básicas para a compreensão das famosas “migrações Bantu” na África Central e muito mais.
Numa economia política de pessoas, na qual os números delas tanto constituem riqueza, quanto permitem o poder político, todos tentam sensatamente maximizar a população que podem mobilizar. As tendências políticas e econômicas resultantes do crescimento demográfico podem gerar um caso histórico especial do modelo geral de Malthus. Os otimistas progressistas, ou progressistas otimistas, nunca aceitaram essa crítica implícita de sua fé nas possibilidades ilimitadas do capitalismo para melhorar a vida de todos, mais cedo ou mais tarde. É a base do esgotamento atual e da poluição dos recursos do mundo: riqueza ilimitada, mais uma vez independentemente do contexto. Para a África, essa questão está centrada nas conseqüências para o continente da perda de 15 a 18 milhões de pessoas para todas as rotas do negócio de exportação de escravos - Atlântico, Transaariano e Oceano Índico. Ao assumir taxas abstratas de crescimento de populações potenciais, pode-se contar cada pessoa exportada como um custo demográfico, inibindo o crescimento do mercado e o desenvolvimento econômico. Assim, as famosas teses de “subdesenvolvimento” que atribuem o desenvolvimento econômico atrasado da África moderna ao comércio de escravos, de fato, repousam sobre estes pressupostos do liberalismo clássico.
Minha ênfase nos contextos históricos reais dos recursos realisticamente limitados e das ambições humanas competitivas não diminui a tragédia da escravização para os escravizados, mas reconhece que as populações africanas oscilaram, diminuíram periodicamente e, então, retornaram a períodos esperançosos de crescimento, o que - aos extremos - tornou as populações maiores que eles criaram vulneráveis ao próximo colapso. Caçadores de escravos atacavam os desafortunados refugiados, dispersos e vulneráveis, dessas crises, criando mais cativos do que os europeus poderiam ter provocado. Até certo ponto, ou expressas mais historicamente, a mudança climática e a ambição humana, ou a política, contribuíram de maneiras específicas para o grande número de sobreviventes enviados à escravidão.
***
9. Também sobre a relação entre escravidão e capitalismo ocorreram importantes controvérsias historiográficas desde a publicação “Way of Death”; como você vê esse debate, que parece ser central desde Eric Williams?
Esbocei várias fases desses importantes debates em andamento à medida que respondia às perguntas anteriores. O brilhante insight de Williams foi histórico, contextualizando o processo de industrialização na Grã-Bretanha dentro de um contexto imperial sistematicamente elaborado, habilitando-o e a escravidão como contribuintes ativos, ao invés de objetos passivos da agressão britânica. Ele também superou o isolamento conceitual predominante de “modos” abstratos ou “modelos” ou “culturas” evolutivamente opostos que eram inerentes tanto aos esquemas liberal-progressistas, quanto às visões marxistas da história global. O capitalismo e a escravidão eram logicamente opostos e, portanto, de alguma forma, não relacionados historicamente. Ele reconheceu a questão histórica relevante: criar mudanças é caro. Alguém pagou pelo investimento britânico na produção industrial. Ele também reconheceu que a “Europa moderna” emergiu no contexto de uma economia política global, a estrutura que Immanuel Wallerstein acabou preenchendo com sua sociologia (não histórica) de um “sistema mundial moderno” (que, infelizmente, excluía explicitamente a África como além da sua periferia).
Os economistas refutaram um distorcido cálculo estreito dos “lucros” necessários para financiar a industrialização, como os retornos contábeis descontextualizados dos navios que transportavam os escravos. Mas outros historiadores começaram a traçar as múltiplas esferas de contexto das quais a escravização extraiu tipos de recursos que produziram uma combinação catalítica na Europa - e não em outro lugar. Way of Death elaborou um conjunto de contextos, é claro, mas de uma maneira que se concentrou mais nos escravos que morreram, e não nos retornos financeiros para a Europa. Em vez de revisar um campo enorme e muito rico, cheio de cálculos mais amplos e completos, deixe-me apenas reafirmar o argumento no livro de uma forma que permita enfocar a maneira como a Europa cresceu e os outros ficaram para trás, particularmente a África.
O argumento começa por reconhecer que a economia de mercado liberal monetizada não é universal na história mundial. Os africanos, por exemplo, não circulavam moedas, mas sim circulavam pessoas e títulos sobre as mesmas. Os escravos eram uma forma relativamente irregular de mover e agregar ou obrigar as pessoas. A expressão “dependência”, como anómala ou desvantajosa, não explica nada da sua lógica, já que todos procuravam tantos patronos quantos pudessem servir, em troca de proteção e outros favores. De fato, a maior parte do mundo antes do século XVIII - incluindo a Europa - não dispunha de recursos comerciais (bancários e outros) para investir no projeto muito caro de monetizar suas economias. Como os africanos, eles mobilizavam as pessoas - primeiro a família, também clientes - em vez de aproveitar a riqueza monetária quando precisavam fazer alguma coisa. A “ciência econômica” moderna não foi uma descoberta atrasada de comportamentos humanos de “mercado” de longa data, quando foi inventada no final dos anos 1600, mas sim um reconhecimento oportuno de tipos inteiramente novos de interações humanas que precisavam de novas explicações. A nova sociedade consistia de “indivíduos” autônomos, egoístas e otimizadores racionais, formulados filosoficamente por Descartes, e estes, por sua vez, eram produtos de relações cada vez mais comercializadas entre estranhos, relacionados uns com os outros apenas por meio de trocas materiais. Marx disse isso, claro.
A troca existia há muito tempo, mas era considerado marginal às ontologias centradas nas pessoas. O que mudou foi a integração da Europa de uma economia atlântica e as quantidades sem precedentes de ouro africano e prata americana, e também eventualmente o ouro do Brasil, que ela canalizou para a Europa - assim como para os mundos islâmico e asiático já integrados comercialmente. Africanos escravizados, como eu disse, foram a garantia que atraiu o crédito que concentrou os metais preciosos na Europa. A revolução financeira inglesa no final do século XVII multiplicou essa crescente liquidez muitas vezes, efetivamente financiando as habilidades das pessoas de se sustentarem através de transações de mercado - não de família - como indivíduos “autossuficientes”. Um relato histórico para este processo seguiria os principais momentos de mudanças incrementais específicas, em termos de margens, em vez de agregados e médias, como Robin Blackburn faz elegantemente em A construção do escravismo no Novo Mundo27 27 BLACKBURN, Robin, A Construção do Escravismo no Novo Mundo. Rio de Janeiro: Record, 2003. .
10. Enquanto em “Way of Death” os raciocínios são claramente inspirados nas obras “estruturalistas” de F. Braudel e I. Wallerstein, em “The Problem of Slavery”, você faz uma crítica aos argumentos “estruturalistas” sobre a escravidão e propõe uma mudança de perspectiva em direção a uma história das estratégias de escravização (slaving), considerando a agência dos indivíduos no processo de escravização. Você acha que é possível conciliar uma análise de corte “estruturalista” e uma história que reconstitua o papel dos indivíduos?
Mais uma vez, vocês identificaram exatamente o que eu tenho dito em todas as minhas respostas às suas perguntas anteriores. E destacar as abstrações que eu contrasto com os processos históricos de maneira que possam torná-las incompatíveis pode ser uma boa maneira de concluir. As abstrações são arriscadas porque sua coerência interna atrai o leitor para elas e parece excluir alternativas. Mas são os 10 por cento, e não os 90.
Mas os contrastes podem ser complementares e não contraditórios. Um historiador deve contextualizar processos e abstrações, ou “instituições”, cada um no outro, em um tipo dialético de sinergia, ou um tipo sinérgico de dialética. De fato, nenhum pode existir sem o outro, já que “estruturas” são compostos e resultados de eventos e as pessoas agem (historicamente) em contextos que incluem “estruturas”, pelo menos no mundo moderno, onde aliviam as tensões de lidar constantemente com estranhos. Desde que se lembre de que as estruturas são criações históricas e constantemente modificadas a longo prazo, mesmo que pareçam imutáveis em qualquer dado momento.
Para dar uma definição histórica deste processo, todos - como seres sociais - atuam em quadros de consenso coletivo, ou “consciência”, ou Zeitgeist28 28 Zeitgeist: conceito hegeliano cujo significado é “espírito do tempo” ou “espírito de uma época”. , ou habitus, ou “cultura”, ou qualquer uma das muitas outras formulações dos aspectos de nossas disputas que nós tomamos como dados. Nós pensamos com eles e não sobre eles. São produtos de experiências coletivas, fundidos em consenso através de inúmeros debates que surgem das diferentes posições das pessoas em circunstâncias em curso. Elas variam de vagamente “sentidas” a altamente articuladas e elaboradas, à medida que as lutas políticas forçam as partes a racionalizar, justificar suas posições.
Mas esse processo é sempre retrospectivo, dando sentido ao passado mais do que a um presente ainda emergente, nos momentos em que os eventos já foram além das questões que forçaram sua formulação; esses processos estão uma geração desatualizada no momento em que são elaborados, ou são racionalizações políticas destinadas a criar um tipo de contexto idealizado que ainda não existe (e provavelmente nunca existirá). Então, são elementos vitais da história, na medida em que motivam as pessoas a agir ou as pessoas agem em termos de sua lógica, mas não descrevem o que as pessoas estão fazendo, que é a premissa da epistemologia da história. Eles podem ser considerados produtos da história, coisas sobre as quais os historiadores deveriam escrever, mas não o que os historiadores deveriam usar para entender.
“Escravidão”, uma abstração que é formulada em termos de leis abstratas, é um excelente exemplo. “Estados-nação” - ou qualquer instituição política - são outros. Já falei várias vezes das minhas dúvidas sobre “reinos” na África. Assim é a “plantation” atlântica idealizada em uma forma jamaicana de meados do século XVIII, somente depois de ter sido atacada pelos abolicionistas, deixando um legado ideológico que os historiadores, subsequentemente, abstraíram e generalizaram como uma “instituição”. Eles poderiam documentar suas características esperadas, embora apenas usando as evidências seletivamente.
A “escravidão” é idealizada como uma estrutura, quase sempre formulada explicitamente “como uma instituição”, e o mesmo contexto altamente politizado a engessa em uma ideologia. Uma vez formulada desta maneira, tornou-se um problema para os abolicionistas atacarem, ou melhor, os abolicionistas tiveram que reificá-la para criar alguma “coisa” a ser eliminada. Um grande fio da historiografia lamenta os fracassos da “liberdade”, tanto no Brasil quanto nos EUA, tratando-a como uma anomalia trágica, quando, na verdade, a mudança nunca foi mais do que ideológica. A maioria - 90% - da historiografia da “instituição” também consiste em descobrir que a “escravidão” não existia como se imaginava, mas depois tentar explicar a evidência como “exceções”. É um exemplo clássico de um paradigma kuhniano,29 29 KUHN, Thomas S., A estrutura das revoluções científicas (5. ed.) São Paulo: Perspectiva, 1997. persistindo diante de evidências em contrário, mas de resiliência que desafia a realidade devido à sua intensa politização na cultura moderna. Sua imagem é, na verdade, uma criação de abolicionistas, que raramente foram sobrecarregados pela familiaridade pessoal com as realidades humanas das Índias Ocidentais. Não pretendo minimizar os abusos grotescos que isso permitiu, mas os agressores não definiram toda a vida para todos.
Como uma “estrutura” altamente politizada, para os historiadores, a escravidão é outro tipo de “problema”, na medida em que oculta mais experiências humanas reais e ações motivadas do que revela. Então, minha respeitosa adaptação do título clássico de David Brion Davis, que historicizou as atitudes européias em relação à escravidão, mas tornou a escravidão uma instituição estática, para destacar as atitudes transformadas nos séculos XVII e XVIII como um paradoxo, que ele precisou escrever cinco volumes brilhantes para explicar.30 30 DAVIS, David Brion, O Problema da Escravidão na Cultura Ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. Davis reconheceu que a “escravidão” do Atlântico poderia ter sido diferente, mas apenas no aspecto secundário de sua racialização. Eu argumento que as práticas de “escravização” no Atlântico comercializado mudaram fatalmente. É um argumento histórico de que os resultados da “escravização”, como uma estratégia recorrente de introduzir pessoas de fora para contextos históricos locais, mudaram com as alterações dos contextos ao longo da história mundial e, radicalmente, no Atlântico comercializado.
Para responder à sua pergunta diretamente: para os historiadores, estruturas/instituições/construções ideológicas explicam apenas as motivações e ações específicas dos indivíduos, de formas históricas, e os historiadores têm a obrigação de explicar como os indivíduos as consolidam e implantam essas abstrações. A escolha não é ou uma/ou outra; a oportunidade é ambos/e.
Há uma “história mundial da escravidão”, epistemologicamente uma história verdadeira, ainda por ser escrita. O Problem of Slavery as History31 31 MILLER, Joseph C., New Haven: Yale University Press, 2012. foi uma afirmação preliminar do esquema analítico para uma história tão verdadeira, que é mais histórica que a verdade histórica. Eu não acho que vou viver o suficiente para escrever um, e elementos desses processos aparecem nos capítulos regionais específicos da agora quase completada Cambridge World History of Slavery32 32 ELTIS, D.; BRADLEY, K.; ENGERMAN, S. (Editores). The Cambridge World History of Slavery. Cambridge University Press, 2011-2019. 4 Vols. de quatro volumes, mas o enquadramento destes volumes pressupõem o objetivo moderno de escravizar para a organização de forças de trabalho de uma maneira produtiva em uma economia de mercado. Pouco poderia ser menos histórico do que projetar esta característica definidora da modernidade atlântica em épocas anteriores e em outros lugares. Isso é reificação ideológica que suprime a história ao invés de tomar essa ideologia, e estruturas e instituições, como produtos de seus respectivos, únicos, tempos e lugares.
***
11. Dado o seu vasto conhecimento das fontes do Império Português moderno, particularmente da atuação portuguesa no Atlântico sul, e da enorme abrangência de seus trabalhos, que fontes e temas você considera que ainda precisam de aprofundamento pelos pesquisadores?
Vocês lisonjeiam um historiador de Angola que está apenas seguindo o máximo de seu contexto histórico possível. E eu não pretendo prescrever uma agenda de pesquisa para os outros seguirem. Nem sou capaz de fazê-lo, já que não posso ver mais longe do meu nariz do que qualquer outra pessoa. A espontaneidade e imprevisibilidade da pesquisa histórica e, portanto, também da historiografia, é a sua graça. Eu não quero estragar a diversão de ninguém.
Esse tipo de questão também é um problema para um historiador, uma vez que “deveria” é determinista, de algum ideal abstrato (inevitavelmente orientado ideologicamente). Os historiadores só derrotam a si mesmos quando elaboram projetos de pesquisa em torno de respostas, quando a oportunidade real é descobrir a questão. Assim, posso enquadrar a orientação em termos de processo, mas não em termos de tópicos - os melhores, mais produtivos em termos de insights novos e relevantes, são aqueles que não podemos imaginar quando começamos. Nós temos que tropeçar neles. Eu não comecei a escrever Way of Death. Surgiu da pesquisa, para minha repetida surpresa (e deleite!), enquanto deixei que ela falasse comigo. Como disse quando começei esta série de respostas: não tenho culpa de nada disso.
Ou seja, os historiadores só podem trabalhar com a documentação deles e precisam deixar ser conduzidos ao mundo das pessoas que o criaram; essa máxima se aplica a tradições orais e evidências lingüísticas, bem como a registros escritos. E a única maneira de “sentir” é contextualizá-lo tão ricamente quanto possível - o que Clifford Geertz chamou de “descrição densa” - até que você possa sentir a motivação do autor do texto - ou da fala - como ele ou ela escreveu. Então você lê tudo, até que comece a fazer um sentido intuitivo. A história não é uma ciência; é profundamente humanista, os humanos sobre quem escrevemos e também nós mesmos, a quem também fazemos bem em entender e respeitar com simpatia. Way of Death não teria se tornado uma história de negócios se eu não achasse que estava fugindo do mundo dos negócios. E porque somos todos diferentes, todos encontraremos diferentes tipos de coerência, e nossas conclusões deliciosamente divergentes serão complementares e enriquecedoras em vez de competitivas e contraditórias. É por isso que até documentos aparentemente familiares podem gerar novos insights para pesquisadores inspirados. E por “inspirado” eu não quero dizer de alguma forma inerentemente brilhante, mas sim qualquer um que se permita afundar imaginativamente em seus materiais, para se perder no passado visível neles.
Então, a primeira coisa é a evidência. A segunda coisa é deixar a evidência conduzir, ouvi-la, não tentar fazer perguntas que ela não possa responder, mas sentir as preocupações do passado que a gerou e, portanto, o que ela pode iluminar. Não quero dizer literalmente ou mecanicamente, mas sim sentir as implicações em várias camadas.
A última coisa, e essa observação retorna à relação entre estrutura e história, é que você se deixe sensibilizar por insights desse tipo autêntico, conhecendo toda a gama de possibilidades históricas realistas. As ciências sociais (para não mencionar a literatura e outras artes) compilaram uma matriz útil e abrangente (não escrevi “completa”) de modelagens gerais de tendências humanas. Você deve se familiarizar com o máximo de insights sobre as possibilidades gerais com que puder lidar, embora deva resistir às tentações de se desviar de um conhecimento útil sobre elas, para tentar engajar-se em suas sutis nuances. Esse é o trabalho dos cientistas sociais, e é um trabalho que eles podem fazer melhor do que nós, historiadores. Portanto, deixe o fraseado de teoria para eles, mas escolha os insights em seu trabalho que destacam aspectos de seu tempo / lugar / potencial histórico para enriquecer ou preencher o contexto que você deve construir. Poucos serão irrelevantes, mas nenhum será o suficiente; todos esses são visões parciais da existência, comparáveis, até mesmo complementares, então, se você as vê como iluminando diferentes aspectos de contextos infinitamente multifacetados e eternamente mutantes da experiência e ação humanas. Estão todos no lado dos 10% da “regra 90/10”.
Para concluir em um plano menos abstrato: angolista que eu sou, minha preferência pessoal enfatizaria os mundos ainda pouco apreciados dos africanos, em seus próprios termos, e ativamente engajados com seus contextos, posicionando-os também como contextos para as ações mais acessíveis dos portugueses, nas quais espreitam as sombras dos africanos. Isso é o oposto da tendência geral de projetar inapropriadamene idéias europeias nos africanos.
REFERÊNCIA
- MILLER, Joseph C., Poder Politico e Parentesco: os antigos estados Mbundu em Angola (Trad. Maria da Conceição Neto). Luanda: Arquivo História Nacional, 1995.
-
5
Logo depois da aprovação da entrevista, os seus autores receberam a notícia do falecimento do professor Miller. Não queremos escrever um necrológio, pois pessoas mais qualificadas escreveram e escreverão textos bem redigidos sobre a imensa contribuição de Miller para a história em geral (e da África em particular), mas os autores gostariam de acrescentar uma frase que escutaram a respeito de Miller recentemente e que sintetiza o que pensavam dele: “Joe Miller foi um dos gigantes da história da África”.
-
6
MILLERMILLER, Joseph C., Poder Politico e Parentesco: os antigos estados Mbundu em Angola. (Trad. Maria da Conceição Neto). Luanda: Arquivo História Nacional, 1995., Joseph C., Poder Politico e Parentesco: os antigos estados Mbundu em Angola. (Trad. Maria da Conceição Neto). Luanda: Arquivo História Nacional, 1995.
-
7
Ver nota 1.
-
8
Em inglês, “etnologia” refere-se a uma espécie de etnografia descritiva, focada na cultura material e procurando padrões no espaço, característica da Alemanha pré-guerra - e sobrevivendo em 1960, principalmente entre um círculo restrito de etnólogos em Portugal. “Etnografia” refere-se à observação participante britânica e francesa no período entre as guerras herdada de Malinowski, buscando estruturas sociais para os britânicos e estruturas mentais para os franceses (incluindo o estruturalismo de Lévi-Strauss). Usei o que conhecia de todas as variedades de antropologia para me alertar para as possibilidades, mas não vi nenhuma compatibilidade significativa entre sua ênfase na modelagem abstraída e meu interesse em processos criados por humanos para criar mudanças históricas. [JCM]
-
9
CANDIDO, Mariana P., An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and Its Hinterland. Cambridge University Press, 2013.
-
10
THORNTON, John K., “A Resurrection for the Jaga”. Cahiers d’Études Africaines. Vol. 18 N°69-70. 1978, p. 223-227.
-
11
HILTON, Anne, “The Jaga Reconsidered”, The Journal of African History, 22(2) 1981, p. 191-202.
-
12
BONTINCK, François, “Un Mausolée pour les Jaga” Cahiers d’Études Africaines, 79 (1980), 387-389.
-
13
MILLER, Joseph C., “Thanatopsis”, Cahiers d’Études Africaines, Vol. 18, Cahier 69/70 (1978), pp. 229-231.
-
14
FIGUEIREDO, Fábio Baqueiro, “Tradição, invenção, história: Notas sobre a ‘Controvérsia Jaga’,” Revista Perspectiva Histórica, Salvador: Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas, 5, 8 (2016), pp. 73-96.
-
15
PINTO, Paulo Jorge de Sousa. “Em torno de um problema de identidade: os ‘Jaga’ na historia do Congo e Angola,” Mare Liberum: Revista de história dos mares, 18-19 (1999), p. 193-243. Disponível em: https://www.academia.edu/5366238/Um_Problema_de_Identidade_Hist%C3%B3rica_Os_Jaga_na_Hist%C3%B3ria_de_Angola_e_Congo.
-
16
Athens: Ohio University Press, 2019.
-
17
RANGER, Terence O. Revolt in Southern Rhodesia, 1896-97. London: Heinemann, 1967 (2a. ed. 1979).
-
18
A era colonial na África começa gradualmente com a ocupação militar do continente pelos fins do século XIX, embora a presença portuguesa remote ao fim do século XV em pontos limitados, como o Kongo, a vale do Zambesi, a Costa da Mina, partes de Angola, etc. É definida historiograficamente pela documentação densa do estado moderno, suplementada pela missionária e etnográfica. É a primeira metade do século XX, até os 60s.
-
19
Ver: HEINTZE, Beatrix, Angola nos séculos XVI e XVII: estudos sobre fontes, métodos e história. Luanda: Kilombelombe, 2007.
-
20
http://www.slavevoyages.org/.
-
21
“O Atlântico escravista: açúcar, escravos, e engenhos,” Afro-Ásia, Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais, N. 19-20, 1997, pp. 9-36; reeditado em REIS, João José Reis; SILVA, Carlos Francisco da (orgs.). Atlântico de dor: faces do tráfico de escravos. Cruz das Almas, BA; Belo Horizonte: EDUFRB; Fino Traço, 2016, p. 39-67.
-
22
CANDIDO, Mariana P. An African Slaving Port and the Atlantic World: Benguela and its Hinterland. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
-
23
DOMINGUES DA SILVA, Daniel B. The Atlantic Slave Trade from West Central Africa, 1780-1867. New York: Cambridge University Press, 2017.
-
24
DIAS, Jill R., “Famine and disease in the history of Angola c. 1830-1930”, The Journal of African History, 22(3), 1981, 349-378.
-
25
MILLER, Joseph C., “The Significance of Drought, Disease, and Famine in the Agriculturally Marginal Zones of West-Central Africa,” Journal of African History, 23, 1 (1982), pp. 17-61.
-
26
ALDEN, Dauril; MILLER, Joseph C.. Unwanted Cargoes: The Origins and Dissemination of Smallpox via the Slave Trade from Africa to Brazil, c. 1560-1830. In KIPLE, Kenneth F. (Org.). The African Exchange: Toward a Biological History of the Black People. Durham, NC: Duke University Press, 1988, p. 35-109.
-
27
BLACKBURN, Robin, A Construção do Escravismo no Novo Mundo. Rio de Janeiro: Record, 2003.
-
28
Zeitgeist: conceito hegeliano cujo significado é “espírito do tempo” ou “espírito de uma época”.
-
29
KUHN, Thomas S., A estrutura das revoluções científicas (5. ed.) São Paulo: Perspectiva, 1997.
-
30
DAVIS, David Brion, O Problema da Escravidão na Cultura Ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
-
31
MILLER, Joseph C., New Haven: Yale University Press, 2012.
-
32
ELTIS, D.; BRADLEY, K.; ENGERMAN, S. (Editores). The Cambridge World History of Slavery. Cambridge University Press, 2011-2019. 4 Vols.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
16 Set 2019 -
Data do Fascículo
May-Aug 2019
Histórico
-
Recebido
19 Maio 2018 -
Aceito
24 Maio 2019