Resumo:
Mediante registros de batismo da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de fins do século XVIII, o artigo analisa aspectos da escravidão urbana em Luanda. Salienta que, em um contexto marcadamente impactado pelo tráfico atlântico de cativos, o batismo e o compadrio serviram aos pais, sobretudo às mães, como profilaxia política contra a deportação por meio do comércio de cativos. O simples fato de ser batizado e de receber nome cristão diferenciava os batizados e seus genitores das milhares de cabeças e crias que não recebiam nomes cristãos no ritual do batismo, posto que eram destinadas ao tráfico atlântico de cativos. Isto significa que a hierarquia escravista se manifestou explicitamente nas formas de nomeação cristãs. Assim, não obstante suas dimensões religiosas, católicas ou não, o batismo e o compadrio (re)definiam estatutos jurídico-sociais na cidade, diferenciavam livres de forros e escravos e podiam levar à alforria. Conclui-se que o cristianismo católico, a escravidão em Luanda e o comércio atlântico de cativos estavam umbilicalmente ligados.
Palavras-chave:
Batismo; compadrio; escravidão; liberdade; Luanda
Abstract
Based on baptismal records from Luanda’s Parish of Nossa Senhora Conceição, this paper analyzes urban slavery in Angola’s main slave port in the late eighteenth century. Against the backdrop of the transatlantic slave trade, we argue that baptism and godparenting ties served as strategies for African women to evade deportation to Brazil through the slave trade. Baptism and the use of Christian names set Luanda’s enslaved population apart from enslaved Africans shipped abroad, who were neither baptized nor received Christian names because they were destined for the Atlantic slave trade. Naming patterns reveal a hierarchy within the system of slavery, as demonstrated by baptism and godparenting records, which (re)defined judicial and social statuses in Luanda and differentiated free people from freed and enslaved Africans. As this article demonstrates, Christianity, slavery and the Atlantic slave trade were intimately connected in Luanda.
Keywords:
Baptism; godparenting; slavery; freedom; Luanda
1. Introdução: Efigênia da Silva
Em 26 de setembro de 1775, em Luanda, maior cidade exportadora de cativos da Era Moderna, o padre Antônio Rodrigues da Costa da freguesia de Nossa Senhora da Conceição, igreja sé da cidade, batizou “Ricardo, filho natural de Efigênia da Silva, parda escrava do capitão Álvaro de Carvalho Matoso, e de pai incógnito”. O batizado foi apadrinhado pelo ajudante Lopo de Souza de Castro e por dona Luiza Maria Bonine, madrinha representada por seu procurador Francisco Matozo de Andrade. A rigor, este seria apenas mais um assento de batismo de escravos de um poderoso senhor se Efigênia da Silva, muitos anos depois, não recorresse a poderes eclesiásticos para mudar a sua condição jurídica, bem como a de Ricardo. Numa folha do mesmo livro de batismo, a africana questionou as informações contidas no registro, que dizia que ela era “escrava do capitão Álvaro de Carvalho Matoso”. De posse de “escritura” cartorial datada de 15 de janeiro de 1774 que atestava ser ela “livre”, Efigênia pediu que a redação do assento de batismo fosse corrigida para refletir seu verdadeiro status. Em 1811, então já passados quase quarenta anos da data do batismo de Ricardo, o requerimento recebeu anuência das autoridades luandenses5 5 AALNSC - Arquivo do Arcebispado de Luanda, Livro de Batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 1760-1786, s. p., próximo à página 26. .
A folha em que consta a petição de Efigênia da Silva, esverdeada e sem numeração, foi colada a posteriori em meio às demais folhas amareladas e numeradas do códice, próxima ao assento original de batismo, decerto juntada ali propositadamente para reforçar a centralidade dos documentos batismais para a afirmação da condição jurídico-social num mundo sem certidão civil de nascimento. Logo, o registro de batismo confirmava uma condição social e, para nossa sorte, também permite perscrutar hierarquias escravistas e anseios de homens e mulheres luandenses em relação a esse sacramento, ao compadrio, à escravidão e à liberdade. É disto que nos ocuparemos neste artigo. Trata-se de, através de uma análise que combina instrumentos da micro-história e da quantificação6 6 Sobre o excepcional normal, cf. GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991; LEVI, Giovanni. On microhistory. In: BURKE, Peter (ed.). New perspectives on historical writing. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1991. p. 93-114. , inclusive fragmentos da trajetória de Efigênia da Silva, fazer uso de registros de batismo da cidade de Luanda para entender a produção de categorias relativas à escravidão e à liberdade naquela cidade profundamente marcada pelos fluxos e refluxos atlânticos engrenados pelo tráfico de africanos escravizados para o Brasil.
2. A norma canônica e as normas sociais
Comum a todos os membros de sociedades escravistas, incluindo Efigênia da Silva, do Estado do Brasil e de Angola e Congo, que integravam o mundo atlântico, a elaboração dos registros de batismo foi orientada pelas Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, cujas normas canônicas valiam para Luanda7 7 Sobre a diocese de Angola e Congo, sufragânea à Arquidiocese da Bahia entre 1672 e 1845 e sobre o clero formado em Angola, cf. SANTOS, Maria Emília Madeira. África; Angola. In: AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.). Dicionário de história religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 21-25, 51-67. Cf. ainda REGINALDO, Lucilene. Rosários dos pretos, “São Benedito de Quissama”: irmandades e devoções negras no mundo atlântico (Portugal e Angola, século XVIII). Studia Historica, História Moderna, Salamanca, v. 38, n. 1, p. 123-151, 2016; MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequético: a evangelização dos escravos em Luanda nos séculos XVII e XVIII. Revista 7 Mares, Niterói, n. 2, p. 64-79, 2013. . Seguindo os parâmetros do Concílio de Trento de meados do século XVI, as Constituições primeiras publicadas em 1719 resultam de um Sínodo Diocesano colonial reunido na Bahia em 1707. As Constituições primeiras estipulavam normas para a feitura de cada tipo de registro paroquial (batismo, casamento e óbito) e para os batismos determinava-se que a redação dos assentos obedecesse a uma padronização a fim de “se evitar o dano de serem falsificados”. Os assentos de batismo deviam informar data, local, nome do padre que batizava, nomes do batizado, de seu pai, sua mãe, o recebimento dos santos óleos, os nomes do padrinho e da madrinha, seus estados matrimoniais e a paróquia onde moravam. No final o padre que redigia o assento no livro de batismo devia assiná-lo8 8 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia: Coimbra, Real Colégio das Artes e da Companhia de Jesus, 1720: Livro Primeiro, Títulos IX ao XX. Brasília, DF: Senado Federal, 2007. Na verdade as Constituições primeiras regularam o que já se praticava desde o século XVII. GUEDES, Roberto. Livros paroquiais de batismo, escravidão e qualidades de cor (Santíssimo Sacramento da Sé, Rio de Janeiro, Séculos XVII- XVIII). In: FRAGOSO, João; SAMPAIO, Antonio C. Jucá de; GUEDES, Roberto (org.). Arquivos paroquiais e história social na América lusa, séculos XVII e XVIII: métodos e técnicas de pesquisa na reinvenção de um corpus documental. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 127-186. .
Além do modo de redigir os batismos, as Constituições mandavam que cada paróquia elaborasse livros de registros de batismo, casamento e óbito. Porém, não estipulavam a confecção de livros exclusivos para livres e outros específicos para escravos. Em Luanda, o mesmo livro registrava assentos de livres, forros e escravos, diferentemente do Rio de Janeiro, por exemplo9 9 No Brasil os livros podiam ser ou não separados por condição jurídica. Frequentemente o eram, mas isso dependia da época, do lugar, da dimensão demográfica, das idiossincrasias do clero etc. SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000; GUEDES, Roberto. Macaé em fontes paroquiais. In: AMANTINO, Márcia et al. (org.). Povoamento, catolicismo e escravidão na antiga Macaé: séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. p. 121-147. . Tampouco as diretrizes das Constituições orientavam a menção às qualidades de cor10 10 Usamos qualidade de cor, cor/condição ou qualidade porque esta é a palavra mais recorrente em censos populacionais ou em mapas militares setecentistas de Luanda e de presídios do Reino de Angola para se referir ou enquadrar, geralmente, brancos, pretos, pardos ou mulatos. Cf. GUEDES, Roberto. Exóticas denominações: qualidades de cor no Reino de Angola (segunda metade do século XVIII). In: ALMEIDA, Suely et al. (org.). Cultura e sociabilidades no mundo atlântico. Recife: Universitária, 2012. p. 369-398; GUEDES, Roberto; PONTES, Caroline. Notícias do presídio de Caconda (1797): moradores, escravatura, tutores e órfãos. In: PAIVA, Eduardo França; SANTOS, Vanicleia Silva (org.). África e Brasil no mundo moderno. São Paulo: Belo Horizonte; Annablume: Editora UFMG, 2013. p. 153-180; CARVALHO, Ariane; GUEDES, Roberto. Piedade, sobas e homens de cores honestas nas Notícias do Presídio de Massangano, 1797. In: SCOTT, Ana et al. (org.). Mobilidade social e formação de hierarquias: subsídios para a história da população. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014. p. 129-171. (Coleção Estudos Históricos Latino-Americanos, 3). Por sua vez, quando em documentos lusófonos da época moderna, a palavra raça não raro era associada à religiosidade, mesmo que também aludisse a fenótipo: raça de mouro, raça de judeu, raça de mulato, sem raça (cristão). Cf. PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero-América, entre os séculos XVI e XVIII (as dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho). Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Aqui lidamos com fontes paroquiais que não mencionam o termo raça, qualidade, e raramente aludem à cor. Nelas, os termos empregados para qualidades de cor são preto e pardo, acompanhados ou não das condições jurídicas de escravo, forro ou, às vezes, liberto. Mulato, presente em mapas de população de Luanda, só apareceu uma vez no batismo. AALNSC, 1760-1786, p. 93. No caso do Brasil, o pardo dos registros batismais não deve ser considerado sinônimo de mulato, porque este tinha significado pejorativo e o clero raramente o empregava em fontes paroquiais de batismo, casamento e óbito. Cf. VIANA, Larissa M. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos na América portuguesa. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. Cf. ainda GUEDES, Roberto. Livros paroquiais… Op. Cit.; SOARES, Márcio de Sousa. As últimas moradas: memória e hierarquias sociais nos locais de sepultamentos de pardos na vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes, 1754-1835. In: IVO, Isnara; GUEDES, Roberto (org.). Memórias da escravidão em mundos ibero-americanos: Séculos XVI-XXI. São Paulo: Alameda, 2019. p. 113-160. ou às condições jurídicas de pais e padrinhos; exigiam apenas nome e estado matrimonial. Também não determinavam a especificação dos títulos de dona, dos cargos de capitão-mor, ajudante etc. Logo, ao adicionarem categorias de identificação social à revelia das orientações canônicas, os assentos expressavam normas e valores próprios de uma sociedade escravista porque eram, enfim, documentos sociais11 11 GUDEMAN, Sthepen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de escravos na Bahia no século XVIII. In: REIS, João José (org.). Escravidão e invenção da liberdade. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 33-59; FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 304. FRANCO, Renato; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Notas sobre os significados religiosos do batismo. Varia História, Belo Horizonte, n. 31, p. 21-40, 2004, p. 23. .
Todavia, os registros de batismo eram antes, e principalmente, documentos religiosos, e as disposições das Constituições consideravam que o sacramento do batismo causava “efeitos maravilhosos” porque por meio dele eram perdoados os “pecados, assim original, como atuais”. O batizado era “adotado em filho de Deus e feito herdeiro da glória e do reino do céu. Pelo batismo professa o batizado a fé católica, a qual se obriga a guardar”12 12 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições… Op. Cit., Livro Primeiro, Título X. . Por sua vez, perante e para a Igreja, no ato do batismo os padrinhos tornavam-se pais espirituais de seus afilhados, estando obrigados a “lhes ensinar a doutrina cristã e os bons costumes”13 13 Idem, Título XVIII. . O apadrinhamento criava um vínculo de parentesco entre compadres e comadres e implicava, inclusive, certas interdições entre eles. Tal como entre pais, filhos e irmãos, estava vedado aos padrinhos e madrinhas se matrimoniarem com seus afilhados, comadres e compadres14 14 Ibidem. . Seria talvez considerado uma espécie de incesto religioso.
Ora, na Luanda setecentista, uma sociedade profundamente marcada pela permanência da religiosidade africana, o sacramento do batismo não significou, necessariamente, uma adesão ou uma imposição dos princípios católicos. Mas Antonio Arantes chama a atenção para a importância de não se perder de vista o caráter religioso do compadrio, porque esta instituição é a reelaboração de uma concepção religiosa acerca da família e do nascimento expressa nas sagradas escrituras e materializada através do rito de batismo. Ainda que fosse reelaborado e servisse a fins práticos, nada “justifica supor que em sua ‘utilidade’ resida a razão de ser da instituição”15 15 ARANTES, Antonio Augusto. Pais, padrinhos e Espírito Santo. In: CORRÊA, Mariza et al. (org.). Colcha de Retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 1994. p. 195-206, p. 196. . Assim, apesar de os conteúdos sociais do compadrio serem os que mais interessam neste artigo, vale lembrar que lidamos com documentos que provêm de sociedades profundamente marcadas pelos princípios filosóficos e doutrinais do cristianismo (especialmente a Segunda Escolástica)16 16 Não cabe aqui adentrar nas justificativas religiosas ocidentais da escravidão. Entre outros, cf. COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Obras econômicas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966; NEVES, Guilherme P. das. Pálidas e oblíquas Luzes: J. J. da C. de Azeredo Coutinho e a análise sobre a justiça do comércio do resgate dos escravos. In: Maria Beatriz Nizza da Silva (org.). Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 349-370. HESPANHA, António M. Luís de Molina e a escravização dos negros. Análise Social, Lisboa, v. 35, n. 157, p. 937-960, 2001; DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. Especificamente para Angola, cf. MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequético… Op. Cit. . Porém, em Luanda, os batismos refletiam um caudal cultural que mesclava à religiosidade ocidental cristã práticas de origem Ambundo que conferiam vitalidade à matriz religiosa da cidade.
É preciso, portanto, observar os significados do batismo em seus múltiplos contextos, uma vez que tratamos da maior cidade exportadora de cativos da Era Moderna, sobretudo no século XVIII. O batismo de inocentes gerava controvérsias noutras searas. Coevamente aos registros de batismo de Luanda, pastores protestantes na Nova Inglaterra afirmavam que o batismo de crianças era um alicerce do papismo. Argumentava-se, dentre outros aspectos, que crianças não eram capazes de compreender a palavra de Deus e até se considerava que ministrar tal sacramento a elas fosse obra do devil17 17 “That infant baptism is a part and pillar of popery; that by which Antichrist has spread his baneful influence over many nations. I use the phrase infant-baptism here and throughout, because of the common use of it; otherwise the practice which now obtains, may with greater propriety be called infant-sprinkling”. GILL, John. Infant-baptism, a part and pillar of popery: being a vindication of a paragraph in a preface to a reply to Mr. Clarke’s defense of infant-baptism. To which is added, a postscript, containing a full and sufficient answer to six letters of Candidus, on the subjects and mode of baptism, &. London: G. Keith, J. Robinson, W. Lepard, 1766, p. 2. . Diferentemente da perspectiva católica que realçava os efeitos maravilhosos e salvacionais do batismo, Thomas Baldwin era da opinião de que o batismo não era “essential to salvation”18 18 We “do not consider it [baptism] essential to salvation, yet we do think essential to the regular visibility of a gospel church”. BALDWIN, Thomas. The baptism of believers only, and the particular communion of the Baptist churches explained and vindicated: in three parts. The first published originally in 1789; The second in 1794. The Third an appendix, containing additional observations and arguments, with strictures on sevaral late publications. London: Forgotten Books, 2018. . Dessa maneira, religiosamente, o batismo de escravos de Luanda estava inserido numa moldura maior de evangelização vigente nas monarquias ibero-católicas19 19 VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e escravidão. Petrópolis: Vozes, 1986; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos Pretos… Op. Cit.; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Igreja e escravidão… Op. Cit. que era contestada pelo protestantismo. Batismo de inocentes e de adultos escravos, de um lado, e evangelização católica, de outro, caminharam juntos porque a cristandade católica necessitava salvar almas para seu rebanho.
Adicionalmente, havia perspectivas africanas sobre o batismo em Luanda. Talvez milhares de pessoas que viviam em torno da cidade guardassem um conhecimento mínimo sobre o cristianismo católico, posto que até a Bíblia e o catecismo serviam como meios de alfabetização no Reino de Angola20 20 SANTOS, Catarina Madeira; TAVARES, Ana Paula. Africae monumenta: a apropriação da escrita pelos africanos. Lisboa: IICT, 2002. . Mas os modos de interpretação e de incorporação do cristianismo podiam se basear em cosmogonias religiosas próprias a povos da chamada África Central Atlântica21 21 Referimo-nos à incorporação de símbolos religiosos e rituais de outras religiões/religiosidades a partir de perspectivas cosmogônicas africanas. CRAEMER, Willy de; VANSINA, Jan; FOX, Renee. Religious movements in Central Africa: a theoretical study. Comparative studies in society and history, Cambridge, v. 18, n. 4, p. 458-475, 1976; THORNTON, John. Religião e vida cerimonial no Congo e áreas umbundo. In: HEYWOOD, Linda (org.). Diáspora negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. p. 81-100; THORNTON, John. A cultural history of the Atlantic world, 1250-1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2012; THORNTON, John. Afro-christian syncretism in the Kingdom of Kongo. Journal of African History, Cambridge, v. 54, p. 53-100, 2013, p. 53-77. Para outras searas, cf. PARÉS, Luís Nicolau. O rei, o pai e a morte: a religião vodum na antiga costa dos escravos na África ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Cf. ainda, HEYWOOD, Linda Njinga of Angola: Africa’s warrior queen. Cambridge: Harvard University Press, 2017; SOUZA, Marina de Mello e. Além do visível: poder, catolicismo e comércio no Congo e em Angola (séculos XVI e XVII). São Paulo: Edusp: Fapesp, 2018. . Enquanto protestantes da Nova Inglaterra setecentista vociferavam contra o batismo de crianças e a Igreja Católica via no batismo de escravos e de crianças um modo de arrebanhar almas, em certas searas africanas da costa ocidental, em meados do século XVIII, “apenas nascem os filhos, os levam as mães a uns destes pagodes, aonde está o referido negro [sacerdote], apresentando-lho em seus braços”. O sacerdote faz “várias cerimônias com a ponta de um boi sobre a cabeça do recém-nascido, e depois […] torna a entregar” as crianças às mães22 22 MELLO, José Caetano de. Naufragio carmelitano, ou relação do notavel successo que aconteceo aos padres missionarios carmelitas descalços na viagem, que faziaõ para o reyno de Angola no anno de 1749. Lisboa: Officina de Manoel Soares: 1750. . O evento revela que, ainda que não se trate de batismo cristão propriamente dito, vigia em certas sociedades alguma ideia de iniciação ritual envolvendo bebês. Similarmente, em Luanda, Benguela e em presídios do Reino de Angola havia o costume de batizar crianças e escravos, qualquer que fosse o catolicismo, o que, aliás, escandalizava os próprios membros da alta hierarquia católica, cientes da impregnação de religiosidades africanas no “catolicismo” da África Central Atlântica23 23 HORTA, José da Silva. Africanos e portugueses na documentação inquisitorial de Luanda e Mbanza Kongo. In: SANTOS, Maria Emilia Madeira. Actas do seminário Encontro de Povos e Culturas em Angola. Lisboa: CNCDP, 1997. p. 301-321. FERREIRA, Roquinaldo. Slavery and the social and cultural landscapes of Luanda. In: CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; CHILDS, Matt D.; SIDBURY, James (ed.). The black urban Atlantic in the age of the slave trade. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2013. p. 197-202; FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola and Brazil during the era of the slave trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Não é preciso aludir aqui aos catolicismos no Reino do Congo desde o início da Era Moderna. .
Essa impressão de relativo conhecimento do batismo e do compadrio católicos, ou de qualquer iniciação ritual em tenra idade, também é sugerida nas palavras do “preto forro” Sebastião da Silva. Natural “da cidade do Reino de Angola e batizado na Freguesia de Nosso Senhor dos Vencidos”, “Bispado da mesma Cidade”, ele disse em testamento ditado na urbe do Rio de Janeiro em 1792 que deixava a seu afilhado Paulo sete patacas que lhe devia, e ainda mandou lhe entregar “três véstias de pano que são de seu uso que me deu para guardar”24 24 ARQUIVO DA CÚRIA Metropolitana do Rio de Janeiro, Livro 2 da Sé, Testamentos e Óbitos, 1790-1797, p. 143. . Dessa maneira, o forro batizado em Angola recebeu o sacramento batismal antes de partir para a cidade do Rio de Janeiro, onde reviveu o batismo cristão, ressignificado ou não, ao se tornar padrinho de Paulo, afilhado com quem mantinha negócios. Os vínculos sociais e religiosos advindos do batismo e do compadrio, em suma, não precisavam ser e não eram separados.
Sebastião e Paulo receberam nomes cristãos, tal como Efigênia da Silva, homônima de uma figura de devoção negra, Santa Efigênia, muito importante entre pretos, pardos, escravos ou libertos na América portuguesa25 25 SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor… Op. Cit.; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos pretos e catequese no Brasil colonial. Estudos de História, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 215-234, 2002; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Igreja e escravidão africana no Brasil colonial. Especiaria, Bahia, v. 10, p. 356-388, 2009; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. As irmandades religiosas na época pombalina: algumas considerações. In: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Cláudia (org.). A “época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 347-380. Especificamente para Luanda, cf. REGINALDO, Lucilene. Rosários dos Pretos… Op. Cit.. . Em Luanda, a propósito, havia uma capela que lhe era dedicada26 26 REGINALDO, Lucilene. Os rosários dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia setecentista. São Paulo: Alameda, 2011, p. 68. . Mas, tendo sido batizado em Angola, como Sebastião foi deportado para o Rio de Janeiro, onde viveu como alforriado?
3. Cabeças, crias e o tráfico atlântico de cativos
O contexto dos batismos dos filhos de Efigênia da Silva e do testamento de Sebastião era de altíssima demanda por cativos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Entre 1770 e 1786, na freguesia sé de Luanda, 1.587 filhos de escravas receberam nomes cristãos ao serem batizados. Suas mães também eram cristianamente nomeadas, exceto sete cujos nomes eram pagãos27 27 AALNSC, 1771-1786. . Em conjunto com outros 1.140 filhos de cativas da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, entre 1797 e 1799, somavam 2.727 novos cristãos. Todos os novos catecúmenos, porém, não atingiram, mesmo juntos, 22,7% das 11.993 cabeças e crias batizadas sem nome cristão na referida freguesia dos Remédios28 28 Recorremos a batismos de cabeças e crias da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios porque ainda não encontramos registros do mesmo tipo para a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. (Quadro 1). Contribuía para esta desproporção o fato de que num único ato podiam ser batizadas várias cabeças:
Aos 30 dias do mês de setembro de [1798] batizou e pôs os santos óleos o reverendo coadjutor Manoel Antonio da Fonseca [em] quarenta e nove cabeças do coronel Anselmo da Fonseca Coutinho, de que mandei fazer este asseto que o assinei. Vigário Colado Joao Pinto Machado.29 29 AALNSR - Arquivo da Arquidiocese de Luanda, Livro de Batismos da Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, 1797-1799, fl. 157. [À margem se lê: Adultos]
Batismos de cristãos, de cabeças e de crias (Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, Luanda, 1797-1799)
A forma do batismo e o tipo de registro das cabeças pertencentes ao coronel Anselmo da Fonseca Coutinho não estavam previstos nas Constituições primeiras do arcebispado da Bahia, de 1719, que foram uma invenção luandense para lidar com o enorme contingente de cativos remetidos para o Brasil. De fato, para que se tenha a exata dimensão do impacto do tráfico atlântico de cativos na escravidão urbana e nos batismos de Luanda, é importante ter algo em mente: havia mais cativos exportados a partir do porto de Luanda com destino ao Brasil do que livres e escravos residentes na cidade (Quadro 2). Vigorava, ainda, intenso e constante fluxo de luandenses pelos presídios (pontos de colonização interioranos) do próprio Reino de Angola, a exemplo do compadre de Efigênia da Silva, que ocupara postos militares no presídio de Novo Redondo. O negócio interno de comprar e vender gente produzia uma população flutuante em Luanda30 30 Sobre a circulação entre presídios, inclusive de militares, cf. COUTO, Carlos. Os capitães-mores em Angola no século XVIII. Lisboa: Instituto de Investigação Científica de Angola, 1972; SANTOS, Catarina Madeira. Um governo “polido” para Angola: reconfigurar dispositivos de domínio (1750-1800). 2005. Tese (Doutorado em História) - École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2005; CARVALHO, Ariane. Militares e militarização no Reino de Angola: patentes, guerra, comércio e vassalagem (segunda metade do século XVIII). 2014. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. . Logo, os cativos passíveis de exportação formavam o grosso da população da cidade, mas uma população flutuante, cabeças. Antes de ir para o Rio de Janeiro, Sebastião deve ter sido batizado como cabeça, como milhares e milhares de africanos que atravessaram o Atlântico.
Naqueles fins dos setecentos, talvez as guerras31 31 THORNTON, John K. The art of war in Angola, 1575-1680. Comparative Studies in Society and History, Cambridge, v. 30, n. 2, p. 370-378, 1988; THORNTON, John K. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Rio de Janeiro: Campus, 2003; CARVALHO, Ariane, Op. Cit. e a judicialização32 32 FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit. tenham ampliado as fronteiras geográficas33 33 MILLER, Joseph C. Way of death: merchant capitalism and the Angolan slave trade, 1730-1830. Madison: Wisconsin University Press, 1988, passim. , mas certamente alargaram as fronteiras politicamente sobrepostas34 34 CANDIDO, Mariana P. Aguida Gonçalves da Silva, une dona à Benguela à la fin du XVIIIe siècle. Brésil(s): Cahiers du Brésil Contemporain, Paris, p. 33-35, 2012; CANDIDO, Mariana P. An African slaving port and the Atlantic world: Benguela and its hinterland. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. de escravização. Não raro, nem súditos escapavam totalmente da ameaça de escravização ilegal na perspectiva da administração portuguesa35 35 FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit. , e até povos africanos que viviam próximos a Luanda e Benguela, por exemplo, recorriam a tribunais luso-africanos, os mucanos, tribunais de liberdade, para fazer valer seus direitos36 36 SANTOS, Catarina Madeira. Les mots e les normes juridiques de l`esclavage dans la colonie portugaise d`Angola aux XVIIe et XVIIIe siècles (les mucanos comme jugmentes de liberte). Brésil(s): Cahiers du Brésil Contemporain, Paris, p. 139-144, 2012. . A necessidade de defender sua condição de livre significa que a intensa escravização por motivos “banais” aos nossos olhos era imensa, como as práticas de bruxaria, por exemplo, ou crimes de furto, entre outros. Punir com a deportação por meio do tráfico atlântico de cativos se tornou algo corriqueiro, o que engrossava as fileiras de deportados para as Américas (Quadro 3).
Como o (Quadro 3) demonstra, a partir dos anos 1740 o tráfico de cativos a partir do porto luandense se intensificou. Embora as décadas de 1770 e 1780 estejam aquém das seguintes, era muito alto o número de cativos embarcados na cidade. Somente no ano de 1798 as cabeças e crias batizadas na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios somam 6.911 cativos, o que equivale a 65,5% dos cativos exportados por Luanda no mesmo ano (Quadro 2) ou, com sobra, corresponde a todos os livres ou escravos que viviam na cidade.
Justamente por essa estupenda exportação de cativos era muito importante ser batizado em Luanda com um nome cristão e tê-lo registrado num livro de assento de batismo. Ser identificado nominalmente como cristão (doravante chamados cristãos) não era para todos. Assim como na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, na de Nossa Senhora dos Remédios todas as crianças cristãs foram geradas por mães e/ou pais também cristãos. O nome cristão as diferenciava das “cabeças” e “crias” que seriam remetidas no tráfico atlântico de cativos. Cabeça significava, em geral, um adulto passível de ser traficado, e as crias eram “crianças” comercializáveis. Atentemos, porém, a certas concepções coevas de adulto. O padre da freguesia da Sé anotou que a batizada Catarina era uma “adulta de dez anos pouco mais ou menos”; outro era “já adulto de dez anos pouco mais ou menos natural do Mutemo à Quiguengo”; havia um “adulto de oito anos mais ou menos”, mas todos mais idosos que uma “adulta já de sete anos”37 37 AALNSC, 1771-1786, fls. 221, 248, 286, 286v. . Sendo assim, entre as cabeças poderiam estar incluídos cativos adultos com menos de dez anos. Na freguesia de Nossa Senhora dos Remédios todas as cabeças eram classificadas como “adultos”.
Com efeito, referindo-se a adultos, o termo “cabeça” fazia parte do vocabulário específico do tráfico de cativos, o que também ocorria com o vocábulo “cria”. Ambas as expressões designavam os passíveis de serem comercializados. Como exemplo das palavras usadas no tráfico de cativos, notemos, próximo ao fim dos anos 1760, uma memória construída pelo Marquês de Pombal, primeiro ministro português, para justificar o fim do contrato e do monopólio do comércio de escravos a partir de Luanda. O ministro argumentava que “os contratadores e os jesuítas”, expulsos de Angola em 1759, eram monopolistas associados que oprimiram os “outros negociantes”. Para tal fim os monopolistas “inventaram e introduziram uma forma de despacho de Negros composta das exóticas denominações de peças da índia, moleques, crias em pê, crias de peito &ca”. Assim, os monopolistas pagavam menos direitos tributários por escravos comercializados porque os seus “sempre eram moleques”, ao passo que os “dos outros negociantes” eram denominados de “peças de Índia” (adultos), que chegavam mais caros nos portos do Brasil devido ao peso da tributação. Para combater o abuso, o ministro português pretendeu abolir as “exóticas denominações” do comércio de cativos instaurando um novo vocabulário. Mandou findar o uso do termo “peça da Índia” e determinou que por cada escravo “adulto” se pagasse 8.700 réis, 4.350 réis por “cada cria de pé de quatro palmos para baixo”, e “nada pelas crias de peito”. Para mudar o idioma do “commercio dos negros”, o legislador ainda alegou que os jesuítas não deviam ter a preferência para embarcar no Reino de Angola “setecentas cabeças cada ano”38 38 AHU - Arquivo Histórico Ultramarino. Portugal, Lisboa, Avulsos Angola, Códice 555. Vide também, GUEDES, Roberto. Exóticas denominações: qualidades de cor no Reino de Angola (segunda metade do século XVIII). In: ALMEIDA, Suely et al. (org.). Cultura e sociabilidades no mundo atlântico. Recife: Universitária, 2012. p. 369-398. .
Embora o ministro pretendesse modificar as palavras correntes no comércio de cativos, nem assim abandonou o uso dos termos cabeça e cria, porque a força do costume manteve essas expressões nos negócios de comprar e vender gente. Cabeças e crias, por conseguinte, integravam um repertório do trato negreiro sob legislação da monarquia portuguesa, mas era um vocabulário compartilhado pelos que lidavam com o negócio negreiro em Angola, porque estas duas categorias eram naturalmente usadas no cotidiano do tráfico, quer entre “monopolistas”, quer entre os que o combatiam. Os padres da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios ainda empregavam as palavras cabeça e cria no livro de batismo mais de 20 anos depois do governo pombalino, findado em 1777. Mas eles também davam nomes cristãos para determinados batizados. Esta ambivalência na forma de batizar revela aspectos importantes sobre a escravidão e o tráfico de gente em Luanda.
Havia, de fato, uma nítida diferença entre, de um lado, o batismo de cristãos e, de outro, o de cabeças e crias. Os batismos dos cristãos eram personalizados: informava-se o nome das mães, dos pais, dos padrinhos, das madrinhas, dos senhores, dos procuradores, adicionando os títulos de distinção (dona, capitão etc.). Todos tinham nomes. Em resumo, os batismos de crianças cristãs atestavam o registro de um sacramento e de relações compadrescas. Por sua vez, os batismos de cabeças e crias eram coletivos, envolviam dezenas, às vezes centenas de pessoas sem nome cristão, cabeças e crias, e apenas os nomes de seus donos/mercadores e do padre que fazia o registro. Não havia padrinho nem madrinha, isto é, não havia pais espirituais.
Seriam batismos sem fé, sem efeitos maravilhosos, sem rumo à salvação?
Cabeças e crias receberam o sacramento do batismo na freguesia antes de os mercadores embarcarem-nas para o Brasil. As razões para batizá-las podem ser várias, incluindo o registro da propriedade e o dever moral cristão de salvar almas. Certamente os senhores e os vendedores de gente sabiam da alta mortalidade durante a travessia atlântica39 39 Nada impedia que as crias e cabeças pudessem ser novamente batizadas nas Américas. No Brasil, o batismo de escravos registrava a posse e, como cabeças e crias não tinham nomes, elas seriam novamente batizadas por seus novos senhores. As Constituições permitiam o batismo condicional, isto é, na dúvida do não recebimento do sacramento qualquer pessoa podia ser batizada novamente, sub conditione. e talvez em suas perspectivas o batismo de cabeças e de crias resgatasse as almas a falecer na travessia. Tratava-se mesmo de resgate, porque tráfico era palavra ausente (não a encontramos ainda) para aludir ao comércio de cativos no século XVIII. Geralmente, utilizava-se resgate40 40 Paradigmáticos nesse sentido são as obras do último inquisidor-mor do Reino de Portugal publicadas em fins do século XVIII: COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Análise sobre a justiça do comércio do resgate dos escravos. In: COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Obras econômicas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966. p. xx-yy; e de ROCHA, Manuel Ribeiro da. Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído. Rio de Janeiro, Vozes, 1982 [1754]. de almas, ou carregação no sentido mais mercantil.
Uma vez que cabeças e crias eram termos empregados aos cativos destinados ao tráfico atlântico, é possível que os filhos cristãos de cativas, também nominalmente cristãs, estivessem protegidos da deportação atlântica pelos próprios assentos de batismo, haja vista o simples fato de terem nomes e de pertencerem a senhores luandenses ou que viviam no Reino de Angola41 41 Não deixa de ser curioso que alguns cativos de Luanda se respaldavam em seus senhores até mesmo contra autoridades instituídas. Em 1798, Teixeira, um homem que ocupava cargo português, “asked the slaves to stop the drumming, but they not only refused aggressively but also promised retribuition for previous punishment inflicted on them by Teixeira. According to the official, who was a black man, they called me negro like them and said they would not obey me, since they were slaves of Francisco Inácio, and said they would flog me to take away my pride (xibanca)”. FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit., p. 199-200. . Dito de outro modo, ser batizado em Luanda como filho de escrava significava, além de um aspecto religioso, uma profilaxia social contra a grande e constante ameaça de deportação para o Brasil representada pelo tenebroso comércio de seres humanos. Atravessar o Atlântico como cativo era o que de pior podia acontecer às pessoas que viviam na África Central atlântica, e os escravos luandenses sentiam pavor da deportação42 42 Idem, capítulo 4. .
Sendo a pior das possibilidades, o pavor da passagem forçada para as Américas desequilibrava as relações de poder entre senhores e escravos em favor dos primeiros. Um senhor chegou mesmo a propor que os cativos que se recusassem a labutar nos arimos (fazendas) que abasteciam a cidade de Luanda deveriam ser remetidos para o Brasil, e outro senhor não hesitou em enviar um escravo já batizado para o Brasil como forma de castigá-lo43 43 Ibidem. .
Este episódio revela igualmente que nem sempre o batismo era garantia contra a exportação dos cativos, mas a nomeação cristã também não deixava de ser uma garantia a mais para permanecer em Luanda. Ao menos, o procriar e o batizar davam mais chances de viver permanentemente e criar relações compadrescas na cidade. A própria Efigênia da Silva viveu escrava em Luanda por pelo menos dez anos, período em que ocorreram os batismos de seus filhos. Igualmente teria vivido na cidade uma tal de Domingas Antônio, “preta escrava” de Dona Ana Micaela de Pugas Dantas, posto que dera à luz três filhos entre 1776 e 1780. Não só a mãe e os filhos tocaram a vida em Luanda, mas também o pai de todos os rebentos, José João, “preto escravo” de José da Silva Rego nos dois primeiros registros, mas “preto forro” no último44 44 AALNSC, 1760-1786, p. 156v, 207, 256. . Assim, certamente, muitos pais, mães, filhos, padrinhos e madrinhas escravos presentes nos batismos da freguesia de Nossa Senhora da Conceição e de Nossa Senhora dos Remédios não eram cativos destinados ao resgate atlântico. Portavam nomes; não eram cabeças ou crias. Viveram na cidade onde criaram vínculos sociais compadrio.
Ademais, o batismo definia uma condição social, inclusive de forro ou livre. Vivendo na freguesia de Nossa Senhora da Conceição, zona administrativa da cidade alta, em contato com autoridades luandenses e ciente das cabeças e crias que eram exportadas na zona portuária da cidade baixa, onde se localizava a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios45 45 Sobre a disposição das freguesias e bairros nas partes alta e baixa de Luanda, cf. MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. Configurações dos núcleos humanos de Luanda, do século XVI ao XIX. In: ACTAS DO SEMINÁRIO ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA, 1995, Luanda. Atas […]. Lisboa: CNCDP, 1997, p. 111-225, passim; VENÂNCIO, José C. A economia de Luanda e hinterland no século XVIII: um estudo de sociologia histórica. Lisboa: Estampa, 1996, p. 31-44. PEPETELA. Luandando. Luanda: Elf Aquitaine Angola, 1990, p. 48-61. , Efigênia da Silva talvez soubesse que, em 1801, o governador de Angola Miguel Antonio de Melo declarara em carta que os “livros paroquiais gozam de fé pública, por maneira que pelas certidões deles extraídas se regulam e decidem infinitos negócios eclesiásticos e civis”46 46 CARTA do governador de Angola, de 25 agosto de 1801. Arquivo Histórico Nacional de Angola, cód. 8. . Consoante ao governador, e mesmo sendo alforriada em cartório, foi aos livros paroquiais que ela recorreu para fazer valer seus anseios de liberdade.
4. Uma mola de todo o movimento social
Depois da cerimônia batismal de Ricardo, mas muito antes do pedido de 1811, Efigênia da Silva ainda dera à luz mais três filhos batizados como escravos, em ritos ocorridos em 1777, 1784 e 1785. Por quase onze anos ela foi tida por “parda escrava”, mas todos os irmãos nascidos depois de Ricardo foram alforriados na pia batismal. O mesmo padre Antônio Rodrigues da Costa que escreveu todos os assentos especificou algumas motivações e os modos das alforrias. Para o irmão Vitor, cristianizado em 1777, o reverendo asseverou que o “capitão senhor do menino” lhe dissera, “diante do padrinho e procurador da madrinha”, que lhe dava “perpétua liberdade e que o declarasse neste assento, como lhe dava a liberdade, e que ficasse livre da escravidão como de ventre livre nascesse”. A liberdade devia ser declarada no assento, que valia como documento comprobatório, e por este instrumento as palavras senhoriais se tornaram públicas na presença do padrinho da criança, o já aludido ajudante Lopo de Souza, e do procurador da madrinha dona Luiza Vandune, Miguel Pires Emaus47 47 AALNSC, 1760-1786, p. 126. . Ambos desempenharam papel fulcral como testemunhas da liberdade.
Mas que outros sentidos o batismo e o compadrio eram percebidos pelos escravos?
Na falta de uma descrição precisa da importância das redes de compadrio em Luanda, vale lembrar o relato do escritor Manoel Antônio de Almeida, nativo de uma cidade - o Rio de Janeiro - que nutria laços viscerais com Luanda. Segundo Almeida, junto com o chamado “empenho”, definido como dedicação às relações sociais pessoalizadas, o compadresco formava “uma mola real de todo o movimento social”48 48 ALMEIDA, Manuel Antonio de. Memória de um sargento de milícias. São Paulo: Ática, 1985, p. 9, 126. . Destarte, o compadrio oferecia um arcabouço para relações sociais em uma sociedade com fragilíssimas instituições estatais - inclusive eclesiásticas49 49 Especificamente para Luanda, cf. SANTOS, Maria Emília Madeira. África; Angola… Op. Cit. p. 21-25, 51-67. REGINALDO, Lucilene. Rosários dos Pretos… Op. Cit. p. 123-151; MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequético… Op. Cit. -, que ainda não separava totalmente a religião, a religiosidade e o afeto da vida política, econômica e social. Nesse tipo de sociedade, relações sociais eram criadas, recriadas e ritualizadas no compadrio, o que não escapou a Efigênia da Silva. Ela (e talvez um mesmo pai incógnito) reatualizou laços sociais compadrescos com dona Luiza Bonine em 1775 e 1785, isto é, mais de dez anos de empenho. Por sua vez, o ajudante Lopo de Souza, quase dois anos depois do batismo de Ricardo em 1775, de novo se enlaçou ritualmente com Efigênia da Silva. Este compadre que apadrinhou dois de seus filhos ocupava importantes postos militares50 50 Trata-se do posto de ajudante do regimento pago. Cf. PADAB - Projeto Digital Angola Brasil. Arquivo Histórico de Angola, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Códice 309-C-21. Cartas e Patentes, 14/02/1772-21/11/1772. 35 fls. Em 1794, Lopo de Sousa também ocupou os cargos de capitão de guarda de governador e capitão regente do presídio de Novo Redondo. PADAB, Códice 273-C-15-2, Portarias do governo com ordens e instruções. 7/10/1790-31/07/1797. Fora capitão-mor do distrito do Icolo por volta de 1783. Cf. AHU. Portugal, Lisboa, Avulsos Angola, cx. 67, doc. 31, 34. e, das suas três comadres, duas eram donas51 51 Sobre a importância das donas em cidades escravistas na América portuguesa, em Angola e em Moçambique, ver CAPELA, José. Donas, senhores e escravos. Porto: Afrontamento, 1995; OLIVEIRA, Maria Inês. O liberto: o seu mundo e os outros, Salvador: 1790-1890. Salvador: Corrupio, 1988; RAMOS, Donald. A mulher e a família em Vila Rica do Ouro Preto: 1754-1838. In: NADALIN, Sérgio Odilon et al. (org.) História e população: estudos sobre a América Latina. São Paulo: Abep, 1990. p. 154-163; PANTOJA, Selma. A dimensão atlântica das quitandeiras. In: FURTADO, Júnia (org.). Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p. 45-67; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João del-Rey (1700-1850). 2004. Tese (Professora titular em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004; PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001; OLIVEIRA, Vanessa S. The Donas of Luanda, c. 1770-1867: from Atlantic slave trading to “legitimate” commerce. 2016. Dissertation (Doctor of Philosophy) - York University, Toronto, 2016, capítulo 3. , entre elas Luiza Vandunem, que provavelmente descendia de uma tradicional família luandense seiscentista52 52 Sobre os Vandunem, a referência historiográfico-literária continua sendo PEPETELA. A gloriosa família: o tempo dos flamengos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. Cf. também, sobre a cidade de Luanda, PEPETELA. Luandando… Op. Cit. Sobre a literatura histórica de Pepetela, cf.: DUTRA, Robson. Quem tem medo de história? Os romances de Pepetela e a cartografia de Angola. In: CAMPOS, Adriana; SILVA, Gilvan V. da (org.). Da África ao Brasil: itinerários históricos da cultura negra. Vitória: Flor e Cultura, 2007. p. 275-291. .
Sendo assim, diferente de um contexto historiográfico de quase três décadas atrás, em que, por exemplo, John Thornton afirmou que a uma “estória completa do impacto do tráfico de africanos escravizados sobre as mulheres estaria além das informações disponíveis nas fontes” primárias53 53 THORNTON, John K. Sexual demography: the impact of the slave trade on family structure. In: ROBERTSON, Claire; KLEIN, Martin (ed.). Women and slavery in Africa. Madison: University of Wisconsin Press, 1983, p. 46. , pode-se hoje, felizmente, compreender a atuação de mulheres como Efigênia da Silva em diálogo com vários estudiosos de Angola, incluindo Selma Pantoja, Mariana Candido e Vanessa de Oliveira, cujos trabalhos têm explorado múltiplos aspectos da participação feminina nas sociedades costeiras de Luanda e de Benguela, valendo-se inclusive de registros paroquiais54 54 PANTOJA, Selma. Laços de afeto e comércio de escravos: Angola no século XVIII. Cadernos de Pesquisa do CDHIS, Uberlândia, v. 23, n. 2, p. 375-389, 2010; CANDIDO, Mariana P. African women in ecclesiastical documents, Benguela, 1760-1860. Social Sciences and Missions, Leiden, v. 28, n. 3-4, p. 235-260, 2015; CANDIDO, Mariana P. Concubinage and slavery in Benguela, c. 1750-c. 1850. In: OJO, Olatunji; HUNT, Nadine (ed.). Slavery in Africa and the Caribbean: a history of slavement and identity since the 18th century. London: New York: I. B. Tauris, 2012. p. 65-84; OLIVEIRA, Vanessa S. The Donas of Luanda… Op. Cit., capítulo 3. .
Com certeza, uma dessas formas de atuação se efetivou a partir dos batismos que engendraram vínculos compadrescos. Assim, a outro rebento da parda escrava Efigênia da Silva, a “criança Maria”, o seu senhor, o mesmo Álvaro de Carvalho Matozo, então capitão de granadeiros, deu em 1784 “perpétua liberdade e alforria por receber por seu resgate dos padrinhos” a quantia de 38.400 réis. Nesta ocasião, serviram de padrinho e madrinha Libério Ferreira e Antônia Maria de Santana55 55 AALNSC, 1760-1786, p. 168, 346. Não há numeração de página para o batismo de Antônio, mas a data é 29/07/1785. . Novamente, compadre e comadre participaram decisivamente da libertação de seus afilhados, ainda que não saibamos se pagaram por ela.
Mais do que acesso à liberdade, Efigênia da Silva e seus compadres e comadres se enredaram em uma teia de múltiplos significados parentais e comunitários forjados pelo compadrio. Desconhecemos se ela, como escrava, levou seus filhos ao batismo por imposição senhorial ou por quaisquer outras razões. Como o nível de conhecimento sobre tais aspectos do batismo e compadrio em Luanda ainda é incipiente, vale a pena comparar suas experiências, inclusive de alforria na pia, com as de cativos que viveram em uma sociedade de base católica, o Brasil, por causa do vínculo visceral entre Brasil e Angola durante a Era Moderna56 56 Cf. MILLER, Joseph C. Way of death… Op. Cit.; FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995; ALENCASTRO, Luís Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; SILVA, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: UFRJ, 2003; FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit. . Na outra margem, escravos frequentemente escolhiam os padrinhos de seus filhos57 57 FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento… Op. Cit. , mas, se houvesse conflitos senhoriais, vedava-se o compadrio entre seus respectivos cativos58 58 VARGAS, Eliseu J. Escravidão no vale do café: vassouras, senhores e escravos em 1838. Curitiba: Appris, 2015. . Senhores, aliás, raramente apadrinhavam seus mancípios59 59 Cf. perspectivas diferentes sobre o assunto em GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original… Op. Cit., p. 33-59; e GRAHAM, Sandra L. Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 69-75. . Porém, seus filhos e demais parentes frequentemente cumpriam este papel60 60 BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São João Del Rei: séculos XVIII-XIX). São Paulo: Annablume, 2007, capítulo 4; GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798-c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad: Faperj, 2008, cap. 5; FRAGOSO, João. Capitão Manuel Pimenta Sampaio, senhor do engenho do Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de João Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia social costumeira: Rio de Janeiro, 1700-1760. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (org.). Na trama das redes: política e negócio no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 200-245; FRAGOSO, João. Elite das senzalas e nobreza principal da terra numa sociedade rural de Antigo Regime nos trópicos: Campo Grande (Rio de Janeiro), 1704-1740. In: FRAGOSO; João; GOUVÊA, Maria de Fátima (org.). O Brasil colonial, 1720-1821. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. v. 3, p. 241-306 . Ainda assim, o compadrio escravo podia fortalecer laços entre parceiros de cativeiro61 61 MATTOSO, Kátia Mytilineou de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982; GÓES, José Roberto. O cativeiro imperfeito. 1993. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1993. , mas também hierarquizar os mancípios62 62 SLENES, Robert. Senhores e subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.) História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. v. 2, p. 233-290. e ampliar as redes entre livres e forros63 63 RIOS, Ana Lugão. Família e transição. 1990. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1990; GUEDES, Roberto. Na pia batismal: família e compadrio entre escravos na freguesia de São José do Rio de Janeiro (Primeira Metade do Século XIX). 2000. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000; FARINATTI, Luis Augusto. Os escravos do Marechal e seus compadres: hierarquia social, família e compadrio no Sul do Brasil (c. 1820-c. 1855). In: XAVIER, Regina Célia Lima (org.). Escravidão e liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise. São Paulo: Alameda, 2012. p. 143-177; FARINATTI, Luis Augusto. Padrinhos preferenciais e hierarquia social na fronteira sul do Brasil (1816-1845). In: GUEDES, Roberto; FRAGOSO, João (org.). História social em registros paroquiais (Sul-Sudeste do Brasil, séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Mauad X, 2016. p. 102-128; MATHEUS, Marcelo dos Santos. A produção da diferença: escravidão e desigualdade social ao Sul do império brasileiro (Bagé, 1820-1870). 2016. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016, capítulo 4. . Em síntese, nada era absoluto no compadresco atlântico.
Todavia, ainda que nada fosse absoluto no compadrio, até certo ponto Efigênia da Silva era uma exceção entre as cativas de Luanda porque pouquíssimas mães escravas viram seus filhos receberem alforria no ato do batismo. Precisamente, das 1.587 almas inocentes batizadas na freguesia da Sé de Luanda entre 1770 e 1786, apenas 61 (3,8%) foram agraciadas com alforria batismal. Talvez por isso, para reforçar sua condição de livre, bem como a de Ricardo, a própria Efigênia da Silva afirmou ser alforriada por “escritura”, referindo-se, evidentemente, às escrituras de liberdade cartorial, ou cartas de alforria, que eram os documentos de doação de liberdade mais comuns em paragens escravistas citadinas das Américas64 64 MATTOSO, Kátia Mytilineou de Queirós. A propósito das cartas de alforria: Bahia (1779-1850). Anais de História, [s. l.], n. 4, p. 23-52, 1972; SCHWARTZ, Stuart. The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745. Hispanic American Historical Review, Durham, v. 54, n. 4, p. 603-635, 1974; EISENBERG, Peter. Homens esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil (séculos XVIII e XIX). Campinas: Editora da Unicamp, 1989; DE LA FUENTE GARCÍA, Alejandro. Alforria de escravos em Havana, 1601-1610: primeiras conclusões. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 139-159, 1990, p. 142; OLWELL, Robert. Becoming free: manumission and the genesis of a free black community in South Carolina, 1740-1790. Slave and Abolition, Abingdon-on-Thames, v. 17, n. 1, p. 1-19, 1996; FLORENTINO, Manolo. Alforrias e etnicidade no Rio de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa. Topoi, Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, p. 9-40, 2002; FLORENTINO, Manolo. Sobre minas, crioulos e liberdade costumeira no Rio de Janeiro, 1789-1871. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 331-366; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. A produção da liberdade: padrões gerais das manumissões no Rio de Janeiro colonial, 1650-1750. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileiro, 2005, p. 287-329; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás pretas… Op. Cit.; GÓES, José Roberto. Padrões de alforria no Rio de Janeiro, 1840-1871. In: CAMPOS, Adriana et al. (org.). Nas rotas do império. 2. ed. Vitória: Edufes; Lisboa: IICT, 2014. p. 477-526. . Como Efigênia da Silva se reportou à liberdade cartorial, tal tipo de documento de liberdade também devia ser comum em Luanda, embora ainda não tenha sido localizado por nós no caso do século XVIII65 65 Há escrituras de liberdade para Luanda do século XIX. Cf. FERREIRA, Roquinaldo. Slavery and the social… Op. Cit. p. 202, 317. Para outras searas no Brasil, geralmente ermos rurais, tendiam a prevalecer alforrias testamentais. Cf. MATTOSO, Kátia Mytilineou de Queirós. Testamentos de escravos libertos na Bahia no século XIX. Salvador: UFBA: Centro de Estudos Baianos, 1979; OLIVEIRA, Maria Inês Cortez. O liberto: o seu mundo e os outros, Salvador: 1790-1890. Salvador: Corrupio, 1988, passim; DAMÁSIO, Adauto. Alforrias e ações de liberdade em Campinas na primeira metade do século XIX. 1995. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995, p. 9-13; PAIVA, Eduardo França, Op. Cit., passim; FARIA, Sheila de Castro. Mulheres forras: riqueza e estigma social. Tempo, Niterói, v. 5, p. 65-92, 2000; GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro… Op. Cit., capítulo 4. . Mas talvez houvesse formas específicas de alcançar a alforria na cidade, pois, ao menos desde 1690, havia o posto de “intérprete e inquiridor das causas das liberdades”, também chamado de “adjunto intérprete e inquiridor do juízo dos mocanos e causas de liberdades dos escravos [ou dos pretos] deste Reino”66 66 AHU, Angola, cx. 37, doc. 88. .
Ora, a princípio não haveria razão para alforriar na pia quem já era filho de mãe forra e por isso há dúvidas sobre os motivos de Efigênia da Silva e seus filhos continuarem registrados como escravos nos batismos, uma vez que ela já desfrutaria de documento cartorial de liberdade antes mesmo do batismo de seus filhos. Porém, perante a constante ameaça de ser deportada para o Brasil via tráfico atlântico de cativos, inclusive suas crias, fazia todo sentido querer alforriar as crianças na pia. No caso de Ricardo, porém, em 1811, não se pode descartar a possibilidade de que ela estivesse mentindo sobre sua liberdade, porque este filho era o único não alforriado no batismo. Contudo, o mais importante é que, mentindo ou não, ao pedir para apagar no assento batismal a nota de escrava, ela confirma que o documento religioso com foro civil atestava uma condição civil. Igualmente, o documento até reforçava ou complementava a liberdade cartorial. Se for o caso, para ela, o batismo se sobrepunha ao papel cartorial como instância comprobatória da condição jurídico-social.
No entanto, embora também aludisse à liberdade de Ricardo, o foco do pedido de Efigênia da Silva recaiu sobre si mesma. Valeu-se assim do princípio de mater certa pater incertus, o mesmo que vigorava no Brasil. O princípio embasava seu argumento de que, sendo ela forra, “muito menos” Ricardo seria escravo, e muito menos ainda o seriam os irmãos que nasceram depois dele. Assim, as alforrias de pia batismal dos irmãos perante as testemunhas compadrescas consolidaram a condição civil de livre de todos os membros da família porque o registro do sacramento a tornava pública e registrada.
Contudo, as alforrias de pia não eram acessíveis à maioria dos filhos de escravas.
Nesse sentido, as alforrias dos filhos de Efigênia da Silva se aproximam muito, por serem pouquíssimas, das de outras cidades escravistas do mundo atlântico americano, do litoral e do interior. Por exemplo, na vila interiorana de Porto Feliz, capitania/província de São Paulo, entre 1807 e 1860, em 7.894 registros de batismo de brancos e livres foram registradas apenas 29 (0,36%) alforrias de pia. Já nos 3.889 registros de batismos de escravos entre 1831 e 1887, somente quatro (0,1%) assentos aludem à liberdade batismal. Logo, houve apenas 33 (0,3%) alforrias de pia em 11.783 batismos de inocentes. Outros trinta (0,3%) registros estavam sem efeito e em quinze destes batismos foram acrescidas observações como vai ao livro dos livres e brancos, vai para o livro competente etc.67 67 GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro… Op. Cit., capítulo 4. , demonstrando os erros percebidos e lançados em livros batismais68 68 Em Luanda, na freguesia da Sé, não há livros de batismos separados para livres e forros, de um lado, e escravos, de outro. No Brasil, cabe sublinhar que, comumente, “na passagem de escravo a forro deve-se não apenas conseguir a liberdade, mas também passar de um livro a outro. Pode-se ser forro no livro dos escravos ou no livro dos brancos, o que, além de registrar a liberdade, abre as portas para o ‘embranquecimento’”. SOARES, Mariza de Carvalho. Descobrindo a Guiné no Brasil colonial. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 161, n. 407, p. 84-85, 2000. Por isso, frequentemente os livros de livres também eram chamados de livros de brancos. Cf. GUEDES, Roberto. Livros paroquiais… Op. Cit. . O erro no batismo de Ricardo foi denominado por Efigênia da Silva como “caso de engano”. Entretanto, nem mesmo adicionando-os se elevariam significativamente os índices de alforria batismais em Luanda.
A exiguidade também se observa na freguesia de São Salvador de Campos dos Goitacases, capitania/província do Rio de Janeiro, onde ocorreram, entre 1753 e 1831, as liberdades batismais em meros 1,9% dos batismos de inocentes livres e escravos69 69 SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos em Campos dos Goitacases, c. 1750-c. 1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p. 105. . Nas freguesias rurais de Inhaúma, entre 1821 e 1825, e de Jacarepaguá, entre 1800 e 1870, ambas na cidade do Rio de Janeiro, as manumissões de pia apequenaram-se, respectivamente, em 2,6% e 2,3% dos assentos70 70 LIMA, Lana Lage da Gama; VENÂNCIO, Renato Pinto. Alforria de crianças escravas no Rio de Janeiro do século XIX. Revista Resgate, Niterói, v. 2, n. 1, p. 26-39, 1991, p. 30. . Na vila de São João del-Rei, Minas Gerais, as lançadas na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar correspondiam a ínfimos 2,4% entre 1751 e 185071 71 SILVA, Cristiano Lima da. “Como se Livre Nascera”: alforria na pia batismal em São João del Rei (1750-1850). 2004. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004, p. 40. . Na litorânea cidade de Parati, província do Rio de Janeiro, houve apenas 27 liberdades de pia entre 1811 e 182272 72 KIERNAN, James Patrick. The manumission of slaves in colonial Brazil: Paraty, 1789-1822. Nova York: NYP, 1976, p. 195-197. .
Em suma, assim como em Luanda, as alforrias batismais no mundo atlântico eram irrisórias. Provavelmente os altos índices de mortalidade neonatal e infantil desencorajassem parentes e senhores a darem liberdade a batizados na pia, tendência que na freguesia de Nossa Senhora da Conceição vigorou pelo menos até 180773 73 De 1778 a 1807, houve apenas 166 alforrias de pia assinaladas em 3.300 registros de batismo. CURTO, José C. As if from a free womb: baptismal manumissions in the Conceição Parish, Luanda, 1778-1807. Portuguese Studies Review, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 26-57, 2002, p. 36-37. . Em vista destas considerações, as alforrias batismais dos filhos de Efigênia da Silva são exceções normais74 74 Sobre o excepcional normal, cf. GINZBURG, Carlo. A micro-história… Op. Cit. porque acompanham o padrão geral desse tipo de acesso à liberdade. Mas a parca frequência desta modalidade de libertação não nos leva a afirmar, a princípio, que a alforria era “quantitatively negligible”75 75 CURTO, José C. As if from a free womb… Op. Cit., p. 26. na Luanda setecentista, porque pelo menos 22% (ou uma em cada cinco) das mães da paróquia de Nossa Senhora da Conceição eram forras (Quadro 4), infra).
5. Nomes, sobrenomes, escravidão e liberdade
Há, ainda, outras “excepcionalidades” normais de Efigênia da Silva. Ela era identificada com nome e sobrenome, algo muito diferente da maioria das mães escravas registradas apenas com um nome ou muito mais frequentemente com nome composto: Maria Antônio, Teresa Domingos, entre outras. Quando os nomes das cativas eram compostos, o segundo nome era majoritariamente de flexão masculina, como “Isabel João”, “preta escrava” de um capitão-mor76 76 AALNSC, 1760-1786, 06/06/1786. Quando não houver página, a data de batismo serve de referência. . Esta maneira de nomear sublinhava diferenças sociojurídicas importantes nos assentos de batismo de Luanda porque 84,4% das mães cativas eram reconhecidas pelo segundo nome masculino, proporção próxima a das forras, com 82,5% (Quadro 4).
Tipos de nomes das mães de batizados por condição jurídica das mães (Nossa Senhora da Conceição, Luanda, 1770-1786)
Na liberdade, a situação se invertia porque poucas vezes (11,7%) as mães livres eram reconhecidas com nomes compostos masculinizados (Quadro 1). Para 73,7% das mães livres predominou o reconhecimento social pelo sobrenome. Assim, em termos de nome e sobrenome, Efigênia da Silva era mais parecida com mulheres livres, porque apenas sessenta (4%) cativas tinham sobrenome. Provavelmente, além de ver filhos libertos na pia e de receber alforria cartorial, ela estava ciente de que era reconhecida com nome de gente livre, justificando que em seu requerimento de muitos anos depois tenha pedido para corrigir somente a nota que dizia escrava, e não seu nome e sobrenome.
Historiadores têm se dedicado às práticas de nomeação77 77 Sobre práticas de nomeação a partir de registros paroquiais, cf.: FLORENTINO, Manolo; GÓES, José R. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico: Rio de Janeiro, 1790-1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997; GUEDES, Roberto. Na pia batismal… Op. Cit.; GUEDES, Robert. Egressos do cativeiro… Op. Cit.; THORNTON, John K. Central African names and African-American naming patterns. The William and Mary Quarterly, Williamsburg, v. 50, n. 4, p. 727-742, 1993, p. 737; CURTO, José P. As if from a free womb… Op. Cit. . Por exemplo, José Curto observou a diferenciação entre nomes e condição jurídico-social em Luanda de 1778 a 1807, guardando o mérito de ser um dos primeiros a analisar a questão em Angola. No entanto, considerou apenas os “single name”, os “full” e os “double given names” e não atentou para a flexão masculina do segundo nome composto de escravas e forras78 78 CURTO, José P. As if from womb… Op. Cit., p. 441 e ss. . Por sua vez, John Thornton, também um dos pioneiros em estudos sobre as práticas de nomeação, afirmou que os “cativos eram conhecidos por usarem só um nome, mas a obtenção da liberdade era motivo para que [os egressos do cativeiro] adotassem um segundo nome”79 79 THORNTON, John K. Central African names… Op. Cit., p. 737; CURTO, José P. As if from a free womb… Op. Cit. . Todavia, na Luanda setecentista, os cativos, mesmo não alforriados, já usavam um segundo nome, pelo menos nos registros paroquiais.
É deveras importante esclarecer que ninguém era batizado com sobrenomes. Nos registros de batismo, os batizados só recebiam um prenome: João, Maria, Mariana, Ricardo etc. Isto também valia para livres, escravos e forros em várias partes da América portuguesa80 80 HAMEISTER, Martha D. Para dar calor à nova povoação: estudo sobre estratégias sociais e familiares a partir dos registros batismais da Vila do Rio Grande (1738-1763). 2006. Tese (Doutorado em História Social) -Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, capítulo “O segredo do pagé”. ; e, especificamente na Angola setecentista, ninguém era batizado com nome composto. Logo, é preciso considerar que as identidades nominais eram socialmente construídas ao longo da vida das pessoas, obedecendo a aspectos de ordem familiar, social, de poder etc.81 81 Ibidem. Segundo Russel-Wood, ser “capaz de escolher o próprio sobrenome” propiciava “à pessoa que faz a escolha um substancial fardo psicológico e emocional”, porque esta opção abria “as cortinas das janelas do eu interior” da pessoa. Nesse sentido, a pesquisa das práticas de escolha do sobrenome guarda “o potencial de revelar valores, prioridades e desejos” de “como um africano ou afro-brasileiro, escravo, alforriado ou nascido livre, via a si mesmo e como era a identidade que desejava que os outros reconhecessem”. As práticas de escolha do sobrenome levam o historiador “àquela parte do indivíduo que não é revelada pelos códices e pode conter a chave da compreensão de como um escravo ou liberto de cor gostaria de ser identificado”82 82 RUSSEL-WOOD, Antony J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 344. . Há que se acrescentar, porém, que a escravidão impôs referências hierárquicas de valores nas práticas de nomeação em Luanda, o que se constata pelos diferentes tipos de nomes, principalmente os das mães livres que tinha o sobrenome como diferenciador social. A “opção” por determinado tipo de nome se dava em uma sociedade escravista impactada pelo comércio de cativos e implicava poder ou submissão.
Considerando a prática de nomeação socialmente condicionada, não se deve passar despercebido que Efigênia da Silva fora registrada com o mesmo nome e sobrenome em todos os batismos de seus filhos, entre 1775 e 1785, e também quando de sua petição em 1811. Pela recorrência e longevidade de como se percebia e era reconhecida, ela se via de modo distanciado das escravas masculinizadas pelo segundo nome. Daí que ela nem tenha requerido que corrigissem sua identidade nominal no assento de batismo, mas apenas a “nota que diz escrava”. Seu nome e sobrenome, o segundo nome masculino dos escravos e forros e os sobrenomes dos livres eram construções sociais reveladas nos registros de batismo, quer se tratasse de mães, pais, padrinhos, madrinhas, senhores, senhoras, escravos, escravas, forros, forras, procuradores, procuradoras, e até de padres que redigiam os assentos.
As diferentes formas de nomear evidenciam que à condição jurídica correspondiam, tendencialmente, identidades nominais personalizadas cujos significados e reconhecimento todos deviam saber. Isto alicerçava ainda mais a hierarquia jurídico-social baseada na escravidão, porque os próprios nomes e sobrenomes enunciavam o lugar na hierarquia escravista. As escravas e as que viveram experiências cativas (ou eram tidas por forras, uma espécie de estatuto social em certos casos83 83 Nem sempre a palavra forro significava que e pessoa fora escrava anteriormente. Poderia ser uma espécie de estatuto social, no caso dos chamados de “pretos forros Maxiluanda”. GUEDES, Roberto; CARVALHO, Ariane. Muxiluandas: memória política, escravidão perpétua, alforria e parentesco (Luanda, século XVIII) [S. l.: s. n.], [2021]. No prelo. ) não eram designadas do mesmo modo que as livres sem nomes masculinos e com sobrenomes. Isto era importante porque havia um enunciado nominal revelador sobre a condição jurídica das mães livres nos livros de batismo. Bastava proferir o nome de alguém para saber seu lugar social. Por esta razão, nos assentos quase não se dizia, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição84 84 Isto é diferente da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Frequentemente, usa-se “preta livre” ou “parda livre”, ou apenas “livre”, para aludir às alforriadas. Nesta freguesia, quase não se empregou a palavra forra. Por outro lado, o silêncio também atestava a condição de nascida livre (ingênua) das mães, não das forras. , se alguém era livre, palavra muito pouco usada; era como se a condição jurídica de liberdade fosse tacitamente compreendida pelos nomes e sobrenomes das mães livres. Por exemplo, em 1773 um padre batizou as gêmeas de “Dona Páscoa Maria de Ornelas e Vasconcelos” sem a necessidade de afirmar que a mãe era livre, pois ainda ostentava o título de dona antes de seus pomposos nome e sobrenome.
Por seu turno, escravas e forras não só tinham o nome composto masculinizado, mas sua identificação era acompanhada do registro das qualidades preta ou parda (parda forra, preta forra, parda escrava, preta escrava) e da condição jurídica de “forra” ou “escrava”, condições e qualidades escritas antes ou depois da grafia de seus nomes compostos. Ana Paulo, “preta escrava de Dona Sofia da Conceição Matoso”85 85 AALNSC, 1770-1786, fl. 293v. , é um bom exemplo de como nomes compostos, qualidade de cor, estatuto jurídico e ser propriedade de alguém eram simbólica e encarnadamente aspectos inscritos nas mulheres cativas e, exceto pela pertença a outra pessoa, nas forras.
A nomeação diferenciava, em suma, cabeças e crias dos cativos e forros cristãos que residiam na cidade e, igualmente, enunciava a liberdade. Por tudo isso, nos batismos de seus quatro filhos, Efigênia da Silva era quase uma contradição em termos, pois era “parda escrava” com sobrenome de livre, de modo que ela mesma mandou corrigir a nota que dizia escrava.
Contudo, apesar de encarnar uma contradição, ela não era preta. Isto fazia diferença porque 940 mães cativas foram identificadas com esta qualidade de cor, e apenas 33 (3,5%) como pardas, entre as quais uma era fusca e não se atribuiu qualidade às demais escravas. Isto denota que a qualidade de cor da escravidão nos batismos era preta, predominantemente. É certo que havia mais pretas entre as forras (320) do que pardas (38). Porém, a maioria das pardas era forra. Não à toa, entre as pardas forras havia dezenove mães com sobrenome e quatro com nomes compostos femininos. Ou seja, havia uma tendência, se a mulher fosse parda forra, de que seus nomes se diferenciassem da maioria das pretas escravas, e mesmo das pretas forras. Das 320 pretas forras, apenas 21 (6,5%) não tinham nomes compostos masculinizados.
Nesse sentido, em termos de identidade nominal escravista, as pardas forras, e às vezes até pardas escravas como Efigênia da Silva, pareciam mais com as livres. Mas as pardas forras estavam hierarquicamente aquém das últimas. Entre 67 nomeações de mães com o título de dona, todas livres, 65 receberam sobrenome(s). As demais tinham sobrenome composto, mas com declinação feminina no segundo nome. Na verdade, tratava-se de uma mesma mulher, Ana Joaquina. Era casada com o sargento-mor engenheiro Luiz Cândido Pinheiro Cordeiro Furtado, com quem tivera dois filhos, um apadrinhado em 1776 pelo coronel do regimento pago João Monteiro de Moraes. O outro, batizado em 1774, recebera os santos óleos “no oratório do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Dom Antonio de Lencastre, governador e capitão general deste reino”. Dona Ana Joaquina não precisava de sobrenomes por ser muito bem aparentada: seu nome era Ana Maria Joaquina, às vezes reconhecida sem o Maria, mas sempre tida por Dona.86 86 Ainda, o doutor físico-mor José Catela de Lemos, avô dos batizados, serviu de padrinho duas vezes, mas não sabemos se era avô paterno ou materno. AALNSC, 1770-1786, fls. 55, 91v, 111, 141v, 180v, e 08/08/1785.
Meio termo entre as livres e as pretas escravas e ciente da importância de sua identidade social, Efigênia da Silva sabia que um sobrenome indicava certo distanciamento da escravidão, o que lhe era muito bem-vindo. O filho de Efigênia era apenas Ricardo quando foi registrado em 1775, mas em 1811 chamava-se Ricardo Guillo Andrade. Não é difícil imaginar que a construção do sobrenome Andrade, muito corrente em Luanda, e mesmo o Guillo, distinguisse sua posição social. Provavelmente, na petição Efigênia se referiu propositalmente ao nome completo de Ricardo, com sobrenome Andrade. Reparando bem, o nome do procurador da comadre de Efigênia, aquela com a qual ela permaneceu ligada por dez anos, era Francisco Matozo de Andrade. Tudo indica que o sobrenome adicionado à personalidade de Ricardo venha daí, mas talvez também derive de seu senhor, Álvaro de Carvalho Matoso. Este senhor de Efigênia da Silva fora uma vez descrito com o sobrenome Andrade, Álvaro Carvalho de Matoso Andrade, mas sempre ocupando postos militares de capitão, capitão de granadeiros ou ajudante de ordens.87 87 AALNSC, 1770-1786, fl. s/n, data 11/06/1786. Neste batismo consta o sobrenome senhorial Andrade. Demais referências: fls. 125, 126, 136 v, 168, 294v, 305v, 337, 339 e 346, e datas 28/09/1785 e 25/09/1785. Quando não há numeração de página a data serve de referência para localização. Provavelmente, como acontecia no Brasil, por exemplo, forros podiam carregar consigo sobrenomes senhoriais como forma de distinção e estratégia de mobilidade social.
Em suma, em registros de batismo de uma sociedade com valores escravistas as práticas de (auto)nomeação atestam liberdade ou escravidão, vínculos de dependência e relações de poder. Talvez a flexão masculina do segundo nome das mulheres, incorporado às cativas no percurso da vida, indique a família senhorial, seus laços com homens ou uma prática cultural corrente plena de significados hierárquicos socialmente compartilhados, hipóteses não excludentes. O filho de Efigênia da Silva era um Andrade, sobrenome de livre, talvez herdado de seu senhor e/ou da rede relacional compadresca reconhecida na cidade de Luanda.
6. Livres, escravas, filhos ilegítimos e mulheres alforriadas
Sem pretender contrapor rigidamente realidades urbanas e rurais, a de condição escrava em um ambiente urbano, como analisada por autores como João Reis e Mary Karash, entre outros, guarda peculiaridades88 88 KARASCH, Mary. Slave life in Rio do Janeiro, 1808-1850. Princeton: Princeton University Press, 1987; REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; GUEDES, Roberto. Autonomia escrava e (des)governo senhorial na cidade do Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005. p. 229-283. Para as múltiplas formas de escravidão na África, cf. entre tantos outros, MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravidão: o ventre de ferro e dinheiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995; STILWELL, Sean. Slavery and slaving in African history. Cambridge: Cambridge University Press, 2014; CAMPBELL, Gwyn (ed.). Structure of slavery in Indian Ocean, Africa, and Asia. Portland: Frank Cass, 2004. MEMEL-FÔTE, Harris. L’esclavage dans les sociétés lignagères de l’Afrique noire: exemple de la Côte d’Ivoire précoloniale, 1700-1920. 1988. Thèse (Doctorat d’État en Lettres et Sciences Humaines) -École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1988; SEBESTYÉN, Éva. Escravização, escravidão e fugas na vida e obra do viajante-explorador húngaro László Magyar: Angola, meados de século XIX). In: GUEDES, Roberto; DEMETRIO, Denise; SANTIROCHI, Italo (org.). Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola (século XVII-XIX). Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. p. 291-311. . Havia a possibilidade, ainda que remota, de transitar entre a escravidão e a liberdade, porque a alforria foi realidade de não poucos cativos. E não deixa de ser curioso que o acesso à liberdade não necessariamente passasse pela adoção de valores cristãos, apesar do nome batismal. Na verdade, como lembrado, Luanda era uma cidade marcada por um amálgama de valores religiosos e culturais onde o que sobressaía era o lado africano - aliás, manifesto até por membros da elite local. Que parâmetros, portanto, davam referenciais de liberdade em Luanda?
Antes de tudo, não era sempre necessário estar casada para receber alforria, visto que havia amplos limites para a introjeção de valores morais cristãos, pois o cristianismo era filtrado por cativos, forros e senhores luandenses de acordo com suas conveniências. O batismo não alterou significativamente a vida parental, familiar, as práticas sexuais e a acepção de maternidade da maioria das pessoas que vivia em Luanda. Efigênia da Silva, além de não ser casada, como a maior parte das mulheres cativas da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, quase não tivera o pai de seus filhos nomeados nos batismos. Como ela, grande parte das mães cativas não era casada devido aos limites da imposição religiosa e cultural cristã e aos entraves econômicos para a adoção do casamento católico na cidade89 89 O mesmo se observa entre mulheres escravas em Benguela. CANDIDO, Mariana P. African women… Op. Cit.; CANDIDO, Mariana P. Concubinage and slavery… Op. Cit. .
No entanto, frequentemente os padres anotavam os nomes dos pais de filhos naturais nos livros de batismo. A nomeação dos pais (progenitores masculinos) confirma, destarte, o reconhecimento social da paternidade mesmo fora da norma católica90 90 Este reconhecimento distingue a Luanda setecentista das paróquias seiscentistas de Itaparica e Paripe, na Bahia, mas se assemelha à cidade do Rio de Janeiro ou de Campos dos Goytacazes até meados do século XVIII. Cf. KRAUSE, Thiago. Compadrio e escravidão na Bahia Seiscentista. Afro-Ásia, Salvador, v. 50, p. 199-228, 2014, p. 206; FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento… Op. Cit.; FRAGOSO, João. Apontamentos para uma metodologia em história social a partir de assentos paroquiais: Rio de Janeiro, séculos XVII-XVIII. In: FRAGOSO João; SAMPAIO, Antonio C. Jucá de; GUEDES, Roberto. Arquivos paroquiais e história social na América lusa, séculos XVII e XVIII: métodos e técnicas de pesquisa na reinvenção de um corpus documental. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 19-126. , porque a nomeação dos pais de filhos naturais foi a mais frequente forma de atestação da paternidade de seus filhos (Quadro 5). Assim, antes de indicar desconhecimento da figura paterna, a ausência do nome paterno no assento podia derivar da tentativa de evitar questões sucessórias91 91 Frequentemente, registros paroquiais eram anexados a documentos de transmissão de herança, mas não apenas, em processos envolvendo portugueses falecidos em Luanda. Cf. vários exemplos em Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Coleção Feitos Findos, África. e, mais ainda, da prevalência de práticas sexuais africanas. No segundo caso, para mencionar apenas um exemplo, entre 1775 e 1783 Simão Mateus, preto escravo da irmandade de Nossa Senhora da Conceição, foi registrado como pai de filhos naturais tidos com quatro mães escravas diferentes92 92 AALNSC, fls. 111v, 161, 165v, 245, 313v. . Se um homem tem filhos com várias mulheres, isto evidencia que a força das práticas sexuais locais africanas era tamanha que a própria Igreja Católica registrava nos batismos as relações poligâmicas.
Filiação legítima e natural dos batizados por condição jurídica das mães, Nossa Senhora da Conceição, 1771-1786
Assim, à revelia da condição jurídica das mães, para a maioria (60%) delas anotava-se os nomes dos pais de seus filhos, caso agreguemos os pais dos filhos legítimos (filhos de pais casados) aos naturais com o pai nomeado. Isto denota que, explicitamente, não se ignorava a paternidade social das crianças. A maioria dos pais foi reconhecida, e a expressão pai incógnito no batismo não significava necessariamente que eles fossem desconhecidos. Eles eram apenas os progenitores não nomeados dos filhos naturais.
Em resumo, a moral sexual católica era restrita e seletiva em Luanda. Incidiu basicamente sobre livres porque havia uma diferença substancial entre mulheres livres, de um lado, e cativas e forras, de outro (Quadro 5). As primeiras eram predominantemente casadas. Isto se deu de tal modo que ao nome e sobrenome como diferenciador da condição jurídico-social de livre se seguia a adesão ao casamento sacramentado e ao reconhecimento da paternidade legítima. De acordo com o estatuto jurídico-social das mães, os índices de legitimidade cresciam na medida em que se ia das cativas às livres, mas com pouca diferença entre escravas e forras93 93 No século XVIII isso também se observa nas cidades mineiras de São João del-Rei e Sabará, bem como no Rio de Janeiro e alhures. FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento… Op. Cit.; BRÜGGER, Silvia Maria Jardim, Op. Cit., capítulo 2; FRAGOSO, João. Apontamentos… Op. Cit.; DANTAS, Mariana. Picturing families between black and white: mixed descent and social mobility in colonial Minas Gerais, Brazil. The Americas, Cambridge, v. 73, n. 4, p. 405-426, 2016. A propósito, numa freguesia rural do Rio de Janeiro do início do XIX, um visitador anotou em um livro de batismo: “Sendo os batizados filhos legítimos de pais nascidos neste bispado, e também seus avós, se fará menção deles nestes assentos como se fossem brancos. Jacutinga, 30 de outubro de 1811. O visitador Barbosa”. Arquivo da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu, Livro de batismo de escravos da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga (1807-1825), p. 49. Agradecemos muito a Moisés Peixoto Soares pela indicação dessa fonte. Branco, nesse caso, é o filho de pais casados nascido na freguesia. A moral católica e a naturalidade dos pais e avós davam parâmetros de brancura social e religiosa. A respeito, cf. SOARES, Moisés Peixoto. “Como se fossem brancos”: comportamento social e moral religiosa de forros e descendentes de escravos (Iguaçu e Jacutinga, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850). 2019. Tese (Doutorado em História Social) -Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019, passim. . Mulheres livres tendiam a casar-se com mais frequência do que as forras e escravas (Quadro 5). Porém, até entre as livres os índices de casamento não eram tão elevados. Comparado às práticas de nomeação, o casamento das mulheres livres as distinguia menos das escravas e forras do que os seus próprios sobrenomes, uma vez que 55,7% das mães livres eram casadas, mas 74,6% delas tinham sobrenome (Quadros 5 e (Quadro 6).
Entretanto, ilegitimidade e ausência de registro do nome paterno por si sós não denotavam desvantagem para as escravas em batizar os filhos e registrá-los nos livros paroquiais e nem para estabelecer laços de compadrio. Efigênia da Silva, mãe de filhos naturais, não deixou de evocar o batismo como afirmação de sua liberdade, além de alforriar seus filhos por meio do compadrio. Ela permaneceu anos na cidade, acompanhada de seus compadres e suas comadres, e o mesmo se pode dizer de outras madrinhas, pais e padrinhos. A simples presença nos batismos como pai, mãe, padrinho e madrinha, ainda que escravos, sugere fixação local e criação de laços sociais. Florentino Manoel, escravo do capitão Antonio de Beça Teixeira, fora padrinho de quatro crianças cativas entre 1777 e 178394 94 AALNSC, fls. 179v, 201, 282, 328. . Outras mães, pais e padrinhos viveram a mesma experiência de vida estável na cidade. De um modo ou de outro, o batismo era uma mola para as cativas engendrarem laços sociais sólidos e benefícios para seus filhos com nomes cristãos.
Mas filhos cristãos de que homens?
Os escravos eram 47,3% dos pais, seguidos dos forros (29,3%) e dos livres (23,4%). Dito de outro modo, quase metade dos pais vivia na escravidão, um pouco mais de um em cada quatro gozava do estatuto de forro, e um pouco menos de um em cada quatro era livre. Assim, apesar de a maternidade ser predominantemente escrava (70,4%), a paternidade não era. Livres e forros ultrapassaram os escravos como pais, ainda que timidamente. Parte da existência de pais não escravos provavelmente se deve à alforria porque pelos registros de batismo da Sé se nota que, entre os pais nomeados, havia um pai forro para cada 1,2 pai escravo ou um forro para cada 0,7 livre. A alforria de homens em Luanda era expressiva.
Contudo, a mesma hierarquia escravista existente entre as mulheres é observada nas práticas de nomeação dos homens. Não obstante houvesse 880 pais incógnitos, o que relativiza os números, os sobrenomes eram mais registrados para os pais (homens) livres (Quadro 6).
Tipos de nomes dos pais dos batizados por condição jurídica dos pais, Nossa Senhora da Conceição, 1771-1786
Apesar da explícita hierarquia escravista evidenciada nos nomes sociais, e embora o tráfico atlântico de cativos levasse muito mais homens do que mulheres para o outro lado do oceano, ser pai escravo em Luanda também sugere a permanência e a efetivação de liames sociais na cidade, mesmo que a paternidade não se calcasse na moral cristã. Baltazar Domingos era pai de dois filhos naturais gerados por Antonia Manoel batizados em 1778 e 1785, todos escravos de Manoel Luiz preto forro maxiluanda95 95 AALNSC, fl. 194v e 20/03/1785. . Bento Miguel, escravo dos Moreira Rangel, fora pai de Marta Domingos em 1780, de um filho de Domingas Francisca em 1782 e de outro de Teresa Domingos em 1786. A primeira e a terceira mães de seus filhos eram de seu mesmo senhor, a segunda não, e na terceira vez em que foi pai Bento Miguel estava casado. Talvez fosse pai incógnito de filhos de outras mulheres, mas só dispomos de batismos para a Sé até 178696 96 AALNSC, fls. 245, 289 e 23/01/1786. . O certo é que fazia parte de uma comunidade local de escravizados que tinha se enraizado em Luanda, ao lado de pais forros.
Como demonstra o caso de Bento Miguel, que chegou à liberdade, os registros de batismo também nos oferecem insights sobre a frequência de alforrias em Luanda. Podia-se mesmo passar à condição de forro, provavelmente com mais assiduidade do que imaginamos. É o caso do pai dos filhos de Domingas Antônio, José João. Ele deixou de ser escravo e foi reconhecido como forro num registro de batismo, e a própria Efigênia da Silva evocou sua liberdade pelo batismo. Parece ter sido alta a proporção de forros na cidade, pois pelo livro da Sé de Luanda se constata que, entre as mulheres, havia uma forra para cada 3,2 cativas, e elas eram quase o triplo das livres. Esta grandeza se aproxima da de forros na cidade do Rio de Janeiro de 1799. A diferença é que na margem americana viviam mais livres, havia precisamente um forro (independente do sexo) para cada 2,3 livres ou um forro para cada 1,4 escravo97 97 GUEDES, Roberto Ferreira; SOARES, Márcio de Sousa. As alforrias entre o medo da morte e o caminho da salvação de portugueses e libertos: Rio de Janeiro, segunda metade do século XVIII. In: GUEDES, Roberto; RODRIGUES, Cláudia; WANDERLEY, Marcelo da Rocha (org.). Últimas vontades: testamento, sociedade e cultura na América ibérica (séculos XVII e XVIII). Rio de Janeiro: Mauad X, 2015. p. 80-124. .
A presença de forros e forras também se afere pelas relações que mantiveram entre si, porque a maioria das mães libertas gerou filhos com homens manumitidos (Quadro 7). Mesmo que a maternidade fosse majoritariamente escrava em Luanda, quase metade dos forros foi pai de filhos de mulheres forras. Mulheres livres não foram fecundadas por escravos e só o foram duas vezes por homens libertos. Por sua vez, os homens livres tiveram mais filhos com cativas do que com parceiras livres, provavelmente pela escassez de mulheres livres (Quadro 7).
Pode ser que a existência de tantos pais livres e forros contribuísse para a alta proporção de mulheres libertas. Decerto, para Luanda, esta possibilidade não esgota outras razões para tantas alforrias. Mesmo que se argumente que nem sempre as palavras forro e forra significassem efetiva prática de alforria, mas indicação de estatuto social, a alusão a forros e forras nos registros de batismo implicava o reconhecimento de uma condição civil, como disse o governador e como pleiteou Efigênia da Silva. Se as palavras expressam realidades sociais, a única certeza é que havia muitos forros nos batismos de Luanda.
7. Palavras finais
Através da análise de registros de batismo de crianças da paróquia de Nossa Senhora da Conceição e de cabeças e crias da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, o artigo aferiu aspectos da escravidão em Luanda na era do tráfico atlântico de escravizados para o Brasil. Neste quadro, os registros de batismo cumpriam múltiplas funções. Estavam na base da formação de laços de compadrio que, assim como no Brasil, davam estabilidade à comunidade cativa e forra. Por outro lado, por meio das práticas de nomeação dos batizados, que variavam de acordo com o status jurídico dos pais e das mães, reforçavam-se as hierarquias escravistas da cidade. Se o batizar cabeças sem nome e o identificar pais e mães de nomes compostos revelam peculiaridades que tornam Luanda singular no contexto mais amplo do Atlântico, os registros também apontam para uma escravidão urbana que guardava semelhanças com dinâmicas sociais e demográficas escravistas de outras cidades brasileiras, como a prática de alforria, a existência de uma população de forros e a associação da qualidade de cor preta à escravidão. É preciso não esquecer que o Atlântico sul era caracterizado pelo fluxo e refluxo de pessoas livres e cativas, assim como por práticas religiosas, jurídicas e ideias sobre governo da escravatura - aqui entendida não só pelo tráfico atlântico, mas também pelo trabalho escravo em suas experiências locais partilhadas98 98 CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. Páscoa et ses deux maris: une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle. Paris: PUF, 2019. .
Logo, pode ser que, impactados pelos refluxos do Brasil para Angola, cativos e senhores que viviam em Luanda e seus arredores operassem com ideias de escravidão e liberdade similares ao Brasil, a exemplo do princípio de que a escravidão seguia o ventre, e mesmo a liberdade que Efigênia da Silva requereu para seu filho. Ademais, também não é descabido supor que à ideia de liberdade na cidade africana se acoplasse uma tradição ibérica de alforriar cativos, muito forte no Brasil, por exemplo, cujos elos com Luanda, sobretudo a partir do Rio de Janeiro, eram umbilicais. De origem árabe, a palavra ahorria, em espanhol, alforria em português, que remete à liberdade, foi incorporada ao vocabulário ibero-americano da escravidão99 99 AFONSO X, El Sábio. Partida IV. In: AFONSO X, El Sábio. Las siete partidas. Madrid: Imprenta Real, 1807. Disponível em: https://archive.org/details/lassietepartidas01castuoft. Acesso em: 9 out. 2019. , vigorou no Brasil e na América espanhola, bem como em Luanda. Alforria, mais do que o manumitido de origem latina, era expressão corrente na sua forma contraída, encarnada em pessoas nos assentos de batismo quando os padres se reportavam à fulana parda forra ou preta forra, a sicrano preto forro ou pardo forro, ou simplesmente forro ou forra
Cidades litorâneas ligadas pelo Atlântico por constantes movimentos demográficos, culturais, políticos etc., geraram práticas escravistas comuns, reproduzindo e dando nomes às experiências de escravidão e de liberdade como as da parda forra Efigênia da Silva.
Bibliografia e Fontes
- AALNSC AALNSC - Arquivo do Arcebispado de Luanda, Livro de Batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceicao, 1760-1786, s. p.
- AALNSR AALNSR - Arquivo da Arquidiocese de Luanda, Livro de Batismos da Freguesia de Nossa Senhora dos Remedios, 1797-1799.
- AFONSO X, El Sabio. Partida IV. In: AFONSO X, El Sabio. Las siete partidas. Madrid: Imprenta Real, 1807. Disponivel em: Disponivel em: https://archive.org/details/lassietepartidas01castuoft Acesso em: 9 out. 2019.
» https://archive.org/details/lassietepartidas01castuoft - AHU AHU - Arquivo Historico Ultramarino. Portugal, Lisboa, Avulsos Angola, cx. 67, doc. 31, 34.
- ALENCASTRO, Luis Felipe de. O trato dos viventes: formacao do Brasil no Atlantico Sul. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2000.
- ALMEIDA, Manuel Antonio de. Memoria de um sargento de milicias. Sao Paulo: Atica, 1985.
- ARANTES, Antonio Augusto. Pais, padrinhos e Espirito Santo. In: CORREA, Mariza et al. (org.). Colcha de Retalhos: estudos sobre a familia no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 1994. p. 195-206.
- ARQUIVO ARQUIVO DA CURIA Diocesana de Nova Iguacu, Livro de batismo de escravos da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga (1807-1825).
- ARQUIVO ARQUIVO DA CURIA Metropolitana do Rio de Janeiro, Livro 2 da Se, Testamentos e Obitos, 1790-1797.
- BALDWIN, Thomas. The baptism of believers only, and the particular communion of the Baptist churches explained and vindicated: in three parts. The first published originally in 1789; The second in 1794. The Third Na apendix, containing additional observations and arguments, with strictures on several late publications. London: Forgotten Books, 2018.
- BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal: familia e sociedade (Sao Joao del Rei: seculos XVIII-XIX). Sao Paulo: Annablume, 2007.
- CAMPBELL, Gwyn (ed.). Structure of slavery in Indian Ocean, Africa, and Asia. Portland: Frank Cass, 2004.
- CANDIDO, Mariana P. Aguida Goncalves da Silva, une dona a Benguela a la fin du XVIIIe siècle. Bresil(s): Cahiers du Bresil Contemporain, Paris, p. 33-53, 2012.
- CANDIDO, Mariana P. Concubinage and slavery in Benguela, c. 1750-c. 1850. In: OJO, Olatunji; HUNT, Nadine (ed.). Slavery in Africa and the Caribbean: a history of enslavement and identity since the 18th century. London: New York: I. B. Tauris, 2012. p. 65-84.
- CANDIDO, Mariana P. An African slaving port and the Atlantic world: Benguela and its hinterland. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- CANDIDO, Mariana P. African women in ecclesiastical documents, Benguela, 1760-1860. Social Sciences and Missions, Leiden, v. 28, n. 3-4, p. 235-260, 2015.
- CAPELA, Jose. Donas, senhores e escravos. Porto: Afrontamento, 1995.
- CARTA CARTA do governador de Angola, de 25 agosto. de 1801 Arquivo Historico Nacional de Angola, cod. 8.
- CARVALHO, Ariane. Militares e militarizacao no Reino de Angola: patentes, guerra, comercio e vassalagem (segunda metade do seculo XVIII) . 2014. Dissertacao (Mestrado em Historia), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
- CARVALHO, Ariane; GUEDES, Roberto; CARVALHO, Ariane. Piedade, sobas e homens de cores honestas nas Noticias do Presidio de Massangano, 1797. In: SCOTT, Ana et al. (org.). Mobilidade social e formacao de hierarquias: subsidios para a historia da populacao. Sao Leopoldo: Editora Unisinos, 2014. p. 129-171. (Colecao Estudos Historicos Latino-Americanos, 3).
- CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. Pascoa et ses deux maris: une esclave entre Angola, Bresil et Portugal au XVIIe siècle. Paris: PUF, 2019.
- COUTINHO, Jose Joaquim da Cunha de Azeredo. Analise sobre a justica do comercio do resgate dos escravos. In: COUTINHO, Jose Joaquim da Cunha de Azeredo. Obras econômicas. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966.
- COUTINHO, Jose Joaquim da Cunha de Azeredo. Obras econômicas. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966.
- COUTO, Carlos. Os capitaes-mores em Angola no seculo XVIII. Lisboa: Instituto de Investigacao Cientifica de Angola, 1972.
- CRAEMER, Willy de; VANSINA, Jan; FOX, Renee.Religious movements in Central Africa: a theoretical study. Comparative studies in society and history, Cambridge, v. 18, n. 4, p. 458-475, 1976.
- CURTO, Jose C. A quantitative re-assessment of the legal Portuguese slave trade from Luanda, Angola, 1710-1830. African Economic History, Madison, n. 20, p. 1-25, 1992.
- CURTO, Jose C. Alcool e escravos: o comercio luso-brasileiro do alcool em Mpinda, Luanda e Benguela durante o trafico atlantico de escravos (c. 1480-1830) e o seu impacto nas sociedades da Africa Central Ocidental. Lisboa: Vulgata, 2002.
- CURTO, Jose C. As if from a free womb: baptismal manumissions in the Conceicao Parish, Luanda, 1778-1807. Portuguese Studies Review, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 26-57, 2002.
- CURTO, Jose C.; GERVASIS, Raymond R. The population history of Luanda during the late Atlantic slave trade, 1781-1844. African Economic History, Madison, n. 29, p. 1-59, 2001.
- DAMASIO, Adauto. Alforrias e acoes de liberdade em Campinas na primeira metade do seculo XIX. 1995. Dissertacao (Mestrado em Historia) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995.
- DANTAS, Mariana. Picturing families between black And white: mixed descent and social mobility in colonial Minas Gerais, Brazil. The Americas, Cambridge, v. 73, n. 4, p. 405-426, 2016.
- DAVIS, David Brion. O problema da escravidao na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2001.
- DE LA FUENTE GARCIA, Alejandro. Alforria de escravos em Havana, 1601-1610: primeiras conclusoes. Estudos Econômicos, Sao Paulo, v. 20, n. 1, p. 139-159, 1990.
- DUTRA, Robson. Quem tem medo de historia? Os romances de Pepetela e a cartografia de Angola. In: CAMPOS, Adriana; SILVA, Gilvan V. da (org.). Da Africa ao Brasil: itinerarios historicos da cultura negra. Vitoria: Flor e Cultura, 2007. p. 275-291.
- EISENBERG, Peter. Homens esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil (seculos XVIII e XIX) . Campinas: Editora da Unicamp, 1989.
- FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento: fortuna e familia no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
- FARIA, Sheila de Castro. Mulheres forras: riqueza e estigma social. Tempo, Niteroi, v. 5, p. 65-92, 2000.
- FARIA, Sheila de Castro. Sinhas pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de Sao Joao del-Rey (1700-1850) . 2004. Tese (Professora titular em Historia) - Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2004.
- FARINATTI, Luis Augusto. Os escravos do Marechal e seus compadres: hierarquia social, familia e compadrio no sul do Brasil (c. 1820-c. 1855). In: XAVIER, Regina Celia Lima (org.). Escravidao e liberdade: temas, problemas e perspectivas de analise. Sao Paulo: Alameda, 2012. p. 143-177.
- FARINATTI, Luis Augusto. Padrinhos preferenciais e hierarquia social na fronteira sul do Brasil (1816-1845). In: GUEDES, Roberto; FRAGOSO, Joao (org.). Historia social em registros paroquiais (Sul-Sudeste do Brasil, seculos XVIII e XIX) . Rio de Janeiro: Mauad X, 2016. p. 102-128.
- FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola and Brazil during the era of the slave trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- FERREIRA, Roquinaldo. Slavery and the social and cultural landscapes of Luanda. In: CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; CHILDS, Matt D.; SIDBURY, James (ed.). The black urban Atlantic in the age of the slave trade. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2013.
- FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma historia do trafico atlantico de escravos entre a Africa e o Rio de Janeiro (seculos XVIII e XIX) . Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
- FLORENTINO, Manolo. Alforrias e etnicidade no Rio de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa. Topoi, Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, p. 9-40, 2002.
- FLORENTINO, Manolo. Sobre minas, crioulos e liberdade costumeira no Rio de Janeiro, 1789-1871. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Trafico, cativeiro e liberdade: (Rio de Janeiro, seculos XVII-XIX) . Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005. p. 331-366.
- FLORENTINO, Manolo; GOES, Jose R. A paz das senzalas: familias escravas e trafico atlantico. Rio de Janeiro, 1790-1850. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 1997.
- FRAGOSO, Joao. Capitao Manuel Pimenta Sampaio, senhor do engenho do Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de Joao Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia social costumeira: Rio de Janeiro, 1700-1760. In: FRAGOSO, Joao; GOUVEA, Maria de Fatima (org.). Na trama das redes: politica e negocio no imperio portugues, seculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2010. p. 200-245.
- FRAGOSO, Joao. Apontamentos para uma metodologia em historia social a partir de assentos paroquiais: Rio de Janeiro, seculos XVII-XVIII. In: FRAGOSO, Joao; SAMPAIO, Antonio C. Juca de; GUEDES, Roberto (org.). Arquivos paroquiais e historia social na America lusa, seculos XVII e XVIII: metodos e tecnicas de pesquisa na reinvencao de um corpus documental. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 19-126.
- FRAGOSO, Joao. Elite das senzalas e nobreza principal da terra numa sociedade rural de Antigo Regime nos tropicos: Campo Grande (Rio de Janeiro), 1704-1740. In: FRAGOSO, Joao; GOUVEA, Maria de Fatima (org.). O Brasil Colonial, 1720-1821. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2014. v. 3. p. 241-306.
- FRANCO, Renato; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Notas sobre os significados religiosos do batismo. Varia Historia, Belo Horizonte, n. 31, p. 21-40, 2004.
- GILL, John. Infant-baptism, a part and pillar of popery: being a vindication of a paragraph in a preface to a reply to Mr. Clarke’s defense of infant-baptism. To which is added, a postscript, containing a full and sufficient answer to six letters of Candidus, on the subjects and mode of baptism, &. London: G. Keith, J. Robinson, W. Lepard, 1766.
- GINZBURG, Carlo. A micro-historia e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991.
- GOES, Jose Roberto. O cativeiro imperfeito. 1993. Dissertacao (Mestrado em Historia) - Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 1993.
- GOES, Jose Roberto. Padroes de alforria no Rio de Janeiro, 1840-1871. In: CAMPOS, Adriana et al. (org.). Nas rotas do imperio. 2. ed. Vitoria: Edufes; Lisboa: IICT, 2014. p. 477-526.
- GRAHAM, Sandra L. Caetana diz nao: historia de mulheres da sociedade escravista brasileira. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de escravos na Bahia no seculo XVIII. In: REIS, Joao Jose (org.). Escravidao e invencao da liberdade. Sao Paulo: Brasiliense, 1988. p. 33-59.
- GUEDES, Roberto. Na pia batismal: familia e compadrio entre escravos na freguesia de Sao Jose do Rio de Janeiro (primeira metade do seculo XIX) . 2000. Dissertacao (Mestrado em Historia) - Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2000.
- GUEDES, Roberto. Autonomia escrava e (des)governo senhorial na cidade do Rio de Janeiro da primeira metade do seculo XIX. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Trafico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, seculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005. p. 229-283.
- GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, familia, alianca e mobilidade social (Porto Feliz, Sao Paulo, c. 1798-c. 1850) . Rio de Janeiro: Mauad: Faperj, 2008.
- GUEDES, Roberto. Macae em fontes paroquiais. In: AMANTINO, Marcia et al. (org.). Povoamento, catolicismo e escravidao na antiga Macae: seculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. p. 121-147.
- GUEDES, Roberto. Exoticas denominacoes: qualidades de cor no Reino de Angola (segunda metade do seculo XVIII). In: ALMEIDA, Suely et al. (org.). Cultura e sociabilidades no mundo atlantico. Recife: Universitaria, 2012. p. 369-398.
- GUEDES, Roberto. Livros paroquiais de batismo, escravidao e qualidades de cor: Santissimo Sacramento da Se, Rio de Janeiro, seculos XVII- XVIII. In: FRAGOSO, Joao; SAMPAIO, Antonio C. Juca de; GUEDES, Roberto (org.). Arquivos paroquiais e historia social na America lusa, seculos XVII e XVIII: metodos e tecnicas de pesquisa na reinvencao de um corpus documental. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 127-186.
- GUEDES, Roberto; CARVALHO, Ariane. Muxiluandas: memoria politica, escravidao perpetua, alforria e parentesco (Luanda, seculo XVIII) [S. l.: s. n.], [2021]. No prelo
- GUEDES, Roberto; PONTES, Caroline. Noticias do presidio de Caconda (1797): moradores, escravatura, tutores e orfaos. In: PAIVA, Eduardo Franca; SANTOS, Vanicleia Silva (org.). Africa e Brasil no mundo moderno. Sao Paulo: Belo Horizonte; Annablume: Editora UFMG, 2013. p. 153-180.
- GUEDES, Roberto; SOARES, Marcio de Sousa. As alforrias entre o medo da morte e o caminho da salvacao de portugueses e libertos: Rio de Janeiro, segunda metade do seculo XVIII. In: GUEDES, Roberto; RODRIGUES, Claudia; WANDERLEY, Marcelo da Rocha (org.). Ultimas vontades: testamento, sociedade e cultura na America Iberica (seculos XVII e XVIII) . Rio de Janeiro: Mauad X, 2015. p. 80-124.
- HAMEISTER, Martha D. Para dar calor a nova povoacao: estudo sobre estrategias sociais e familiares a partir dos registros batismais da Vila do Rio Grande (1738-1763) . 2006. Tese (Doutorado em Historia Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
- HESPANHA, Antonio Manuel. Luis de Molina e a escravizacao dos negros. Analise Social, Lisboa, v. 35, n. 157, p. 937-960, 2001.
- HEYWOOD, Linda. Njinga of Angola: Africa’s warrior queen. Cambridge: Harvard University Press, 2017.
- HORTA, Jose da Silva. Africanos e portugueses na documentacao inquisitorial de Luanda e Mbanza Kongo. In: SANTOS, Maria Emilia Madeira. Actas do seminario Encontro de Povos e Culturas em Angola. Lisboa: CNCDP, 1997. p. 301-321.
- KARASCH, Mary. Slave life in Rio do Janeiro, 1808-1850. Princeton: Princeton University Press, 1987.
- KIERNAN, James Patrick. The manumission of slaves in Colonial Brazil: Paraty, 1789-1822. Nova York: NYP, 1976.
- KRAUSE, Thiago. Compadrio e escravidao na Bahia seiscentista. Afro-Asia, Salvador, v. 50, p. 199-228, 2014.
- LEVI, Giovanni. On microhistory. In: BURKE, Peter (ed.). New perspectives on historical writing. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1991. p. 93-114.
- LIMA, Lana Lage da Gama; VENANCIO, Renato Pinto. Alforria de criancas escravas no Rio de Janeiro do seculo XIX. Revista Resgate, Niteroi, v. 2, n. 1, p. 26-39, 1991.
- MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequetico: a evangelizacao dos escravos em Luanda nos seculos XVII e XVIII. Revista 7 Mares, Niteroi, n. 2, p. 64-79, 2013.
- MATHEUS, Marcelo dos Santos. A producao da diferenca: escravidao e desigualdade social ao Sul do imperio brasileiro (Bage, 1820-1870) . 2016. Tese (Doutorado em Historia Social) -Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
- MATTOSO, Katia Mytilineou de Queiros. A proposito das cartas de alforria: Bahia (1779-1850) . Anais de Historia, [s. l.], n. 4, p. 23-52, 1972.
- MATTOSO, Katia Mytilineou de Queiros. Testamentos de escravos libertos na Bahia no seculo XIX. Salvador: UFBA: Centro de Estudos Baianos, 1979.
- MATTOSO, Katia Mytilineou de Queiros. Ser escravo no Brasil. Sao Paulo: Brasiliense, 1982.
- MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravidao: o ventre de ferro e dinheiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.
- MELLO, Jose Caetano de. Naufragio carmelitano, ou relacao do notavel successo que aconteceo aos padres missionarios carmelitas descalcos na viagem, que faziao para o reyno de Angola no anno de 1749. Lisboa: Officina de Manoel Soares, 1750.
- MEMEL-FÔTE, Harris. L’esclavage dans les societes lignagères de l’Afrique noire: exemple de la Côte d’Ivoire precoloniale, 1700-1920. 1988. Thèse (Doctorat d’Etat en Lettres et Sciences Humaines) - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1988.
- MILLER, Joseph C. Way of death: merchant capitalism and the Angolan slave trade, 1730-1830. Madison: Wisconsin University Press, 1988.
- MOURAO, Fernando Augusto Albuquerque. Configuracoes dos nucleos humanos de Luanda, do seculo XVI ao XIX. In: ACTAS DO SEMINARIO ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA, 1995, Luanda. Atas […]. Lisboa: CNCDP, 1997. p. 111-225.
- NEVES, Guilherme P. das. Palidas e obliquas Luzes: J. J. da C. de Azeredo Coutinho e a analise sobre a justica do comercio do resgate dos escravos. In: SILVA, Maria Beatriz Nizza da (org.). Brasil: colonizacao e escravidao. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 349-370.
- OLIVEIRA, Anderson Jose Machado de. Santos pretos e catequese no Brasil colonial. Estudos de Historia, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 215-234, 2002.
- OLIVEIRA, Anderson Jose Machado de. Igreja e escravidao africana no Brasil colonial. Especiaria, Florianopolis, v. 10, p. 356-388, 2009.
- OLIVEIRA, Anderson Jose Machado de. As irmandades religiosas na epoca pombalina: algumas consideracoes. In: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Claudia (org.). A “epoca pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 347-380.
- OLIVEIRA, Maria Ines. O liberto: o seu mundo e os outros, Salvador: 1790-1890. Salvador: Corrupio, 1988.
- OLIVEIRA, Vanessa S. The Donas of Luanda, c. 1770-1867: from Atlantic slave trading to “legitimate” commerce. 2016. Dissertation (Doctor of Philosophy) - York University, Toronto, 2016.
- OLWELL, Robert. Becoming free: manumission and the genesis of a free black community in South Carolina, 1740-1790. Slave and Abolition, Abingdon-on-Thames, v. 17, n. 1, p. 1-19, 1996.
- PADAB - Projeto Digital Angola Brasil. Arquivo Historico de Angola, Instituto Historico e Geografico Brasileiro. Cartas e Patentes, 14/02/1772-21/11/1772. 35 folhas.
- PAIVA, Eduardo Franca. Escravidao e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001.
- PAIVA, Eduardo Franca. Dar nome ao novo: uma historia lexical da Ibero-America, entre os seculos XVI e XVIII (as dinamicas de mesticagens e o mundo do trabalho) . Belo Horizonte: Autentica, 2015.
- PANTOJA, Selma. A dimensao atlantica das quitandeiras. In: FURTADO, Junia (org.). Dialogos oceanicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma historia do Imperio Ultramarino Portugues. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001. p. 45-67.
- PANTOJA, Selma. Lacos de afeto e comercio de escravos: Angola no seculo XVIII. Cadernos de Pesquisa do CDHIS, Uberlandia, v. 23, n. 2, p. 375-389, 2010.
- PARES, Luis Nicolau. O rei, o pai e a morte: a religiao vodum na antiga costa dos escravos na Africa ocidental. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2016.
- PEPETELA. Luandando. Luanda: Elf Aquitaine Angola, 1990.
- PEPETELA. A gloriosa familia: o tempo dos flamengos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
- RAMOS, Donald. A mulher e a familia em Vila Rica do Ouro Preto: 1754-1838. In: NADALIN, Sergio Odilon et al. (org.) Historia e populacao: estudos sobre a America Latina. Sao Paulo: Abep, 1990. p. 154-163.
- REGINALDO, Lucilene. Os rosarios dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia setecentista. Sao Paulo: Alameda, 2011.
- REGINALDO, Lucilene. Rosarios dos pretos, “Sao Benedito de Quissama”: irmandades e devocoes negras no mundo atlantico (Portugal e Angola, seculo XVIII). Studia Historica, Historia Moderna, Salamanca, v. 38, n. 1, p. 123-151, 2016.
- REIS, Joao Jose. Rebeliao escrava no Brasil: a historia do Levante dos Males em 1835. 2. ed. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2003.
- RIOS, Ana Lugao. Familia e transicao. 1990. Dissertacao (Mestrado em Historia) -Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 1990.
- ROCHA, Manuel Ribeiro da. Etiope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruido. Rio de Janeiro, Vozes, 1982.
- RUSSEL-WOOD, Antony J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005.
- SAMPAIO, Antonio Carlos Juca. A producao da liberdade: padroes gerais das manumissoes no Rio de Janeiro colonial, 1650-1750. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Trafico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, seculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005. p. 287-329.
- SANTOS, Catarina Madeira. Um governo “polido” para Angola: reconfigurar dispositivos de dominio (1750-1800) . 2005. Tese (Doutorado em Historia) - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 2005.
- SANTOS, Catarina Madeira. Les mots et les normes juridiques de l’esclavage dans la colonie portugaise d’Angola aux XVIIe et XVIIIe siècles (les mucanos comme jugmentes de liberte) . Bresil(s): Cahiers du Bresil Contemporain, Paris, p. 139-144, 2012.
- SANTOS, Catarina Madeira; TAVARES, Ana Paula. Africae monumenta: a apropriacao da escrita pelos africanos. Lisboa: IICT, 2002.
- SANTOS, Maria Emilia Madeira. Africa; Angola. In: AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.). Dicionario de historia religiosa de Portugal. Lisboa: Circulo de Leitores, 2000. p. 21-25.
- SCHWARTZ, Stuart. The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745. Hispanic American Historical Review, Durham, v. 54, n. 4, p. 603-635, 1974.
- SEBESTYEN, Eva. Escravizacao, escravidao e fugas na vida e obra do viajante-explorador hungaro Laszlo Magyar: Angola, meados de seculo XIX. In: GUEDES, Roberto; DEMETRIO, Denise; SANTIROCHI, Italo (org.). Doze capitulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola (seculos XVII-XIX) . Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. p. 291-311.
- SILVA, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlantico: a Africa no Brasil e o Brasil na Africa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: UFRJ, 2003.
- SILVA, Cristiano Lima da. “Como se Livre Nascera”: alforria na pia batismal em Sao Joao del Rei (1750-1850) . 2004. Dissertacao (Mestrado em Historia) - Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2004.
- SLENES, Robert. Senhores e subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). Historia da vida privada no Brasil. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1997. v. 2, p. 233-290.
- SOARES, Marcio de Sousa. A remissao do cativeiro: a dadiva da alforria e o governo dos escravos em Campos dos Goitacases, c. 1750-c. 1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009.
- SOARES, Marcio de Sousa. As ultimas moradas: memoria e hierarquias sociais nos locais de sepultamentos de pardos na vila de Sao Salvador dos Campos dos Goitacazes, 1754-1835. In: IVO, Isnara; GUEDES, Roberto Ferreira (org.). Memorias da escravidao em mundos ibero-americanos: seculos XVI-XXI. Sao Paulo: Alameda, 2019. p. 113-160.
- SOARES, Mariza de Carvalho. Descobrindo a Guine no Brasil colonial. Revista do Instituto Historico e Geografico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 161, n. 407, p. 71-94, 2000.
- SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: identidade etnica, religiosidade e escravidao no Rio de Janeiro, seculo XVIII. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2000.
- SOARES, Moises Peixoto. “Como se fossem brancos”: comportamento social e moral religiosa de forros e descendentes de escravos (Iguacu e Jacutinga, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850) . 2019. Tese (Doutorado em Historia Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
- SOUZA, Marina de Mello e. Alem do visivel: poder, catolicismo e comercio no Congo e em Angola (seculos XVI e XVII) . Sao Paulo: Edusp: Fapesp, 2018.
- STILWELL, Sean. Slavery and slaving in African history. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- THORNTON, John K. Sexual demography: the impact of the slave trade on family structure. In: ROBERTSON, Claire; KLEIN, Martin (ed.). Women and slavery in Africa. Madison: University of Wisconsin Press, 1983.
- THORNTON, John K. The art of war in Angola, 1575-1680. Comparative Studies in Society and History, Cambridge, v. 30, n. 2, p. 370-378, 1988.
- THORNTON, John K. Central African names and African-American naming patterns. The William and Mary Quarterly, Williamsburg, v. 50, n. 4, p. 727-742, 1993.
- THORNTON, John K. A Africa e os africanos na formacao do mundo atlantico (1400-1800) . Rio de Janeiro: Campus, 2003.
- THORNTON, John K. Religiao e vida cerimonial no Congo e areas umbundo. In: HEYWOOD, Linda (org.). Diaspora negra no Brasil. Sao Paulo: Contexto, 2008. p. 81-100.
- THORNTON, John K. A cultural history of the Atlantic world, 1250-1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- THORNTON, John K. Afro-christian syncretism in the Kingdom of Kongo. Journal of African History, Cambridge, v. 54, p. 53-100, 2013.
- VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e escravidao. Petropolis: Vozes, 1986.
- VARGAS, Eliseu J. Escravidao no vale do cafe: vassouras, senhores e escravos em 1838. Curitiba: Appris, 2015.
- VENANCIO, Jose C. A economia de Luanda e hinterland no seculo XVIII: um estudo de sociologia historica. Lisboa: Estampa, 1996.
- VIANA, Larissa M. O idioma da mesticagem: as irmandades de pardos na America portuguesa. Campinas: Editora da Unicamp, 2007.
- VIDE, Sebastiao Monteiro da. Constituicoes primeiras do arcebispado da Bahia. Coimbra, Real Colegio das Artes e da Companhia de Jesus, 1720. Brasilia, DF: Senado Federal, 2007.
-
5
AALNSC - Arquivo do Arcebispado de Luanda, Livro de Batismos da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição, 1760-1786, s. p., próximo à página 26.
-
6
Sobre o excepcional normal, cf. GINZBURG, Carlo. A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991; LEVI, Giovanni. On microhistory. In: BURKE, Peter (ed.). New perspectives on historical writing. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 1991. p. 93-114.
-
7
Sobre a diocese de Angola e Congo, sufragânea à Arquidiocese da Bahia entre 1672 e 1845 e sobre o clero formado em Angola, cf. SANTOS, Maria Emília Madeira. África; Angola. In: AZEVEDO, Carlos Moreira de (dir.). Dicionário de história religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000, p. 21-25, 51-67. Cf. ainda REGINALDO, Lucilene. Rosários dos pretos, “São Benedito de Quissama”: irmandades e devoções negras no mundo atlântico (Portugal e Angola, século XVIII). Studia Historica, História Moderna, Salamanca, v. 38, n. 1, p. 123-151, 2016; MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequético: a evangelização dos escravos em Luanda nos séculos XVII e XVIII. Revista 7 Mares, Niterói, n. 2, p. 64-79, 2013.
-
8
VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições primeiras do arcebispado da Bahia: Coimbra, Real Colégio das Artes e da Companhia de Jesus, 1720: Livro Primeiro, Títulos IX ao XX. Brasília, DF: Senado Federal, 2007. Na verdade as Constituições primeiras regularam o que já se praticava desde o século XVII. GUEDES, Roberto. Livros paroquiais de batismo, escravidão e qualidades de cor (Santíssimo Sacramento da Sé, Rio de Janeiro, Séculos XVII- XVIII). In: FRAGOSO, João; SAMPAIO, Antonio C. Jucá de; GUEDES, Roberto (org.). Arquivos paroquiais e história social na América lusa, séculos XVII e XVIII: métodos e técnicas de pesquisa na reinvenção de um corpus documental. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 127-186.
-
9
No Brasil os livros podiam ser ou não separados por condição jurídica. Frequentemente o eram, mas isso dependia da época, do lugar, da dimensão demográfica, das idiossincrasias do clero etc. SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000; GUEDES, Roberto. Macaé em fontes paroquiais. In: AMANTINO, Márcia et al. (org.). Povoamento, catolicismo e escravidão na antiga Macaé: séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Apicuri, 2011. p. 121-147.
-
10
Usamos qualidade de cor, cor/condição ou qualidade porque esta é a palavra mais recorrente em censos populacionais ou em mapas militares setecentistas de Luanda e de presídios do Reino de Angola para se referir ou enquadrar, geralmente, brancos, pretos, pardos ou mulatos. Cf. GUEDES, Roberto. Exóticas denominações: qualidades de cor no Reino de Angola (segunda metade do século XVIII). In: ALMEIDA, Suely et al. (org.). Cultura e sociabilidades no mundo atlântico. Recife: Universitária, 2012. p. 369-398; GUEDES, Roberto; PONTES, Caroline. Notícias do presídio de Caconda (1797): moradores, escravatura, tutores e órfãos. In: PAIVA, Eduardo França; SANTOS, Vanicleia Silva (org.). África e Brasil no mundo moderno. São Paulo: Belo Horizonte; Annablume: Editora UFMG, 2013. p. 153-180; CARVALHO, Ariane; GUEDES, Roberto. Piedade, sobas e homens de cores honestas nas Notícias do Presídio de Massangano, 1797. In: SCOTT, Ana et al. (org.). Mobilidade social e formação de hierarquias: subsídios para a história da população. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2014. p. 129-171. (Coleção Estudos Históricos Latino-Americanos, 3). Por sua vez, quando em documentos lusófonos da época moderna, a palavra raça não raro era associada à religiosidade, mesmo que também aludisse a fenótipo: raça de mouro, raça de judeu, raça de mulato, sem raça (cristão). Cf. PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero-América, entre os séculos XVI e XVIII (as dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho). Belo Horizonte: Autêntica, 2015. Aqui lidamos com fontes paroquiais que não mencionam o termo raça, qualidade, e raramente aludem à cor. Nelas, os termos empregados para qualidades de cor são preto e pardo, acompanhados ou não das condições jurídicas de escravo, forro ou, às vezes, liberto. Mulato, presente em mapas de população de Luanda, só apareceu uma vez no batismo. AALNSC, 1760-1786, p. 93. No caso do Brasil, o pardo dos registros batismais não deve ser considerado sinônimo de mulato, porque este tinha significado pejorativo e o clero raramente o empregava em fontes paroquiais de batismo, casamento e óbito. Cf. VIANA, Larissa M. O idioma da mestiçagem: as irmandades de pardos na América portuguesa. Campinas: Editora da Unicamp, 2007. Cf. ainda GUEDES, Roberto. Livros paroquiais… Op. Cit.; SOARES, Márcio de Sousa. As últimas moradas: memória e hierarquias sociais nos locais de sepultamentos de pardos na vila de São Salvador dos Campos dos Goitacazes, 1754-1835. In: IVO, Isnara; GUEDES, Roberto (org.). Memórias da escravidão em mundos ibero-americanos: Séculos XVI-XXI. São Paulo: Alameda, 2019. p. 113-160.
-
11
GUDEMAN, Sthepen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original: compadrio e batismo de escravos na Bahia no século XVIII. In: REIS, João José (org.). Escravidão e invenção da liberdade. São Paulo: Brasiliense, 1988. p. 33-59; FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento: fortuna e família no cotidiano colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998, p. 304. FRANCO, Renato; CAMPOS, Adalgisa Arantes. Notas sobre os significados religiosos do batismo. Varia História, Belo Horizonte, n. 31, p. 21-40, 2004, p. 23.
-
12
VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições… Op. Cit., Livro Primeiro, Título X.
-
13
Idem, Título XVIII.
-
14
Ibidem.
-
15
ARANTES, Antonio Augusto. Pais, padrinhos e Espírito Santo. In: CORRÊA, Mariza et al. (org.). Colcha de Retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp, 1994. p. 195-206, p. 196.
-
16
Não cabe aqui adentrar nas justificativas religiosas ocidentais da escravidão. Entre outros, cf. COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Obras econômicas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966; NEVES, Guilherme P. das. Pálidas e oblíquas Luzes: J. J. da C. de Azeredo Coutinho e a análise sobre a justiça do comércio do resgate dos escravos. In: Maria Beatriz Nizza da Silva (org.). Brasil: colonização e escravidão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. p. 349-370. HESPANHA, António M. Luís de Molina e a escravização dos negros. Análise Social, Lisboa, v. 35, n. 157, p. 937-960, 2001; DAVIS, David Brion. O problema da escravidão na cultura ocidental. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001. Especificamente para Angola, cf. MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequético… Op. Cit.
-
17
“That infant baptism is a part and pillar of popery; that by which Antichrist has spread his baneful influence over many nations. I use the phrase infant-baptism here and throughout, because of the common use of it; otherwise the practice which now obtains, may with greater propriety be called infant-sprinkling”. GILL, John. Infant-baptism, a part and pillar of popery: being a vindication of a paragraph in a preface to a reply to Mr. Clarke’s defense of infant-baptism. To which is added, a postscript, containing a full and sufficient answer to six letters of Candidus, on the subjects and mode of baptism, &. London: G. Keith, J. Robinson, W. Lepard, 1766, p. 2.
-
18
We “do not consider it [baptism] essential to salvation, yet we do think essential to the regular visibility of a gospel church”. BALDWIN, Thomas. The baptism of believers only, and the particular communion of the Baptist churches explained and vindicated: in three parts. The first published originally in 1789; The second in 1794. The Third an appendix, containing additional observations and arguments, with strictures on sevaral late publications. London: Forgotten Books, 2018.
-
19
VAINFAS, Ronaldo. Ideologia e escravidão. Petrópolis: Vozes, 1986; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos Pretos… Op. Cit.; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Igreja e escravidão… Op. Cit.
-
20
SANTOS, Catarina Madeira; TAVARES, Ana Paula. Africae monumenta: a apropriação da escrita pelos africanos. Lisboa: IICT, 2002.
-
21
Referimo-nos à incorporação de símbolos religiosos e rituais de outras religiões/religiosidades a partir de perspectivas cosmogônicas africanas. CRAEMER, Willy de; VANSINA, Jan; FOX, Renee. Religious movements in Central Africa: a theoretical study. Comparative studies in society and history, Cambridge, v. 18, n. 4, p. 458-475, 1976; THORNTON, John. Religião e vida cerimonial no Congo e áreas umbundo. In: HEYWOOD, Linda (org.). Diáspora negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008. p. 81-100; THORNTON, John. A cultural history of the Atlantic world, 1250-1820. Cambridge: Cambridge University Press, 2012; THORNTON, John. Afro-christian syncretism in the Kingdom of Kongo. Journal of African History, Cambridge, v. 54, p. 53-100, 2013, p. 53-77. Para outras searas, cf. PARÉS, Luís Nicolau. O rei, o pai e a morte: a religião vodum na antiga costa dos escravos na África ocidental. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. Cf. ainda, HEYWOOD, Linda Njinga of Angola: Africa’s warrior queen. Cambridge: Harvard University Press, 2017; SOUZA, Marina de Mello e. Além do visível: poder, catolicismo e comércio no Congo e em Angola (séculos XVI e XVII). São Paulo: Edusp: Fapesp, 2018.
-
22
MELLO, José Caetano de. Naufragio carmelitano, ou relação do notavel successo que aconteceo aos padres missionarios carmelitas descalços na viagem, que faziaõ para o reyno de Angola no anno de 1749. Lisboa: Officina de Manoel Soares: 1750.
-
23
HORTA, José da Silva. Africanos e portugueses na documentação inquisitorial de Luanda e Mbanza Kongo. In: SANTOS, Maria Emilia Madeira. Actas do seminário Encontro de Povos e Culturas em Angola. Lisboa: CNCDP, 1997. p. 301-321. FERREIRA, Roquinaldo. Slavery and the social and cultural landscapes of Luanda. In: CAÑIZARES-ESGUERRA, Jorge; CHILDS, Matt D.; SIDBURY, James (ed.). The black urban Atlantic in the age of the slave trade. Philadelphia: Pennsylvania University Press, 2013. p. 197-202; FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural exchange in the Atlantic world: Angola and Brazil during the era of the slave trade. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. Não é preciso aludir aqui aos catolicismos no Reino do Congo desde o início da Era Moderna.
-
24
ARQUIVO DA CÚRIA Metropolitana do Rio de Janeiro, Livro 2 da Sé, Testamentos e Óbitos, 1790-1797, p. 143.
-
25
SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor… Op. Cit.; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos pretos e catequese no Brasil colonial. Estudos de História, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 215-234, 2002; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Igreja e escravidão africana no Brasil colonial. Especiaria, Bahia, v. 10, p. 356-388, 2009; OLIVEIRA, Anderson José Machado de. As irmandades religiosas na época pombalina: algumas considerações. In: FALCON, Francisco; RODRIGUES, Cláudia (org.). A “época pombalina” no mundo luso-brasileiro. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015. p. 347-380. Especificamente para Luanda, cf. REGINALDO, Lucilene. Rosários dos Pretos… Op. Cit..
-
26
REGINALDO, Lucilene. Os rosários dos Angolas: irmandades de africanos e crioulos na Bahia setecentista. São Paulo: Alameda, 2011, p. 68.
-
27
AALNSC, 1771-1786.
-
28
Recorremos a batismos de cabeças e crias da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios porque ainda não encontramos registros do mesmo tipo para a freguesia de Nossa Senhora da Conceição.
-
29
AALNSR - Arquivo da Arquidiocese de Luanda, Livro de Batismos da Freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, 1797-1799, fl. 157.
-
30
Sobre a circulação entre presídios, inclusive de militares, cf. COUTO, Carlos. Os capitães-mores em Angola no século XVIII. Lisboa: Instituto de Investigação Científica de Angola, 1972; SANTOS, Catarina Madeira. Um governo “polido” para Angola: reconfigurar dispositivos de domínio (1750-1800). 2005. Tese (Doutorado em História) - École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2005; CARVALHO, Ariane. Militares e militarização no Reino de Angola: patentes, guerra, comércio e vassalagem (segunda metade do século XVIII). 2014. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
-
31
THORNTON, John K. The art of war in Angola, 1575-1680. Comparative Studies in Society and History, Cambridge, v. 30, n. 2, p. 370-378, 1988; THORNTON, John K. A África e os africanos na formação do mundo atlântico (1400-1800). Rio de Janeiro: Campus, 2003; CARVALHO, Ariane, Op. Cit.
-
32
FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit.
-
33
MILLER, Joseph C. Way of death: merchant capitalism and the Angolan slave trade, 1730-1830. Madison: Wisconsin University Press, 1988, passim.
-
34
CANDIDO, Mariana P. Aguida Gonçalves da Silva, une dona à Benguela à la fin du XVIIIe siècle. Brésil(s): Cahiers du Brésil Contemporain, Paris, p. 33-35, 2012; CANDIDO, Mariana P. An African slaving port and the Atlantic world: Benguela and its hinterland. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
-
35
FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit.
-
36
SANTOS, Catarina Madeira. Les mots e les normes juridiques de l`esclavage dans la colonie portugaise d`Angola aux XVIIe et XVIIIe siècles (les mucanos comme jugmentes de liberte). Brésil(s): Cahiers du Brésil Contemporain, Paris, p. 139-144, 2012.
-
37
AALNSC, 1771-1786, fls. 221, 248, 286, 286v.
-
38
AHU - Arquivo Histórico Ultramarino. Portugal, Lisboa, Avulsos Angola, Códice 555. Vide também, GUEDES, Roberto. Exóticas denominações: qualidades de cor no Reino de Angola (segunda metade do século XVIII). In: ALMEIDA, Suely et al. (org.). Cultura e sociabilidades no mundo atlântico. Recife: Universitária, 2012. p. 369-398.
-
39
Nada impedia que as crias e cabeças pudessem ser novamente batizadas nas Américas. No Brasil, o batismo de escravos registrava a posse e, como cabeças e crias não tinham nomes, elas seriam novamente batizadas por seus novos senhores. As Constituições permitiam o batismo condicional, isto é, na dúvida do não recebimento do sacramento qualquer pessoa podia ser batizada novamente, sub conditione.
-
40
Paradigmáticos nesse sentido são as obras do último inquisidor-mor do Reino de Portugal publicadas em fins do século XVIII: COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Análise sobre a justiça do comércio do resgate dos escravos. In: COUTINHO, José Joaquim da Cunha de Azeredo. Obras econômicas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1966. p. xx-yy; e de ROCHA, Manuel Ribeiro da. Etíope resgatado, empenhado, sustentado, corrigido, instruído. Rio de Janeiro, Vozes, 1982 [1754].
-
41
Não deixa de ser curioso que alguns cativos de Luanda se respaldavam em seus senhores até mesmo contra autoridades instituídas. Em 1798, Teixeira, um homem que ocupava cargo português, “asked the slaves to stop the drumming, but they not only refused aggressively but also promised retribuition for previous punishment inflicted on them by Teixeira. According to the official, who was a black man, they called me negro like them and said they would not obey me, since they were slaves of Francisco Inácio, and said they would flog me to take away my pride (xibanca)”. FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit., p. 199-200.
-
42
Idem, capítulo 4.
-
43
Ibidem.
-
44
AALNSC, 1760-1786, p. 156v, 207, 256.
-
45
Sobre a disposição das freguesias e bairros nas partes alta e baixa de Luanda, cf. MOURÃO, Fernando Augusto Albuquerque. Configurações dos núcleos humanos de Luanda, do século XVI ao XIX. In: ACTAS DO SEMINÁRIO ENCONTRO DE POVOS E CULTURAS EM ANGOLA, 1995, Luanda. Atas […]. Lisboa: CNCDP, 1997, p. 111-225, passim; VENÂNCIO, José C. A economia de Luanda e hinterland no século XVIII: um estudo de sociologia histórica. Lisboa: Estampa, 1996, p. 31-44. PEPETELA. Luandando. Luanda: Elf Aquitaine Angola, 1990, p. 48-61.
-
46
CARTA do governador de Angola, de 25 agosto de 1801. Arquivo Histórico Nacional de Angola, cód. 8.
-
47
AALNSC, 1760-1786, p. 126.
-
48
ALMEIDA, Manuel Antonio de. Memória de um sargento de milícias. São Paulo: Ática, 1985, p. 9, 126.
-
49
Especificamente para Luanda, cf. SANTOS, Maria Emília Madeira. África; Angola… Op. Cit. p. 21-25, 51-67. REGINALDO, Lucilene. Rosários dos Pretos… Op. Cit. p. 123-151; MARCUSSI, Alexandre Almeida. O dever catequético… Op. Cit.
-
50
Trata-se do posto de ajudante do regimento pago. Cf. PADAB - Projeto Digital Angola Brasil. Arquivo Histórico de Angola, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Códice 309-C-21. Cartas e Patentes, 14/02/1772-21/11/1772. 35 fls. Em 1794, Lopo de Sousa também ocupou os cargos de capitão de guarda de governador e capitão regente do presídio de Novo Redondo. PADAB, Códice 273-C-15-2, Portarias do governo com ordens e instruções. 7/10/1790-31/07/1797. Fora capitão-mor do distrito do Icolo por volta de 1783. Cf. AHU. Portugal, Lisboa, Avulsos Angola, cx. 67, doc. 31, 34.
-
51
Sobre a importância das donas em cidades escravistas na América portuguesa, em Angola e em Moçambique, ver CAPELA, José. Donas, senhores e escravos. Porto: Afrontamento, 1995; OLIVEIRA, Maria Inês. O liberto: o seu mundo e os outros, Salvador: 1790-1890. Salvador: Corrupio, 1988; RAMOS, Donald. A mulher e a família em Vila Rica do Ouro Preto: 1754-1838. In: NADALIN, Sérgio Odilon et al. (org.) História e população: estudos sobre a América Latina. São Paulo: Abep, 1990. p. 154-163; PANTOJA, Selma. A dimensão atlântica das quitandeiras. In: FURTADO, Júnia (org.). Diálogos oceânicos: Minas Gerais e as novas abordagens para uma história do Império Ultramarino Português. Belo Horizonte: UFMG, 2001. p. 45-67; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás pretas, damas mercadoras: as pretas minas nas cidades do Rio de Janeiro e de São João del-Rey (1700-1850). 2004. Tese (Professora titular em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004; PAIVA, Eduardo França. Escravidão e universo cultural na colônia: Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2001; OLIVEIRA, Vanessa S. The Donas of Luanda, c. 1770-1867: from Atlantic slave trading to “legitimate” commerce. 2016. Dissertation (Doctor of Philosophy) - York University, Toronto, 2016, capítulo 3.
-
52
Sobre os Vandunem, a referência historiográfico-literária continua sendo PEPETELA. A gloriosa família: o tempo dos flamengos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. Cf. também, sobre a cidade de Luanda, PEPETELA. Luandando… Op. Cit. Sobre a literatura histórica de Pepetela, cf.: DUTRA, Robson. Quem tem medo de história? Os romances de Pepetela e a cartografia de Angola. In: CAMPOS, Adriana; SILVA, Gilvan V. da (org.). Da África ao Brasil: itinerários históricos da cultura negra. Vitória: Flor e Cultura, 2007. p. 275-291.
-
53
THORNTON, John K. Sexual demography: the impact of the slave trade on family structure. In: ROBERTSON, Claire; KLEIN, Martin (ed.). Women and slavery in Africa. Madison: University of Wisconsin Press, 1983, p. 46.
-
54
PANTOJA, Selma. Laços de afeto e comércio de escravos: Angola no século XVIII. Cadernos de Pesquisa do CDHIS, Uberlândia, v. 23, n. 2, p. 375-389, 2010; CANDIDO, Mariana P. African women in ecclesiastical documents, Benguela, 1760-1860. Social Sciences and Missions, Leiden, v. 28, n. 3-4, p. 235-260, 2015; CANDIDO, Mariana P. Concubinage and slavery in Benguela, c. 1750-c. 1850. In: OJO, Olatunji; HUNT, Nadine (ed.). Slavery in Africa and the Caribbean: a history of slavement and identity since the 18th century. London: New York: I. B. Tauris, 2012. p. 65-84; OLIVEIRA, Vanessa S. The Donas of Luanda… Op. Cit., capítulo 3.
-
55
AALNSC, 1760-1786, p. 168, 346. Não há numeração de página para o batismo de Antônio, mas a data é 29/07/1785.
-
56
Cf. MILLER, Joseph C. Way of death… Op. Cit.; FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico atlântico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995; ALENCASTRO, Luís Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000; SILVA, Alberto da Costa e. Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: UFRJ, 2003; FERREIRA, Roquinaldo. Cross-cultural… Op. Cit.
-
57
FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento… Op. Cit.
-
58
VARGAS, Eliseu J. Escravidão no vale do café: vassouras, senhores e escravos em 1838. Curitiba: Appris, 2015.
-
59
Cf. perspectivas diferentes sobre o assunto em GUDEMAN, Stephen; SCHWARTZ, Stuart. Purgando o pecado original… Op. Cit., p. 33-59; e GRAHAM, Sandra L. Caetana diz não: história de mulheres da sociedade escravista brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 69-75.
-
60
BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. Minas patriarcal: família e sociedade (São João Del Rei: séculos XVIII-XIX). São Paulo: Annablume, 2007, capítulo 4; GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro: trabalho, família, aliança e mobilidade social (Porto Feliz, São Paulo, c. 1798-c. 1850). Rio de Janeiro: Mauad: Faperj, 2008, cap. 5; FRAGOSO, João. Capitão Manuel Pimenta Sampaio, senhor do engenho do Rio Grande, neto de conquistadores e compadre de João Soares, pardo: notas sobre uma hierarquia social costumeira: Rio de Janeiro, 1700-1760. In: FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (org.). Na trama das redes: política e negócio no império português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 200-245; FRAGOSO, João. Elite das senzalas e nobreza principal da terra numa sociedade rural de Antigo Regime nos trópicos: Campo Grande (Rio de Janeiro), 1704-1740. In: FRAGOSO; João; GOUVÊA, Maria de Fátima (org.). O Brasil colonial, 1720-1821. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. v. 3, p. 241-306
-
61
MATTOSO, Kátia Mytilineou de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1982; GÓES, José Roberto. O cativeiro imperfeito. 1993. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1993.
-
62
SLENES, Robert. Senhores e subalternos no oeste paulista. In: ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.) História da vida privada no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. v. 2, p. 233-290.
-
63
RIOS, Ana Lugão. Família e transição. 1990. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 1990; GUEDES, Roberto. Na pia batismal: família e compadrio entre escravos na freguesia de São José do Rio de Janeiro (Primeira Metade do Século XIX). 2000. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000; FARINATTI, Luis Augusto. Os escravos do Marechal e seus compadres: hierarquia social, família e compadrio no Sul do Brasil (c. 1820-c. 1855). In: XAVIER, Regina Célia Lima (org.). Escravidão e liberdade: temas, problemas e perspectivas de análise. São Paulo: Alameda, 2012. p. 143-177; FARINATTI, Luis Augusto. Padrinhos preferenciais e hierarquia social na fronteira sul do Brasil (1816-1845). In: GUEDES, Roberto; FRAGOSO, João (org.). História social em registros paroquiais (Sul-Sudeste do Brasil, séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Mauad X, 2016. p. 102-128; MATHEUS, Marcelo dos Santos. A produção da diferença: escravidão e desigualdade social ao Sul do império brasileiro (Bagé, 1820-1870). 2016. Tese (Doutorado em História Social) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016, capítulo 4.
-
64
MATTOSO, Kátia Mytilineou de Queirós. A propósito das cartas de alforria: Bahia (1779-1850). Anais de História, [s. l.], n. 4, p. 23-52, 1972; SCHWARTZ, Stuart. The manumission of slaves in colonial Brazil: Bahia, 1684-1745. Hispanic American Historical Review, Durham, v. 54, n. 4, p. 603-635, 1974; EISENBERG, Peter. Homens esquecidos: escravos e trabalhadores livres no Brasil (séculos XVIII e XIX). Campinas: Editora da Unicamp, 1989; DE LA FUENTE GARCÍA, Alejandro. Alforria de escravos em Havana, 1601-1610: primeiras conclusões. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 139-159, 1990, p. 142; OLWELL, Robert. Becoming free: manumission and the genesis of a free black community in South Carolina, 1740-1790. Slave and Abolition, Abingdon-on-Thames, v. 17, n. 1, p. 1-19, 1996; FLORENTINO, Manolo. Alforrias e etnicidade no Rio de Janeiro oitocentista: notas de pesquisa. Topoi, Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, p. 9-40, 2002; FLORENTINO, Manolo. Sobre minas, crioulos e liberdade costumeira no Rio de Janeiro, 1789-1871. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p. 331-366; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá. A produção da liberdade: padrões gerais das manumissões no Rio de Janeiro colonial, 1650-1750. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileiro, 2005, p. 287-329; FARIA, Sheila de Castro. Sinhás pretas… Op. Cit.; GÓES, José Roberto. Padrões de alforria no Rio de Janeiro, 1840-1871. In: CAMPOS, Adriana et al. (org.). Nas rotas do império. 2. ed. Vitória: Edufes; Lisboa: IICT, 2014. p. 477-526.
-
65
Há escrituras de liberdade para Luanda do século XIX. Cf. FERREIRA, Roquinaldo. Slavery and the social… Op. Cit. p. 202, 317. Para outras searas no Brasil, geralmente ermos rurais, tendiam a prevalecer alforrias testamentais. Cf. MATTOSO, Kátia Mytilineou de Queirós. Testamentos de escravos libertos na Bahia no século XIX. Salvador: UFBA: Centro de Estudos Baianos, 1979; OLIVEIRA, Maria Inês Cortez. O liberto: o seu mundo e os outros, Salvador: 1790-1890. Salvador: Corrupio, 1988, passim; DAMÁSIO, Adauto. Alforrias e ações de liberdade em Campinas na primeira metade do século XIX. 1995. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1995, p. 9-13; PAIVA, Eduardo França, Op. Cit., passim; FARIA, Sheila de Castro. Mulheres forras: riqueza e estigma social. Tempo, Niterói, v. 5, p. 65-92, 2000; GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro… Op. Cit., capítulo 4.
-
66
AHU, Angola, cx. 37, doc. 88.
-
67
GUEDES, Roberto. Egressos do cativeiro… Op. Cit., capítulo 4.
-
68
Em Luanda, na freguesia da Sé, não há livros de batismos separados para livres e forros, de um lado, e escravos, de outro. No Brasil, cabe sublinhar que, comumente, “na passagem de escravo a forro deve-se não apenas conseguir a liberdade, mas também passar de um livro a outro. Pode-se ser forro no livro dos escravos ou no livro dos brancos, o que, além de registrar a liberdade, abre as portas para o ‘embranquecimento’”. SOARES, Mariza de Carvalho. Descobrindo a Guiné no Brasil colonial. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 161, n. 407, p. 84-85, 2000. Por isso, frequentemente os livros de livres também eram chamados de livros de brancos. Cf. GUEDES, Roberto. Livros paroquiais… Op. Cit.
-
69
SOARES, Márcio de Sousa. A remissão do cativeiro: a dádiva da alforria e o governo dos escravos em Campos dos Goitacases, c. 1750-c. 1830. Rio de Janeiro: Apicuri, 2009, p. 105.
-
70
LIMA, Lana Lage da Gama; VENÂNCIO, Renato Pinto. Alforria de crianças escravas no Rio de Janeiro do século XIX. Revista Resgate, Niterói, v. 2, n. 1, p. 26-39, 1991, p. 30.
-
71
SILVA, Cristiano Lima da. “Como se Livre Nascera”: alforria na pia batismal em São João del Rei (1750-1850). 2004. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2004, p. 40.
-
72
KIERNAN, James Patrick. The manumission of slaves in colonial Brazil: Paraty, 1789-1822. Nova York: NYP, 1976, p. 195-197.
-
73
De 1778 a 1807, houve apenas 166 alforrias de pia assinaladas em 3.300 registros de batismo. CURTO, José C. As if from a free womb: baptismal manumissions in the Conceição Parish, Luanda, 1778-1807. Portuguese Studies Review, [s. l.], v. 10, n. 1, p. 26-57, 2002, p. 36-37.
-
74
Sobre o excepcional normal, cf. GINZBURG, Carlo. A micro-história… Op. Cit.
-
75
CURTO, José C. As if from a free womb… Op. Cit., p. 26.
-
76
AALNSC, 1760-1786, 06/06/1786. Quando não houver página, a data de batismo serve de referência.
-
77
Sobre práticas de nomeação a partir de registros paroquiais, cf.: FLORENTINO, Manolo; GÓES, José R. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico: Rio de Janeiro, 1790-1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997; GUEDES, Roberto. Na pia batismal… Op. Cit.; GUEDES, Robert. Egressos do cativeiro… Op. Cit.; THORNTON, John K. Central African names and African-American naming patterns. The William and Mary Quarterly, Williamsburg, v. 50, n. 4, p. 727-742, 1993, p. 737; CURTO, José P. As if from a free womb… Op. Cit.
-
78
CURTO, José P. As if from womb… Op. Cit., p. 441 e ss.
-
79
THORNTON, John K. Central African names… Op. Cit., p. 737; CURTO, José P. As if from a free womb… Op. Cit.
-
80
HAMEISTER, Martha D. Para dar calor à nova povoação: estudo sobre estratégias sociais e familiares a partir dos registros batismais da Vila do Rio Grande (1738-1763). 2006. Tese (Doutorado em História Social) -Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006, capítulo “O segredo do pagé”.
-
81
Ibidem.
-
82
RUSSEL-WOOD, Antony J. R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005, p. 344.
-
83
Nem sempre a palavra forro significava que e pessoa fora escrava anteriormente. Poderia ser uma espécie de estatuto social, no caso dos chamados de “pretos forros Maxiluanda”. GUEDES, Roberto; CARVALHO, Ariane. Muxiluandas: memória política, escravidão perpétua, alforria e parentesco (Luanda, século XVIII) [S. l.: s. n.], [2021]. No prelo.
-
84
Isto é diferente da paróquia de Nossa Senhora dos Remédios. Frequentemente, usa-se “preta livre” ou “parda livre”, ou apenas “livre”, para aludir às alforriadas. Nesta freguesia, quase não se empregou a palavra forra. Por outro lado, o silêncio também atestava a condição de nascida livre (ingênua) das mães, não das forras.
-
85
AALNSC, 1770-1786, fl. 293v.
-
86
Ainda, o doutor físico-mor José Catela de Lemos, avô dos batizados, serviu de padrinho duas vezes, mas não sabemos se era avô paterno ou materno. AALNSC, 1770-1786, fls. 55, 91v, 111, 141v, 180v, e 08/08/1785.
-
87
AALNSC, 1770-1786, fl. s/n, data 11/06/1786. Neste batismo consta o sobrenome senhorial Andrade. Demais referências: fls. 125, 126, 136 v, 168, 294v, 305v, 337, 339 e 346, e datas 28/09/1785 e 25/09/1785. Quando não há numeração de página a data serve de referência para localização.
-
88
KARASCH, Mary. Slave life in Rio do Janeiro, 1808-1850. Princeton: Princeton University Press, 1987; REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do Levante dos Malês em 1835. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003; GUEDES, Roberto. Autonomia escrava e (des)governo senhorial na cidade do Rio de Janeiro da primeira metade do século XIX. In: FLORENTINO, Manolo (org.). Tráfico, cativeiro e liberdade: Rio de Janeiro, séculos XVII-XIX. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005. p. 229-283. Para as múltiplas formas de escravidão na África, cf. entre tantos outros, MEILLASSOUX, Claude. Antropologia da escravidão: o ventre de ferro e dinheiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995; STILWELL, Sean. Slavery and slaving in African history. Cambridge: Cambridge University Press, 2014; CAMPBELL, Gwyn (ed.). Structure of slavery in Indian Ocean, Africa, and Asia. Portland: Frank Cass, 2004. MEMEL-FÔTE, Harris. L’esclavage dans les sociétés lignagères de l’Afrique noire: exemple de la Côte d’Ivoire précoloniale, 1700-1920. 1988. Thèse (Doctorat d’État en Lettres et Sciences Humaines) -École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 1988; SEBESTYÉN, Éva. Escravização, escravidão e fugas na vida e obra do viajante-explorador húngaro László Magyar: Angola, meados de século XIX). In: GUEDES, Roberto; DEMETRIO, Denise; SANTIROCHI, Italo (org.). Doze capítulos sobre escravizar gente e governar escravos: Brasil e Angola (século XVII-XIX). Rio de Janeiro: Mauad X, 2017. p. 291-311.
-
89
O mesmo se observa entre mulheres escravas em Benguela. CANDIDO, Mariana P. African women… Op. Cit.; CANDIDO, Mariana P. Concubinage and slavery… Op. Cit.
-
90
Este reconhecimento distingue a Luanda setecentista das paróquias seiscentistas de Itaparica e Paripe, na Bahia, mas se assemelha à cidade do Rio de Janeiro ou de Campos dos Goytacazes até meados do século XVIII. Cf. KRAUSE, Thiago. Compadrio e escravidão na Bahia Seiscentista. Afro-Ásia, Salvador, v. 50, p. 199-228, 2014, p. 206; FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento… Op. Cit.; FRAGOSO, João. Apontamentos para uma metodologia em história social a partir de assentos paroquiais: Rio de Janeiro, séculos XVII-XVIII. In: FRAGOSO João; SAMPAIO, Antonio C. Jucá de; GUEDES, Roberto. Arquivos paroquiais e história social na América lusa, séculos XVII e XVIII: métodos e técnicas de pesquisa na reinvenção de um corpus documental. Rio de Janeiro: Mauad X, 2014. p. 19-126.
-
91
Frequentemente, registros paroquiais eram anexados a documentos de transmissão de herança, mas não apenas, em processos envolvendo portugueses falecidos em Luanda. Cf. vários exemplos em Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Coleção Feitos Findos, África.
-
92
AALNSC, fls. 111v, 161, 165v, 245, 313v.
-
93
No século XVIII isso também se observa nas cidades mineiras de São João del-Rei e Sabará, bem como no Rio de Janeiro e alhures. FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento… Op. Cit.; BRÜGGER, Silvia Maria Jardim, Op. Cit., capítulo 2; FRAGOSO, João. Apontamentos… Op. Cit.; DANTAS, Mariana. Picturing families between black and white: mixed descent and social mobility in colonial Minas Gerais, Brazil. The Americas, Cambridge, v. 73, n. 4, p. 405-426, 2016. A propósito, numa freguesia rural do Rio de Janeiro do início do XIX, um visitador anotou em um livro de batismo: “Sendo os batizados filhos legítimos de pais nascidos neste bispado, e também seus avós, se fará menção deles nestes assentos como se fossem brancos. Jacutinga, 30 de outubro de 1811. O visitador Barbosa”. Arquivo da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu, Livro de batismo de escravos da freguesia de Santo Antônio de Jacutinga (1807-1825), p. 49. Agradecemos muito a Moisés Peixoto Soares pela indicação dessa fonte. Branco, nesse caso, é o filho de pais casados nascido na freguesia. A moral católica e a naturalidade dos pais e avós davam parâmetros de brancura social e religiosa. A respeito, cf. SOARES, Moisés Peixoto. “Como se fossem brancos”: comportamento social e moral religiosa de forros e descendentes de escravos (Iguaçu e Jacutinga, Rio de Janeiro, c. 1790-c. 1850). 2019. Tese (Doutorado em História Social) -Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019, passim.
-
94
AALNSC, fls. 179v, 201, 282, 328.
-
95
AALNSC, fl. 194v e 20/03/1785.
-
96
AALNSC, fls. 245, 289 e 23/01/1786.
-
97
GUEDES, Roberto Ferreira; SOARES, Márcio de Sousa. As alforrias entre o medo da morte e o caminho da salvação de portugueses e libertos: Rio de Janeiro, segunda metade do século XVIII. In: GUEDES, Roberto; RODRIGUES, Cláudia; WANDERLEY, Marcelo da Rocha (org.). Últimas vontades: testamento, sociedade e cultura na América ibérica (séculos XVII e XVIII). Rio de Janeiro: Mauad X, 2015. p. 80-124.
-
98
CASTELNAU-L’ESTOILE, Charlotte de. Páscoa et ses deux maris: une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle. Paris: PUF, 2019.
-
99
AFONSOAFONSO X, El Sabio. Partida IV. In: AFONSO X, El Sabio. Las siete partidas. Madrid: Imprenta Real, 1807. Disponivel em: Disponivel em: https://archive.org/details/lassietepartidas01castuoft . Acesso em: 9 out. 2019.
https://archive.org/details/lassietepart... X, El Sábio. Partida IV. In: AFONSO X, El Sábio. Las siete partidas. Madrid: Imprenta Real, 1807. Disponível em: https://archive.org/details/lassietepartidas01castuoft. Acesso em: 9 out. 2019.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
18 Dez 2020 -
Data do Fascículo
2020
Histórico
-
Recebido
24 Set 2019 -
Aceito
27 Dez 2019
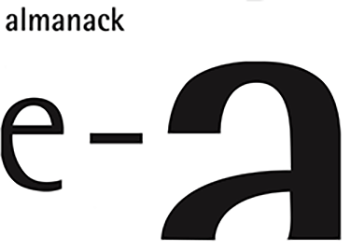








 Fonte: AALNSR, 1797-1799, fl. 157.
Fonte: AALNSR, 1797-1799, fl. 157.

 Fonte: CURTO, José C. A quantitative re-assessment of the legal Portuguese slave trade from Luanda, Angola, 1710-1830. African Economic History, Madison, n. 20, p. 1-25, 1992.
Fonte: CURTO, José C. A quantitative re-assessment of the legal Portuguese slave trade from Luanda, Angola, 1710-1830. African Economic History, Madison, n. 20, p. 1-25, 1992.
 Fonte: AALNSC, 1771-1786. Obs.: Tabulamos os nomes das mães, não o número de mães. Se uma mulher batizou dois filhos, foi contada duas vezes, por exemplo.
Fonte: AALNSC, 1771-1786. Obs.: Tabulamos os nomes das mães, não o número de mães. Se uma mulher batizou dois filhos, foi contada duas vezes, por exemplo.
 Obs.: No total, respectivamente, as mães cativas, forras e livres eram 70,5%, 22% e 7,5%.
Obs.: No total, respectivamente, as mães cativas, forras e livres eram 70,5%, 22% e 7,5%.

 (a) Percentual dos pais (b) percentual das mães. Excluímos casos em que não foi possível aferir a combinação
(a) Percentual dos pais (b) percentual das mães. Excluímos casos em que não foi possível aferir a combinação