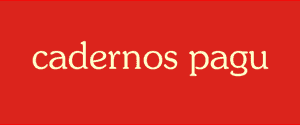Resumo
No artigo aborda-se o longa-metragem, de ficção, “Marcados para viver”, da cineasta brasileira Maria do Rosário Nascimento e Silva (1949-2010), lançado em 1976. Este filme inova, entre outros aspectos, ao ser protagonizado por uma personagem cujas identidades, sexual e de gênero, não se fixam na lógica binária masculino/feminino. Parte-se da perspectiva de Alison Butler sobre o que considera o cinema de mulheres como “cinema menor” e, em que a condição de marginal, de periférico ou de minoritário lhe engendra a potência criativa de inventar outros espaços, outras consciências e sensibilidades. Complementa-se, em outra chave, com os apontamentos de Patrícia White sobre o “cinema menor lesbiano”. A denominação “cinema de mulheres”, muito utilizada nos anos 1970, inclusive no Brasil, para se referir a filmes realizados por mulheres, constitui, na teoria feminista, designação eminentemente política para demarcar o campo e determinados sujeitos, não configurando qualquer defesa essencialista da categoria “mulheres”. Neste artigo, analisa-se o primeiro filme ficcional brasileiro, realizado por uma mulher, a levar para as telas uma personagem lésbica, destacando sua recepção na imprensa brasileira e na censura à época do lançamento.
Cinema de Mulheres; Cinema-Menor; Lesbianidade; Ditadura
Abstract
This article explores the fictional feature film "Marcados para viver" (1976), by Brazilian filmmaker Maria do Rosário Nascimento e Silva (1949-2010). This film is innovative, among other reasons, for starring a character whose sexual and gender identity is not fixed in the male/female binary logic. It is based on the perspective of Allison Butler, who considers women’s cinema as "minor cinema", in which the condition of marginal, peripheral or minority allows the creative power to invent other spaces, consciousness and sensitivity. It is further complemented by Patricia White's work on "Lesbian Minor Cinema". The term "women's cinema", widely used in the 1970s, including in Brazil, to refer to films made by women, constitutes an eminently political designation, in feminist theory, to demarcate the field and certain subjects, not configuring any essentialist defense of the category "women". The article analyzes the first Brazilian fictional film made by a woman to bring a lesbian character to the screen, highlighting its reception in the Brazilian press and censorship at the time of its release.
Women’s Cinema; Minor Cinema; Lesbianism; Dictatorship
Introdução
O cinema deve ir mais rápido que os costumes, as mulheres devem inventar seu próprio futuro, modificando suas próprias representações (Agnès Varda citada por Millán, 1999MILLÁN, Márgara. Derivas de un cinefemenino. México, UNAM-PUEG, 1999.:44).
Se a década de 1970 foi “visionária e radical”, conforme a considerou Teresa de Lauretis ao se debruçar sobre as teorias feministas e sobre o cinema nos contextos europeu e estadunidense do período (2015:110), no Brasil, tais anos são compreendidos como de “biotônica vitalidade” no campo da cultura, apesar da ditadura civil-militar instaurada em 1964 (Hollanda, 2004HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2004.:99).
As cineastas brasileiras longas-metragistas, de ficção, tornaram-se expoentes dessa força criativa e de resistência.1 1 Munerato e Oliveira (1982) estabeleceram uma lista de longas-metragens, de ficção, realizados por mulheres no Brasil nos anos 1970: O segredo da Rosa, de Vanja Orico (1973); Mestiça, de Lenita Perroy (1973); Os homens que eu tive (1973), de Tereza Trautmann – liberado pela censura, dez anos depois, com o título Os homens e Eu; Encarnação, de Rose Lacreta (1974); Feminino Plural, de Vera de Figueiredo (1976); Marcados para viver, de Maria do Rosário (1976); Cristais de Sangue, de Luna Alkaly (1976); Mar de Rosas, de Ana Carolina (1977); A mulher que põe a pomba no ar, de Rosangela Maldonado (1977) e Samba da criação do mundo, de Vera de Figueiredo (1978) Sintonizadas com as tendências políticas e estéticas daqueles anos em que teóricas feministas do cinema, como Clair Jonhston e Laura Mulvey, chamavam a atenção para o “cinema de mulheres”, as brasileiras lançavam-se na realização cinematográfica enfrentando tanto um meio hegemonicamente masculino quanto os tabus de uma sociedade tradicional, reacionária e autoritária, sob o regime de ditadura civil-militar.2 2 A denominação “cinema de mulheres”, muito utilizada nos anos 1970, inclusive no Brasil, para se referir especificamente a filmes realizados por mulheres constitui na perspectiva feminista designação eminentemente política para demarcar o campo e romper com a subalternização do papel feminino, não configurando qualquer defesa essencialista da categoria “mulheres”. Resulta de uma complexa construção crítica, teórica e institucional, composta pela rede de produtores(as) culturais que circundam o fazer cinematográfico (cineastas, jornalistas, curadores, críticos e acadêmicos), além da plateia. Trata-se de uma expressão empregada, no início daquela década, pelas teóricas feministas do cinema como Laura Mulvey e Claire Johnston para indicar filmes realizados por mulheres, que se aproximavam do ideário feminista ao problematizarem a representação clássica de mulheres nas cinematografias, sendo que, para Johnston, esse tipo de cinema deveria implicar, igualmente, a linguagem do cinema, constituindo um contra-cinema.
Os filmes dessas cineastas foram noticiados na mídia impressa nacional sob a rubrica “cinema de mulheres” – quando não a mencionavam diretamente, indicavam nas reportagens a especificidade de terem sido feitos por mulheres, sem adentrar, entretanto, nas questões políticas próprias da representação das mulheres na produção cultural, inerentes ao uso dessa expressão pelas teóricas feministas. Apesar dessa designação referir-se a um conceito de difícil definição, há três aspectos que o delineia, segundo Alison Butler (2002BUTLER, Alison. Women's cinema: the contested screen. London, Wallflower press, 2002.:1), remete a filmes realizados, endereçados ou que implicam questões próprias às mulheres. A autora acrescenta:
não se trata de um gênero, nem de um movimento na história do cinema; não tem uma única linhagem, nem fronteiras nacionais, tampouco especificidades fílmicas ou estéticas, mas atravessa e negocia cenas cinematográficas e tradições culturais e debates críticos e políticos (Butler, 2002BUTLER, Alison. Women's cinema: the contested screen. London, Wallflower press, 2002.:1, tradução minha).
Nessa chave, já em Os homens que eu tive (1973), de Teresa Trautman, um dos primeiros filmes dirigidos por mulheres naquela década, passando pelo Feminino plural (1976), de Vera de Figueiredo, Marcados para viver (1976), de Maria do Rosário do Nascimento e Silva e Mar de Rosas (1977), de Ana Carolina – para citar apenas alguns –, suas diretoras não se furtaram a empreender o que Agnès Varda salienta, na epígrafe citada, como desafio para o cinema e, em especial, para as mulheres.
Essas cineastas ressignificaram a representação predominante no cinema, atribuindo o protagonismo de suas tramas às personagens femininas e levando questões da agenda da segunda onda feminista para as telas – observadas, então, nos Estados Unidos e em países europeus. Mostravam aspectos das políticas do corpo (gravidez, aborto, sexualidade e prazer), além de temas sobre matrimônio e violência.3 3 Na última década diferentes trabalhos acadêmicos têm sido realizados na tentativa de recuperar as trajetórias dessas cineastas e de seus filmes, ver: Cavalcante, Alcilene; Holanda, Karla (2013); Veiga, Ana (2013); Esteves, Flavia (2007). Para um período mais amplo e diferentes formatos cinematográficos, ver Holanda, 2017. E isso, sem se autodenominarem feministas, evitando o vínculo a um termo envolto de preconceitos, estereótipos e motivo de deboches, à época (Holanda, 1992:54; Soihet, 2007SOIHET, Rachel. Feminismos e cultura política: uma questão no Rio de Janeiro dos anos 1970-1980. In: ABREU, Marta; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (org.) Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp.411-436.).4 4 Heloisa Buarque de Hollanda assinalou que a produção intelectual (e cultural) feminista era, frequentemente, rejeitada por intelectuais e artistas. Para ela, essa resistência na América Latina a se auto identificar com o feminismo expressa bem “a avaliação bastante negativa do feminismo” na região, o que certamente está relacionado às estruturas de poder e aos estereótipos vigentes (Hollanda, 1992: 54).
Elas fizeram seus filmes em meio ao empreendimento do projeto político moral do Estado de exceção, que reforçava no país os papeis tradicionais de gênero e a ideia de que a heterossexualidade consistia na única, natural, normal e saudável orientação sexual, ou seja, a “heterossexualidade compulsória”, conforme delineado inicialmente por Adriene Rich (1980) e Monique Wittig (1980).5 5 A heterossexualidade obrigatória ou compulsória tem sido retomada por diferentes teóricas feministas, a exemplo de Teresa de Lauretis (1988). Trata-se de chamar a atenção para a naturalização da heterossexualidade, cujos mecanismos de difusão, em seu mais amplo espectro, incentivam essa prática como sendo o destino considerado normal para mulheres e homens. Além disso, tal projeto enfatizava a inevitabilidade da reprodução, procurando invisibilizar, quando não rechaçar completamente, quaisquer outras práticas sexuais que se distanciassem desse suposto padrão. Teóricas feministas lésbicas esquadrinharam e problematizaram a heterossexualidade obrigatória, que teria capturado inclusive o pensamento feminista hegemônico. A política do regime ditatorial no Brasil não apenas legitimava a assimetria das relações entre homens e mulheres, ao tratar tudo o que se referisse ao suposto universo feminino como algo de somenos importância, como o próprio Estado civil-militar se estruturava por meio de relações hierárquicas de gênero, reiterando a instituição do matrimônio e o modelo tradicional de família, que, por sua vez, atribuíam às mulheres o papel exclusivo de esposas e mães, responsáveis pelos trabalhos domésticos e pela manutenção do lar, sob a tutela de homens (pai, marido, irmãos e filhos).
Por essa razão, as mulheres que atuaram politicamente em oposição ao regime ditatorial, como aquelas que participaram da luta armada, por exemplo, eram consideradas pelos agentes da repressão duplamente subversivas, conforme observou Ana Colling:
O homem cometia um pecado ao se insurgir contra a ditadura militar, mas a mulher cometia dois: o de lutar juntamente com os homens e o de ousar sair do espaço privado, a ela destinado historicamente, adentrando no espaço público, político e masculino (1997:80).
Essa presumível insubordinação de gênero foi violentamente punida nos aparelhos repressivos da ditadura civil-militar, que se estruturara enfatizando as violências sexual e de gênero, apuradas por Mariana Joffily (2011)JOFFILY, Mariana. Os Nunca más no Cone Sul: gênero e repressão política. In: PEDRO, Joana; WOLFF, Cristina; VEIGA, Ana (org.). Resistência, gênero e feminismos contra as ditaduras no Cone Sul. Florianópolis: Editora Mulheres, 2011, pp.213-232. e conferidas nos relatos recentes de mulheres que, naquele contexto, foram presas políticas (Merlino, 2010; Tega, 2019TEGA, Danielle. Tempos de dizer, tempos de escutar: testemunhos de mulheres no Brasil e na Argentina. São Paulo, Intermeios, 2019.). Acrescente-se que o Estado ditatorial fomentava ações de um aparato de violências simbólica, física e política que objetivavam estigmatizar e impedir a visibilidade de sexualidades consideradas desviantes (Green, 2014).
Naquela conjuntura política, o próprio feminismo, incipiente movimento social no país, adquiriu um contorno bem específico, ao não defender todos os pontos da agenda da segunda onda. Alinhado às esquerdas, que consideravam secundárias e burguesas as questões relativas à igualdade entre homens e mulheres, e silenciando-se sobre as questões do corpo – especialmente sobre aborto e sexualidades –, os grupos de mulheres que se opuseram às opressões consideradas específicas, no Brasil, voltavam-se especialmente para as questões econômicas, de acesso das mulheres ao mercado de trabalho, passando a ser designado “feminismo da fome” (Soihet, 2007SOIHET, Rachel. Feminismos e cultura política: uma questão no Rio de Janeiro dos anos 1970-1980. In: ABREU, Marta; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (org.) Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp.411-436.; Cavalcante; Holanda, 2013CAVALCANTE, Alcilene; HOLANDA, Karla. Feminino Plural: história, gênero e cinema no Brasil dos anos 1970. In: Bragança, Maurício; TEDESCO. Marina. (orgs.) Corpos em projeção: gênero e sexualidade no cinema latino-americano. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2013, pp.134-152.; Soares, 2012).6 6 A historiografia brasileira tem intensificado os estudos sobre mulheres e relações de gênero durante a ditadura civil-militar no país, nas últimas décadas – inventariá-la escapa ao propósito deste artigo. Destaca-se, entretanto, que diferentes estudos esquadrinham a atuação de mulheres na política e delineiam a abrangência das ideias feministas no país, como se verificam nos trabalhos de Ana Colling (1997), Susel Rosa (2013), Margareth Rago (2013) e naqueles reunidos por Joana Pedro e Cristina Wolff (2010) – para citar apenas algumas historiadoras. Todavia, faz-se necessário maior detalhamento dos estudos para ser possível associar, diretamente, a atuação política de mulheres nos anos 1970, por exemplo, pela anistia e pela redemocratização, ao feminismo. É certo, no entanto, que as ideias feministas circulavam em tal âmbito, sendo notada a recrudescência desse movimento no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 1970.
Nesses termos, as cineastas brasileiras insurgiram-se contra a tendência restritiva do feminismo no país. Levaram para as telas protagonistas femininas que exerciam a escolha de parceiros(as) afetivos(as), experienciando relações sexuais, inclusive fora do âmbito do matrimônio, como em Os homens que eu tive. Elas problematizavam o papel social atribuído às mulheres e a obrigatoriedade do casamento, sua rotina e a naturalização da reprodução, como se verificam ainda nos filmes Feminino Plural e Mar de Rosas. Teresa Trautman, Vera de Figueiredo e Ana Carolina, além de Maria do Rosário Nascimento e Silva, demonstravam não apenas o acesso e a adesão às ideias em circulação nos feminismos do hemisfério Norte, como transgrediam a ordem social vigente: seus filmes constituíam verdadeiros manifestos contra a “caretice brasileira” – para usar expressão própria daqueles anos –, assumindo um lugar de vanguarda e de contra-cinema.
Essas cineastas, por meio de seus filmes, encontravam-se inseridas no contexto de debates sobre o sujeito da representação e a espectatorialidade, fortemente em voga no âmbito das teorias feministas naquela década, que suscitaram a problematização do sexismo e do racismo no cinema. Tanto é assim que Feminino Plural (1976) destaca a diversidade do feminino, sendo o primeiro filme brasileiro a levar para a tela o tema da opressão racial às mulheres negras. Em uma sequência emblemática desse filme, a personagem de Léa Garcia sai de um baú e – através de sua própria voz – menciona a discriminação e a coisificação sofridas ao longo dos tempos por ser mulher negra (Cavalcante, 2017CAVALCANTE, Alcilene. Cineastas brasileiras (feministas) durante a ditadura civil-militar. In: HOLANDA, Karla; TEDESCO, Marina (org.). Feminino e plural: mulheres no cinema brasileiro. Campinas, Papirus, 2017, pp.59-76.). Além disso, as cineastas enfrentaram as convenções do cinema, trabalhando também a linguagem.
O “cinema de mulheres” pode ser considerado como “cinema menor”. De acordo com Alison Butler, a sua condição de marginal, de periférico ou de minoritário lhe engendra a potência criativa de inventar outros espaços, outras consciência e sensibilidade (Butler, 2002:21). O “cinema menor”, nessa perspectiva de Butler, dialoga com o conceito de “literatura menor”, de Gilles Deleuze e Felix Guattari, elaborado em Kafka. Exprime questões de um grupo minoritário ou marginalizado – como é o caso de mulheres cineastas –, mas que se infiltra em um espaço mais amplo, apropriando-se e transformando, no caso específico do cinema, códigos, temas e valores predominantes na área, o que lhe confere já certo potencial de rebeldia (Butler, 2002:22).
Neste artigo abordaremos, especificamente, o longa-metragem, de ficção, Marcados para viver, da cineasta brasileira Maria do Rosário Nascimento e Silva (1949-2010). Este filme é ambientado no tempo presente de seu lançamento, em 1976, e mostra o cotidiano e a relação afetiva entre três personagens considerados marginais, em Copacabana: um(a) pivete, uma prostituta e um bandido-michê. De acordo com o libreto do filme, Jojô (Tessy Callado) é um(a) pivete, cuja identidade de gênero não se fixa. “Homem ou Mulher – não importa. Limpador de carro, passador de maconha (...). Está sozinho no mundo” (Rosário P.C., 1976). Rosa (Rose Lacreta), por sua vez, é uma prostituta, que exerce a profissão de dançarina num cabaré. Eduardo (Sérgio Otero) é um bandido/mocinho, “um príncipe marginal. Sozinho, trabalha por conta própria no mundo do crime: [faz] pequenos assaltos”.
A personagem Jojô quebra o padrão de gênero, conforme será detalhado abaixo. Já a personagem Rosa, ao exercer a prostituição, segue em parte as convenções de gênero daquele momento, em que lampejos de inovações no âmbito da moda e dos comportamentos alcançavam timidamente o Brasil sob o regime ditatorial (Setemy, 2019SETEMY, Adrianna. Entre a revolução dos costumes e a ditadura militar: as dores e as cores de um país em convulsão. São Paulo, Letra e Voz, 2019.). Tal personagem é construída a partir do estereótipo de feminilidade vigente na classe média urbana, naqueles anos – especialmente em se tratando de uma prostituta. A personagem feminina, liberada sexualmente, mas seletiva quanto aos seus clientes, esbanja sensualidade, usando saias, vestidos, salto e maquiagem. Fuma e demonstra certa fragilidade emocional em alguns momentos – comportamento esperado socialmente de mulheres.
Eduardo, como os jovens rapazes urbanos de classe média do período em que o filme é ambientado, traz elementos de uma masculinidade influenciada pela moda dos Beatles e de Pierre Cardin, como mencionado no libreto do filme. Assim, o personagem masculino ostentava cabelos longos, no lugar de cortes curtos, e usava calças justas e camisa desabotoada até o meio do dorso, ostentando colar e portando óculos de sol. Embora o personagem seja mostrado com um visual considerado moderno, seu comportamento desvela certos traços tradicionalmente atribuídos ao masculino: busca controlar a mulher, Rosa; está sempre disposto a se envolver sexualmente com outras mulheres, inclusive travestis; leva a Jojô para o seu relacionamento com Rosa.7 7 Embora os envolvimentos com a travesti e com a lésbica possam indicar certo relaxamento do comportamento considerado tradicional, procura-se realçar aqui o perfil de virilidade que se afirmava pelo envolvimento sexual indiscriminado.
A partir da perspectiva do “cinema de mulheres”, relacionado ao “cinema menor”, é possível assinalar que o filme de Maria do Rosário inovou em relação aos demais filmes realizados por mulheres no Brasil daqueles anos, entre outros aspectos, porque é protagonizado por uma personagem que coloca em tela a questão da sexualidade considerada desviante. Exibe identidades sexual e de gênero que não se fixam, inicialmente, na lógica binária masculino/feminino – o que rendeu censura ao filme.
“Maria do Rosário: uma mulher atrás da câmera”
As entrevistas concedidas por Maria do Rosário do Nascimento e Silva sobre o seu primeiro longa-metragem de ficção, Marcados para viver, e as dezenas de matérias sobre o filme publicadas na imprensa brasileira por ocasião de seu lançamento, em 1976, constituem fontes imprescindíveis para traçar um perfil da cineasta e subsidiar a análise fílmica, como é o caso da matéria intitulada “Maria do Rosário: uma mulher atrás da câmera”, publicada no jornal fluminense Última Hora (18 de agosto de 1976) – que serve de subtítulo para essa sessão.
Quando Maria do Rosário dirigiu o seu primeiro longa-metragem, já havia percorrido uma próspera carreira de atriz e figurado como modelo fotográfico nas capas das principais revistas do país, como a Manchete, Fatos e fotos e Cláudia. Havia dirigido os curtas-metragens Quarta-feira e Eu sou brasileiro.8 8 Maria do Rosário atuou como atriz nos seguintes filmes: Jardim de guerra, de Neville D’Almeida (1968), Os marginais, de Moisés Kendler e Carlos Alberto Prates Correia (1968), Capitu, de Paulo César Saraceni (1968), Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade (1969), Juliana do amor perdido, de Sérgio Ricardo (1970), Piranhas do asfalto, de Neville D’Almeida; As aventuras amorosas de um padeiro, de Waldir Onofre (1975), e Ninguém segura essas mulheres, de Harry Zalkowistch (1976). Ela conhecia, então, as dificuldades de se fazer cinema no Brasil. De acordo com as suas palavras, “conhecia a marginalização e a consequente conscientização”, acrescentando: “E, por ser mulher, Eu era duas vezes marginalizada. Depois, me casei e durante quatro anos fiquei afastada. Com o desquite voltei ao cinema” (Última hora, 18 de agosto, de 1976).
Adentrar o universo cinematográfico marcadamente masculino nos anos 1970 não era mesmo tarefa fácil para nenhuma mulher. Note-se que a cineasta também era atravessada, como não poderia deixar de ser, pelos cerceamentos impostos às mulheres, inclusive no âmbito do casamento. Em outra matéria não mencionaram o desquite, o fim de seu casamento, noticiaram apenas que Maria do Rosário afastou-se por algum tempo do cinema por ocasião do nascimento da filha (O Globo, 03 de dezembro de 1976).
A concepção de cinema de Maria do Rosário compreende a relevância da experiência em relação ao objeto a ser filmado, além de certa mirada realista, dirigida pelas questões sociais e políticas, sem deixar de priorizar, no entanto, a sensibilidade. O filme localiza-se na fronteira, no encontro entre o Cinema Novo e o cinema marginal. Nele, encena-se o cotidiano underground, marginal, de Copacabana, locus de vivências das personagens Jojô, Rosa e Eduardo. Mas o que a cineasta realmente pretendia fazer, de acordo com as suas palavras, era “mostrar a solidão das pessoas nos becos de uma cidade grande. A história de três solitários marginais que se encontram e pelo amor conseguem se fortalecer e romper o esquema” (O Globo, 03 de dezembro de 1976). Ela menciona que ao resolver fazer o filme
tinha plena consciência de que não poderia pretender grandes orçamentos e tinha que agarrar a oportunidade que lhe aparecesse. Queria diminuir o custo ao máximo – explica Maria do Rosário – e fugir às coisas estandardizadas. Eu me colocava entre o cinema dito marginal e o cinema do sistema. Ou ainda entre o cartesianismo, do Cinema novo, e o caos do cinema underground. O processo de realização do filme tem um pouco de cada coisa dessas. Tem até uma homenagem ao “Anjo nasceu”, de Julio Bressane (O Globo, 03 de dezembro de 1976).
É certo que as condições materiais, ainda mais restritas em se tratando de uma mulher diretora, influenciaram as opções estéticas do filme – como destacou a cineasta. Havia ali, entretanto, também um posicionamento de se manter a certa margem do sistema, do comercial. Ela se colocava, em certa medida, “fora do lugar”, guardando alguma “distância do sistema”, o que é explicitado melhor no trecho abaixo, que, apesar de longo, é bem ilustrativo dessa tendência:
O cinema é pra mim um testemunho pessoal das vivências sentidas e observadas. Tento recapturar o meu mundo não de uma forma desligada, mas absorvendo a realidade brasileira que está mais próxima de mim, mostrando-a da forma mais crua possível. (...) Os meus dados e minhas angústias são também as de qualquer pessoa. E eu só consigo filmar as coisas que interiorizei. O meu primeiro filme longo é carregado de emoção, porque o caos externo está refletido também em mim. O meu filme é sobre três marginais da zona sul, onde a gente topa todos os dias com a miséria em todos os níveis. Jojô, Eduardo e Rosa são pessoas que conheci. Existem muitos como eles espalhados pela cidade. Eu não poderia falar de coisas que não tenha visto de perto ou vivenciado inteiramente. “Marcados pra viver” pretende ser uma denúncia (O Globo, 03 de dezembro de 1976).
Maria do Rosário realiza, então, o que é possível denominar “cinema menor”, tanto pelo lugar que ocupa quanto pelos recursos que utiliza e a forma que emprega.9 9 A partir de diferentes definições de “cinema-menor”, Patricia White (2008:412) destaca que o cinema, nessa chave, pode ser “entendido mais diretamente como o uso de recursos limitados de uma maneira politizada, tendo sido produtivamente elaborado em vários contextos, do filosófico ao pragmático”. Ao se colocar no lugar da emoção, da entrega e da subjetividade ela demarca claramente uma posição de distanciamento em relação ao padrão da indústria.10 10 É importante assinalar que, para Maria do Rosário, o lugar da emoção, da subjetividade, não é essencialmente das mulheres. Ela reconhece que os cineastas Nelson Pereira dos Santos e Julio Bressane também o ocupavam, conforme destacaremos adiante. Nesse sentido, Márcia Guimarães, ao entrevistar Rosário, destacou: “ela se ilumina inteira falando das noites que passou na [Avenida] Prado Júnior, das madrugadas na [boate] Casa Nova, de pivetes e marginais, de antros e calçada” para fazer seu filme (Última hora, 18 de agosto, de 1976). Isso é reiterado em outro pronunciamento da diretora em que aponta que a proposta de seu filme surgiu de seu interesse pela vida que acontece fora das estruturas convencionais, o que “sempre lhe fascinou”, e que aparece em páginas policiais como sendo marginal. Para ela: “Aí está o mundo” (Jornal do Brasil, 20 de setembro de 1976).
Essa tomada de posição vai tanto ao encontro do que se denomina “cinema menor” quanto do que bell hooks assinalou a respeito da the politics of location, que implica, segundo a autora, a formação de um campo cultural contra-hegemônico e, desse modo, transgressor e de oposição política. Aderir a esse campo exige um posicionamento sobre as fronteiras opressivas estabelecidas pela raça, sexo e dominação de classe. Trata-se, pois, de uma escolha em relação aos oprimidos, o que configura um gesto político desafiador. A autora assinala que isso
molda e determina nossa resposta à prática cultural existente e nossa capacidade de vislumbrar novos atos estéticos oposicionistas e alternativos. Ele informa a maneira como falamos sobre esses problemas, a linguagem que escolhemos. A linguagem também é um lugar de luta (bell hooks, 1989bell hooks. Choosing the margin as a space of radical openness. Framework: The Journal of Cinema and Media, n. 36, 1989, pp.15-23.:15, tradução minha).
Maria do Rosário escolheu filmar e apresentar o ponto de vista de pessoas consideradas marginais. Ela sabia sobre os limites da sociedade em que estava inserida, que se acentuavam com o regime de ditadura civil-militar. E trabalhou a linguagem cinematográfica para defender a sua posição, assinalando:
Tive de usar de símbolos e metáforas o tempo todo. Esse é um pouco o preço que se paga para não deixar de dizer as coisas que se considera importantes em relação à nossa realidade. (...) E era exatamente isso que eu queria: romper. Acho que é o tipo de filme que não abdicou de uma visão política da realidade brasileira e ao mesmo tempo tem diálogo com o público (O Globo – 03 de dezembro de 1976).
Em 1976, a despeito dos acenos de abertura ou distensão política anunciados pelo governo Geisel, a violência política, a repressão aos comportamentos considerados desviantes, assim como a censura à imprensa e às artes continuavam em curso (Marcelino, 2011MARCELINO, Douglas Attila. Subversivos e pornográficos: censura de livros e diversões públicas nos anos 1970. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2011.; Ocanha, 2014OCANHA, Rafael. As rondas policiais de combate à homossexualidade na cidade de São Paulo (1976-1982). In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.149-176.). Maria do Rosário, para filmar nesse cenário de ditadura, usou artifícios de linguagem. Esse aspecto técnico e político expresso em seu filme fora observado com acuidade por José Carlos Avellar, em matéria que publicou sobre Marcados para viver (Jornal do Brasil, 07 de dezembro de 1976).
Em tal análise, o crítico dialoga com a canção-carta Meu caro amigo, de Chico Buarque, a ponto de tomar de empréstimo um dos versos dessa música para intitular sua matéria – “A coisa aqui está preta”.11 11 Nessa música, Chico Buarque parte da melodia de um choro de autoria de Francis Hime – que, por sua vez, assina o projeto musical de Marcados para viver – para escrever a letra dessa canção que consiste em uma carta para seu amigo, o dramaturgo Augusto Boal, que se encontrava no exílio em decorrência da violência de Estado, cometida naqueles anos de ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985). E assinalou que
Marcados para viver pertence à linha daqueles filmes em que as pessoas se afirmam conscientemente à margem, por fora, em qualquer ponto ali entre um beco da fome e um cinema, dispostos não só a falar de quem vive à margem, mas dispostos também a procurar um novo estilo de filmar (Jornal do Brasil, 07 de dezembro de 1976).
Avellar chama atenção para a função especial que a trilha sonora musical do filme adquire na trama, destacando que Maria do Rosário inverteu o comportamento tradicional ao utilizar muitos trechos de canções populares de Roberto Carlos, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Chico Buarque, Maria Betânia – para citar alguns – em substituição a diálogos ou a narração. Assim, em diferentes passagens do filme a música abafa a fala dos personagens, sendo que os diálogos “ficam a meio volume, por baixo da música” (Jornal do Brasil, 07 de dezembro de 1976). Ele acrescentou:
estes fragmentos [de canção] começam e acabam de modo brusco. A duração do som é determinada pela duração do plano. Se necessário, a gravação original é alterada, para que a frase cantada se encaixe com perfeição na imagem (Jornal do Brasil, 07 de dezembro de 1976).
Emblemática desse recurso é a sequência em que Rosa sai da boate onde trabalhava, após se recusar a fazer programa com um policial que a cortejara, e é detida por outros policiais, sendo colocada, não sem resistência, no carro de polícia. O plano é marcado pelo som da sirene da música Acorda amor, de Chico Buarque, e o último quadro enfoca a sirene da viatura (Cavalcante, 2017CAVALCANTE, Alcilene. Cineastas brasileiras (feministas) durante a ditadura civil-militar. In: HOLANDA, Karla; TEDESCO, Marina (org.). Feminino e plural: mulheres no cinema brasileiro. Campinas, Papirus, 2017, pp.59-76.).
Trata-se, pois, de um recurso de montagem utilizado tanto para dar conta de atores/atrizes amadores/as, cujas personagens são protagonistas, como para codificar mensagem naquele contexto de censura, além de tocar mais diretamente os(as) espectadores(as). Tanto é assim que o referido crítico acentuou que um dos propósitos de Marcados para Viver é “levar o espectador a sentir uma sensação de desconforto (...), a se achar tão insatisfeito e rebelde quanto os personagens. E para isso, os fragmentos de música são mais importantes que os diálogos em tom natural” (Jornal do Brasil, 07 de dezembro de 1976). Avellar arrematou:
O estilo da narração é assim fracionado porque o filme não pretende retratar com fidelidade uma pivete, uma prostituta e um marginal de Copacabana. Serve-se destes três personagens como fantasias cinematográficas, para representar com maior eficiência essa desagradável sensação de que as coisas aqui estão pretas (Jornal do Brasil, 07 de dezembro de 1976).
Se Marcados pra viver tem esse viés político de denúncia, como a própria diretora mencionou na entrevista citada acima, o filme entra ainda na história do cinema brasileiro por meio da brecha aberta pelo Amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos.12 12 Saliente-se que, em outra perspectiva, o articulista Oscar Guilherme Lopes assinalou que o filme de Rosário é “ingênuo e nada realista”. Centrado em personagens do lumpenzinato urbano, a diretora projetou os anseios da classe média e esvaziou politicamente o filme. Para ele: “como não há análise do grupo social, toda reação violenta das personagens é vista de uma maneira “fechada”, individualista, de atendimento a necessidades imediatas, sem qualquer conotação política” (“Fazendo a Cabeça com guaraná”. Opinião, 1976). Em contrapartida, o recorte micropolítico de Rosário vai ao encontro da formulação de “cinema menor”, na perspectiva de Deleuze e Guattari, segundo a qual o “espaço apertado da pequena literatura força cada intriga individual a se ligar imediatamente à política” (apudWhite, 2008:415). De acordo com as palavras da cineasta,
O “cinema novo” tinha se fechado sobre si mesmo. Depois dos primeiros filmes, foi ficando cada vez mais hermético e simbólico, para ser visto por uma minoria. Tinha perdido a linguagem. Com Amuleto de Ogum inaugurou-se uma nova fase do Cinema novo, seguida de Perdida, de Fernando Campos, Ladrão de câmera e As aventuras amorosas de um padeiro, que também pertencem a essa nova abertura. Aqui já existe um amadurecimento muito maior da coisa. É um cinema que não abre mão de um olhar social e nem do público a que se destina. Os diretores são quase todos estreantes, com uma nova linguagem mais direta e menos simbólica (Última hora, 18 de agosto de 1976).
Maria do Rosário reiterou, desse modo, que seu filme inseria-se em certa perspectiva do Cinema Novo, que se interessava pelo aspecto social e pelo público. Em outra entrevista, revelou a influência direta de Nelson Pereira dos Santos e também de Júlio Bressane em sua concepção de cinema, salientando, no entanto, que essa aproximação se deu antes de seu casamento com Pereira dos Santos, e enfatizou: “vi nos dois, principalmente, uma não-preocupação com a forma. Ela aparece de maneira instintiva. São cineastas mais emocionais” (Jornal do Brasil, 20 de setembro de 1976).13 13 Essa observação sobre os cineastas mencionados serem “mais emocionais” rechaça, conforme assinalado em nota anterior, a ideia de essa característica ser algo exclusivamente de mulheres. Contudo, Maria do Rosário defendeu em uma entrevista que “a mulher tem uma maneira de olhar o mundo bem diferente do homem. Talvez os nossos filmes sejam mais delicados”.
Marcados para viver consiste, então, em um projeto cinematográfico no qual a diretora optou por deslocar o olhar para “a vida que acontece às margens do sistema”. Adotou uma posição não de marginal no cinema nacional, mas de “menor” no sentido de se posicionar a certa distância do sistema, tanto pela sua condição de mulher quanto pelos recursos materiais e opções política e estética. Filiou-se a novas tendências estéticas e manipulou códigos e convenções relativas à linguagem, a narrativa e à representação.
As identidades de gênero e sexual de Jojô: seria ela lésbica?
Seria a Jojô (Tessy Callado), de Marcados para viver, a primeira personagem lésbica do “Cinema de mulheres” brasileiro? É certo que em Os homens que eu tive (1973), de Teresa Trautman, há uma cena que sugere a relação sexual entre duas amigas, mas isso na chave do amor livre, passível de ser vivido entre as pessoas e sem maiores comprometimentos. Em Feminino plural (1976), de Vera de Figueiredo, essa possibilidade também se insinua nas primeiras cenas de confraternização entre diferentes mulheres, em que duas delas acordam juntas em uma rede. Mas, na última sequência desse filme, todas voltam a se reunir em uma festa e cada uma delas tem um homem como par.14
14
Trata-se de rápidas alusões a encontros afetivos entre mulheres, de cumplicidade, de amizade e de sexo eventual, que se aproximam do que Adriene Rich denominou continuum lésbico. Para uma crítica sobre como esse tipo de designação retira o caráter sexual da lesbianidade, ver Tráfico sexual – entrevista (cadernos pagu (21), 2003:175).
É, então, em Amor maldito, de Adélia Sampaio, lançado em 1984, que a relação lesbiana torna-se mote da trama, configurando o primeiro filme lésbico dirigido por uma mulher – e negra – no Brasil, o que é reiterado no estudo sobre a personagem homossexual no cinema brasileiro, de Antônio Moreno (Cavalcante, 2016CAVALCANTE, Alcilene. A lesbianidade nas telas brasileiras da transição democrática: o protagonismo de Amor maldito, de Adélia Sampaio. Mato Grosso, Revista eletrônica Documento/monumento. vol. 18, n. 1, 2016, pp.142-155 [https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revistas-anteriores/revista-dm-18.pdf – acesso em 20 de dezembro de 2018].
https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revist...
).
De fato, o tema central de Marcados para viver não é a relação amorosa e sexual entre duas mulheres, como se executa no filme de Sampaio. Aborda-se, no filme de Maria do Rosário, a relação entre uma pivete, uma prostituta e um bandido-michê, constituindo um triângulo amoroso, sobre o qual discorreu Munerato (2008).15 15 Apesar da recorrência de triângulos amorosos em filmes realizados por mulheres no Brasil, houve uma alteração nesse formato de relacionamento a partir dos anos 1970, especificamente nos filmes Os homens que eu tive e Marcados para viver. Neles, o triângulo não é apresentado de maneira conflituosa, isto é, não abala drasticamente a relação do casal. No filme de Maria do Rosário: “Eduardo, Rosa e a pivete Jojô formam um triângulo amoroso. Essa conjugação é vivida pelas personagens sem conflitos muito fortes. Jojô sente ciúmes quando Rosa mantém relações sexuais com um homem, mas não vive essa mesma emoção quando Rosa mantém relações com Eduardo. Este se sente com direitos em relação à Rosa – “Você é minha” e, em certas passagens do filme há indícios do ciúme dele quanto ao envolvimento entre Jojô e Rosa. Já a dançarina sente ciúme quando vê Eduardo flertando com uma travesti, mas não reage assim quando Eduardo está com Jojô. Desse modo, de acordo com Munerato, pode–se inferir que entre Rosa e Jojô há cumplicidade). Note-se, contudo, que na trama, a despeito da proposta de uma relação sem conflitos significativos entre os três personagens e da suposta cumplicidade entre Rosa e Jojô, sobressaem certa assimetria de gênero e o traço heterossexual, o vértice do personagem masculino, é mais acentuado e o desfecho do filme estabelece o aniquilamento da relação lesbiana.
Todavia, a peculiaridade da personagem Jojô revela-se desde o início. Em sequência externa, enfocando o trânsito de carros em Copacabana, entra em quadro uma personagem que, de cabelo desgrenhado e esvoaçante, vestida de calça e portando um paletó, caminha despojadamente até um cômodo aos fundos de um estabelecimento comercial. Trata-se de Jojô que, no plano seguinte, em um dormitório, é mostrada dialogando fantasiosamente com uma boneca, como se fosse a mãe do brinquedo. Essa brincadeira, muito comum entre meninas, vai desvelando que aquela personagem não era um homem. Em diferentes sequências do filme, ela aparece como uma jovem lésbica butch em situação de rua.16 16 A designação lésbica butch era usada para se referir às lésbicas cujos perfis eram considerados masculinizados. Saliente-se que o filme foi realizado em um período no qual as discussões que abordavam gênero e sexualidade – apenas iniciadas nos Estados Unidos – ainda não encontravam aporte público no Brasil.
Em uma das sequências, Jojô encontra uma mulher, em um espaço público, que a leva para a sua casa. A madame, como era referida tal mulher, fala de solidão, que o marido se encontrava viajando, e tem relações sexuais com a jovem lésbica, no sofá da sala – o que aparece em quadro. Em outra sequência, Jojô encontra-se na casa de Rosa. Conversam sobre a sua vida de abandono e a dançarina a acolhe, afagando-a e lhe presenteando com uma roupa considerada unissex, um macacão jeans.
O desejo lésbico entre essas duas personagens é construído como uma relação de afeto e cumplicidade, sendo que a relação sexual entre elas é apenas insinuada em uma cena onírica, em que a pivete relacionava-se sexualmente com Eduardo. Em tal sequência, a câmera se movimenta enquadrando as carícias entre os dois. De repente, Rosa aparece desfocada, em quadro, e sua mão desliza sobre o corpo de Jojô, desde os pés. No plano seguinte, Eduardo e Jojô encontram-se deitados, nus, relaxados e a pivete diz sentir saudade de Rosa, desvelando que o ponto de vista da câmera consistia em seu desejo pela dançarina. Já a bissexualidade de Rosa é mostrada por meio da fantasia de Jojô e na forma de gestos e palavras carinhosas que a dançarina pronuncia para a pivete, paralelamente ao seu relacionamento com Eduardo.
Todavia, seja no libreto do filme de Rosário, seja nas dezenas de matérias jornalísticas que o cobriu, não aparecem os termos “lésbica”, “lesbianismo” ou “homossexualismo” – termo usado no período – para se referir à protagonista. A ênfase recai, sobretudo, no trabalho de interpretação de Tessy Callado e, quando se aborda mais precisamente a personagem, volta-se para um sujeito supostamente a-gênero (que, hoje, poder-se-ia denominar queer) – pivete; quando Jojô é referida, é acompanhada pelo artigo definido masculino – o pivete – ou indefinido, igualmente masculino – um pivete. Em apenas três matérias, a personagem é tratada no feminino, como “uma pivete”, sendo uma delas de autoria de Carlos Avellar, destacada anteriormente.
Na revista Fatos e fotos/Gente, Jojô é mencionada como uma “adolescente vadia”.17 17 Ah, esses termos: “adolescente vadia”, no sentido de vadiar, que perambula; ou, vadia, no sentido pejorativo de fazer coisas consideradas promíscuas ou transgressoras?! De qualquer maneira, esse adjetivo remetia à Lei de vadiagem, legitimando a repressão policial durante a ditadura civil-militar às pessoas que transitavam pelas ruas, sem comprovar vínculo empregatício por meio da carteira de trabalho. Tratava-se de um instrumento significativo para reprimir homossexuais, travestis e prostitutas, apurado por Ocanha (2014). Segue o fragmento:
Sobre o filme Marcados para viver, de Maria do Rosário, exibido recentemente no Festival do Filme Feminino, no cinema Studio, de Nova York, o crítico Richard Eder, do jornal New York Times, escreveu: “É uma tentativa de criticar a moderna sociedade brasileira através da história de três marginais: uma prostituta, uma adolescente vadia, um escroque, que se conhecem, vão morar juntos num apartamento pequeno, num mènage à trois e dão uma série de golpes amadorísticos, com os resultados mais desastrosos. (...) O estilo da atriz Tessy Callado (que lembra Maria Schneider) é excêntrico, áspero e eventualmente cabotino (Fatos e fotos/Gente, s/d).
Em outra matéria, o articulista Oscar Guilherme Lopes não apenas se refere à Jojô como uma pivete, mais ainda destacou, de maneira explícita, as questões de gênero e de sexualidade engendradas nessa personagem de Marcados para viver:
Jojô é uma personagem mais complexa, é mulher, mas briga com os outros moleques na rua, se veste com roupas de rapaz, executa tarefas “masculinas”; tem o inconformismo romântico de Rosa e o inconformismo violento de Eduardo; é o “feminino” e o “masculino”; é Rosa e Eduardo ao mesmo tempo, é a síntese (Opinião, Fazendo a cabeça com Guaraná, s/d).
Os papeis de gênero na sociedade brasileira dos anos 1970 eram, pois, fortemente demarcados de maneira binária, vinculados à sexualidade, não escapando completamente o filme de Maria do Rosário desse padrão. Ainda assim, Jojô é colocada no entre-lugar, no início da trama: não é homem, nem mulher, é as duas coisas. Para a diretora, a sua personagem é assim: “homem ou mulher, não importa” – é como consta no libreto do filme e nas entrevistas que concedeu. Trata-se, no entanto, da representação de uma mulher jovem que se veste com o que a sociedade reservou aos homens, que faz atividades socialmente atribuídas aos homens e que se relaciona sexualmente com mulheres, embora no decorrer da trama passe a ter relações sexuais também com o personagem masculino, Eduardo. Seria Jojô lésbica e, depois, tornara-se bissexual – ao participar do triângulo com Rosa e Eduardo –, passando à heterossexualidade, ao se relacionar apenas com Eduardo, após o assassinato de Rosa pela polícia?18 18 Rosa, Eduardo e Jojô realizam pequenos assaltos para sobreviver até que em uma investida de maior vulto tudo dá errado, deparando-se com a polícia. Rosa é assassinada e os outros dois conseguem fugir. O relacionamento entre Eduardo e Jojô estreita-se ainda mais.
Não é o caso, evidentemente, de se buscar uma definição fechada de sexualidade da personagem de Marcados para viver, especialmente porque se considera os apontamentos de Tânia Swain (2016:13) sobre a fragilidade de se estabelecer “um núcleo identitário em torno de práticas que podem variar não só no tempo e no espaço, mas em relação aos próprios indivíduos e seus desejos”. Além disso, como a autora apurou: “as tipologias que se elaboram a respeito das possíveis relações homossexuais evidenciam a sua multiplicidade” (Swain, 2016:13).19 19 Essa multiplicidade homossexual é também destacada em um dos relatos na matéria sobre a lesbianidade, publicada no Lampião da esquina, conforme segue: “existem várias maneiras, as mais diversas, de sentir, praticar, viver a homossexualidade. Quase poderíamos dizer (se não fosse exagerar um pouco) que existem tantos homossexualismos quanto mulheres homossexuais. De qualquer forma, é muito difícil apresentar, logo de saída (e nem é nossa intenção), definições, diagnósticos ou coisa que o valha sobre o lesbianismo” (Lampião, 1979:8).
A própria ideia de “cinema menor”, em conexão com os apontamentos de Deleuze e Guattari (2002) sobre “literatura menor”, afasta-se de abordagens identitárias, situando-se melhor na perspectiva queer.20 20 Nessa chave, Karla Bessa propôs analisar certos filmes dos anos 1960 e 1970 que enfocaram a questão queer, sem nomeá-la como tal. Analisou filmes como o brasileiro A casa assassinada (1971), de Paulo César Saraceni, a partir do que ela denominou “estética da torção”. Para a historiadora, tal estética se verifica em “filmes que desestabilizaram visualmente os pilares morais da sexualidade heteronormativa e falocêntrica, das bases que norteiam a instituição familiar e as respectivas performances de gênero, tais como homem – paternidade/responsabilidade econômica e mulher – maternidade/responsabilidade doméstica. Estas torções estéticas se expressam nas narrativas que tocam nas chagas das estruturas sociais, com relevância para as desigualdades e hierarquias sociais relativas à racialização e divisão de classes, as hierarquias de gênero, a questão da faixa etária para as mulheres (com hipervalorização da juventude e da beleza) e da escolaridade, em especial para os homens. Estas torções passam pela escolha da corporalidade das atrizes (e idades das mesmas), o manejo de objetos cênicos, o trabalho com o gesto, o modo como as falas são deliberadas em determinados ângulos cuja ênfase visual dispara a curiosidade da audiência para algo que aparenta estar ‘fora do lugar’. Gosto do termo torção porque implica uma virada em torno de si mesmo, de uma coisa, objeto ou, no caso, todo um imaginário” (Bessa, 2017:295). Nesses termos, o filme de Maria do Rosário poderia ser analisado também sob a ótica da “estética da torção”, formulada por Bessa. No entanto, compreende-se que levar tal denominação (a queer) para aquele contexto brasileiro poder-se-ia incorrer em certo anacronismo. Considera-se ainda que, de acordo com Patricia White, associar o “menor” diretamente ao “queer”, cujo termo “flexiona em vez de se opor ao dominante”, “desterritorializa a sexualidade e a expressão” (White, 2008WHITE, Patricia. Lesbian minor cinema. Screen, 49 (4), 2008, pp.410-425.:411-12, tradução minha).21 21 Nesta análise, de perspectiva histórica, do Marcados para viver consideramos mais adequado a referência de Patricia White, segundo a qual: “Em vez de simplesmente alinhar o menor com o cinema queer, limito minha discussão a filmes específicos. Além disso, modifico menor com a lésbica e espero, assim, apresentar as associações de gênero (e pejorativas) com o termo anterior – a implicação do subpadrão, do banalizado, do descartado, da possibilidade real de que o trabalho menor expresse não apenas uma "pobreza voluntária", mas também subfinanciamento. Por meio dessa conjunção espero enfatizar a materialidade do menor e manter em jogo dimensões da sexualidade e da subjetividade de gênero que obviamente não são compatíveis com os modelos anti-identitários de fluxo (ou fluido) de Deleuze e Guattari ou com usos reflexivos do queer” (White, 2008:413-414, tradução minha).
Sobre o filme de Maria do Rosário o que chama a atenção é o silêncio mordaz, a indiferença, a falta de nomeação da homossexualidade de Jojô, tanto pela equipe realizadora do filme quanto pela imprensa. Isso talvez configure indícios do contexto repressivo e de um dispositivo de invisibilização da representação de práticas sexuais consideradas desviantes, por ocasião da realização de Marcados para viver. Sublinhe-se, contudo, que a personagem de Rosário rompe tanto com o padrão de gênero como da heterossexualidade obrigatória, ao menos na primeira parte da trama. E ainda: ao construir essa personagem, a cineasta tomou uma posição, levando em conta as “possibilidades de resistência ou a capacidade de trabalhar através de formas de sexualidade não normativas ou autônomas do homem – práticas sexuais excessivas, subversivas, perversas, invertidas ou lesbianas” (De Lauretis, 2000LAURETIS, Teresa de. Diferencias: etapas de um caminho a través del feminismo. Cuadernos Inacabados, 35. Madrid, horas y Horas, 2000.:124).
É certo que esse movimento se dá dentro de uma moldura social em que a sexualidade de Jojô fica silenciada e condicionada às relações tradicionais de gênero.22 22 A categoria gênero só foi empregada no Brasil a partir de meados da década de 1980, sendo que os estudos sobre homossexualidade, no âmbito da sociologia e da antropologia, desenvolveram-se em paralelo aos estudos nessa chave, “dentro da rubrica de ‘comportamento desviante’ e ‘desvio social’” (Heilborn; Sorj, 1999:26). A entrevista de Tessy Callado sobre a sua personagem é exemplar dessa restrição. A atriz mencionou a sua identificação para com a personagem e como compreendia seu “trejeito masculinizado”. De acordo com as suas palavras,
Foi uma experiência fascinante viver um papel que é a minha vida interior, minha infância. Rosário e eu fomos muito parecidas, vivemos juntas aquela fase de querer ser menino, subir em árvore, usar calça, talvez porque o mundo masculino parecia mais excitante, no nosso tinha aquelas meninas chatas, chorando, brincando de boneca, jogar bola. Rosário e eu nos conhecemos no colégio, aos nove anos (O Globo, 11 de outubro de 1976).
Callado não mencionou o desejo sexual de Jojô, as relações sexuais que a personagem vivenciou com a madame, tampouco a relação de afeto e supostamente sexual que estabelecera com a Rosa. Ela associou os gestos considerados masculinizados da personagem a certa identificação com o universo masculino, que lhe parecia mais excitante que o feminino. Partiu, pois, de uma lógica binária de gênero, embora invertesse a preferência, ao considerar o universo feminino desinteressante e o masculino atraente. Ao longo da entrevista, reiterou essa chave de gênero enfatizando que Jojô travestia-se de homem – assim como ela na infância – para proteger a sua “fragilidade emocional”, como ela própria o fizera (Idem).23 23 Munerato e Oliveira retomaram uma das sequências iniciais do filme em que Jojô, travestida de rapazinho e toda desgrenhada, entra em um quartinho onde residia, mexe em coisas que remetem à sua infância: uma boneca, uma foto do Kirk Douglas... e conversa com o brinquedo de menina. As pesquisadoras assinalaram que “Em Marcados para viver, a boneca de Jojô define o sexo da personagem quando ela diz: ‘Mariquinha, que saudade! Tua mãe tem trabalhado paca’, percebe-se que o pivete é uma mulher” (Munerato; Oliveria, 1982:82). E complementou:
Dentro dos conceitos sociais de uma cidade grande não há vantagem em ser mulher. Sendo garoto, a Jo se defende por todos os lados. Sendo apenas mulher ela se limitaria à prostituição, teria que se deixar dominar pela madame ou o [cafetão]. Ela se limitaria a uma condição social deprimente. (...) No filme, a Jo não é homem nem mulher, é pivete, é um problema social, é a realidade brasileira. E como pivete tem várias opções para ganhar dinheiro (O Globo, 11 de outubro de 1976).
A questão que volta, portanto, diz respeito ao silêncio sobre a sexualidade, à ausência de referência à lesbianidade de Jojô.24 24 Esse mesmo silêncio na imprensa brasileira em relação à sexualidade da personagem de Maria do Rosário foi verificado em relação à sexualidade de Timóteo, personagem homossexual do filme de Saraceni, lançado cinco anos antes de Marcados para viver, conforme Karla Bessa apurou (Bessa, 2017). Se desde o final do século XX já é possível conferir a presença de mulheres lésbicas, como “uma identidade social inteligível, visível nas telas da televisão e do cinema”, que resulta de um processo cultural, por conseguinte histórico (White, 1999WHITE, Patricia. UnInvited: classical hollywood cinema and lesbian representability. Bloomington, Indiana University Press, 1999.:6), no Brasil, daqueles anos de repressão e ditadura civil-militar, localizam-se apenas acenos. Patricia White (1999)WHITE, Patricia. UnInvited: classical hollywood cinema and lesbian representability. Bloomington, Indiana University Press, 1999. aponta que
Essa visibilidade não apareceu simplesmente como um novo fenômeno histórico, dependente do feminismo da segunda onda e dos movimentos pelos direitos gays pós-Stonewall como uma ruptura decisiva com o passado. Ao contrário, esses movimentos catalisaram sujeitos cuja visibilidade social foi formada em relação à política do visível da cultura de massa, às contestações do cinema sobre heterossexualidade e homossocialidade e suas estruturas contraditórias (White, 1999WHITE, Patricia. UnInvited: classical hollywood cinema and lesbian representability. Bloomington, Indiana University Press, 1999.:6, tradução minha).
Para a realidade brasileira dos anos 1970, a novidade da personagem de Rosário constitui, pois, um lampejo na direção indicada por White. Embora não se nomeie, havendo esses espaços de silêncios e desvios na abordagem direta da lesbianidade em Marcados para viver, o filme revela muito sobre o contexto no qual fora realizado, bem como sobre os desafios e limites enfrentados pela cineasta.
É preciso considerar que aqueles eram anos de violência de Estado e de fortalecimento de um projeto moral que reiteravam os papeis tradicionais de gênero, além da naturalização da heterossexualidade obrigatória – que não era problematizada nem no âmbito do feminismo no país, conforme mencionado anteriormente.25 25 Embora Ana Cristina César tenha traduzido o Relatório Hite, em 1978, que guarda uma sessão sobre lesbianidade, Heloisa Buarque de Hollanda assinala que “(...) os debates sobre liberdade sexual e o direito ao corpo de forma mais ampliada – incluindo-se aí temas como o do homossexualismo –, o que ocorria preferencialmente na esfera privada e nos encontros de mulheres”. Acrescenta que somente no início dos anos 1980 haverá a publicação de dois estudos sobre sexualidade no Brasil (Hollanda, 2019:15). Além disso, eram tempos tanto de censura de publicações sobre as homossexualidades (Marcelino, 2011MARCELINO, Douglas Attila. Subversivos e pornográficos: censura de livros e diversões públicas nos anos 1970. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2011.) quanto de repressão direta aos homossexuais, às travestis e às prostitutas (Fernandes, 2014FERNANDES, Marisa. Lésbicas e a ditadura militar: uma luta contra a opressão e por liberdade. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.125-148.; Ocanha, 2014OCANHA, Rafael. As rondas policiais de combate à homossexualidade na cidade de São Paulo (1976-1982). In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.149-176.).
A falta de pronunciamento público e positivo sobre a lesbianidade era tamanha naquele período, que na matéria “Amor entre mulheres”, de autoria de um grupo de lésbicas que se reuniu, já no final da década de 1970, em torno do Lampião da Esquina – primeiro jornal homossexual brasileiro – consta:
É a primeira vez, sim senhora. Pode procurar em toda a sua memória. Pode consultar o que e a quem você quiser. Os jornais e movimentos feministas no Brasil nunca tocaram no assunto. A formulação mais avançada das feministas, que está na Carta dos Direitos de Mulher, diz que a sexualidade feminina não deve ser vista apenas como a serviço da reprodução. Quer dizer: nos comporta, mas não refresca muito (Lampião, 1979:7).
O silêncio era alimentado pela repressão empreendida pela polícia política e pela polícia comum contra as pessoas cujas sexualidades transgrediam o padrão, conforme mencionado (Soares, 2012). As homossexualidades, por exemplo, eram consideradas pelas instâncias do Estado como um “atentado à moral e aos bons costumes”, o que fundamentava as intervenções policiais repressivas contra lésbicas, gays, travestis e prostitutas, nas denominadas “Operações Limpeza” (Cowan, 2014COWAN, Benjamin. Homossexualidade, ideologia e “subversão” no regime militar. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.27-52.; Fernandes, 2014FERNANDES, Marisa. Lésbicas e a ditadura militar: uma luta contra a opressão e por liberdade. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.125-148.; Rodrigues, 2014RODRIGUES, Rita. De Denner a Chrisóstomo, a repressão invibilizada: as homossexualidades na ditadura. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.201-244.).
A repressão, no entanto, partia de todos os lados, como destacado no Lampião:
Sabemos e conhecemos a existência da repressão. E não falamos apenas daquela do camburão, do cassetete, da bomba de gás. Falamos daquela que está presente nas nossas relações na família, no emprego, com os amigos, na escola. Falamos da repressão que, pelos mais variados mecanismos – meios de comunicação, educação, religião, etc. – nos diz o que somos ou devemos ser, querer, desejar, na tentativa de nos amoldar. Diz o que é natural, normal, certo, justo e bom para nós mulheres (Lampião, 1979:7).
No filme de Rosário, a repressão policial é mostrada na sequência em que Rosa é detida, mencionada anteriormente; em outra, em que a dançarina, ao sair da cadeia, relata para Eduardo e para Jojô que estava grávida e que a tortura sofrida acarretou-lhe o aborto (Cavalcante, 2017CAVALCANTE, Alcilene. Cineastas brasileiras (feministas) durante a ditadura civil-militar. In: HOLANDA, Karla; TEDESCO, Marina (org.). Feminino e plural: mulheres no cinema brasileiro. Campinas, Papirus, 2017, pp.59-76.). Em mais outra sequência, o personagem Madame Moustache, de Luis Carlos Lacerda, sem estar montado para o show que realizava na boate em que Rosa trabalhava, narra aos colegas que “andou sumido” porque fora preso, na Ilha Grande, acusado de vadiagem.26 26 De acordo com Ocanha (2014), a Lei de vadiagem, estabelecida no código penal de 1890, assegurava a ação policial contra segmentos LGBTs durante a ditadura civil-militar. Para ele: “Desde 1924, a Delegacia de Costumes utilizava a Lei de Vadiagem para prender quem realizasse práticas sexuais que não agradassem a prática policial. (...) Mais do que isso, a lei deu autoridade à polícia para regular os [considerados] vadios no espaço público da rua. No caso dos vadios incomodarem os ditos cidadãos de bem, isso representaria uma perda da autoridade da polícia sobre o espaço público” (Ocanha, 2014:156).
Naqueles anos, não havia ainda no Brasil expressões significativas do feminismo radical, que questionava a relação entre a heterossexualidade compulsória e o sistema de dominação e opressão às mulheres, o denominado sistema patriarcal. Não havia formulação feminista de destaque que sustentasse que a relação erótica entre mulheres rompia, em certa medida, com aquele esquema, como já se elaborava nos Estados Unidos e em países europeus, inclusive com recorte étnico-racial.
Talvez uma das primeiras pessoas a pautar publicamente a discussão sobre a sexualidade, especialmente lésbica, em grupos feministas brasileiros, tenha sido Danda Prado ao voltar do exílio na França em 1979. É certo que não se tratava de uma causa simples: se o feminismo exigia muita coragem, a lesbianidade exigia a “coragem da verdade”, da ousadia e do “escândalo” para “buscar formas de viver desvinculadas do regime heterossexual” (Rosa, 2011ROSA, Susel Oliveira da. Da coragem feminista à coragem lésbica. Labrys, estudos feministas, janeiro /junho, 2011, pp.11-15.:7). As primeiras organizações lesbianas surgiram no país de maneira incipiente somente no final dos anos 1970 (Lessa, 2007LESSA, Patrícia. Lesbianas em movimento: a criação de subjetividades – Brasil, 1979-2006. Tese de doutorado, Departamento de História da UNB, Brasília, 2007.:230).
A despeito disso, o tema da lesbianidade circulava na comunidade de leitores(as) brasileiros(as) através de livros versados sobre essa temática, de autorias tanto de Adelaide Carraro quanto de Cassandra Rios, que alcançaram cifras altíssimas de tiragens, mesmo tendo essas escritoras se tornado os “principais alvos do processo censório da década de 1970” (Marcelino, 2011MARCELINO, Douglas Attila. Subversivos e pornográficos: censura de livros e diversões públicas nos anos 1970. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2011.:148). Para o historiador:
Sem dúvida, o tratamento dado à homossexualidade era um dos temas mais caros à DCDP nos anos 1970, sendo objeto da repulsa de muitos técnicos de censura que examinaram parte da produção cultural do período. (...) E, provavelmente, nenhum autor foi tão censurado por escrever sobre esse assunto quanto Cassandra Rios. Abordando em suas obras, prioritariamente, o homossexualismo feminino, Cassandra Rios (na verdade um pseudônimo adotado para Odete Rios) tornou-se uma escritora que ao mesmo tempo em que batia recordes de venda naquela década, era marcadamente perseguida pela censura. Na verdade, embora os números sejam ainda imprecisos, analistas de sua obra contabilizam cerca de cinquenta livros publicados, tendo 36 deles sido proibidos durante o regime militar. Mencionada como a primeira escritora brasileira a atingir a marca de um milhão de livros vendidos, Cassandra Rios publicava obras que tinham várias edições e cujas tiragens, recorrentemente, atingiam trezentas mil cópias (Marcelino, 2011MARCELINO, Douglas Attila. Subversivos e pornográficos: censura de livros e diversões públicas nos anos 1970. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2011.:151).
A repressão ao tema da lesbianidade não se ateve à censura aos livros de Cassandra Rios. A escritora foi acusada de aliciar, corromper e encaminhar a juventude brasileira para a homossexualidade, tendo sido levada diferentes vezes para a delegacia como criminosa, sendo, em uma das vezes, torturada por um delegado que queria extrair-lhe “o endereço de uma personagem irreal do seu romance O bruxo espanhol” (Fernandes, 2014FERNANDES, Marisa. Lésbicas e a ditadura militar: uma luta contra a opressão e por liberdade. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.125-148.:127).
O filme de Maria do Rosário, inserido em tal contexto, apesar de inovar, guardou, sim, certos limites, especialmente ao não nomear a lesbianidade de Jojô, atribuindo-lhe apenas sentidos fragmentados. A diretora optou pelo estabelecimento de um triângulo amoroso, que lançava sombra à sexualidade dessa personagem. Esse sombreamento acentuou-se com a morte de Rosa, a personagem parceira de Jojô, e com a reconfiguração heterossexual que se colocou ao relacionamento entre essa personagem e Eduardo – o que se acompanha, inclusive, com a mudança do figurino da ex-pivete: de roupas consideradas masculinas, ela passa a usar um macacão, de conotação unissex, finalizando com vestimentas consideradas femininas, que delineavam seu corpo de mulher. Essa orientação não passou despercebida do articulista Oscar Lopes:
As três personagens estabeleceram entre si relações de amor e sexo. Este dado do enredo, se bem que não de todo original, mas, ainda assim, potencialmente rico, não foi explorado no filme sob um ângulo crítico, que poderia abrir discussões interessantes. Como esse relacionamento das personagens não é problematizado, o filme resvala para uma típica temática romântica: a situação vivida pelo grupo seria resultante de sua absoluta carência afetiva. (...) Maria do Rosário não só não aborda problemática e criticamente esse tipo de relação entre pessoas, como ainda corta dramaticamente sua viabilidade: a morte de Rosa, durante um assalto, elimina literalmente qualquer possibilidade de discussão. Sugerimos que escamoteando assim o problema, o efeito dessa solução narrativa possa ter vindo numa direção contrária da pretendida inicialmente, isto é, reforçando a moral dominante (Opinião, s/d).
O ponto de vista segundo o qual o filme acaba reforçando a moral dominante é sempre uma afirmação um tanto arriscada, pois não é possível o completo controle da recepção de objetos culturais. Todavia, a despeito dessa possibilidade de análise, o filme suscita certo incômodo, certo estranhamento, como se algo estivesse faltando. É certo que a opção da diretora de eliminar a relação lesbiana do filme, ao optar pela morte da Rosa, promove essa quebra, mas quando se verificam os pareceres dos censores constata-se que as cenas que delineiam o desejo lésbico de Jojô, mesmo frágeis, não escaparam ao crivo da censura, tendo o filme recebido sete cortes.
No processo de censura consta que a linguagem do filme é repleta de gírias e palavras de baixo calão, “refletindo um ambiente onde impera o desajuste social” e que, “neste particular, são indicados alguns cortes com o escopo de não ferir a moralidade e o público” (Paulo Acácio Marra, Brasília, 16 de fevereiro de 1976). Desse modo, além de determinarem cortes de frases, de nudez e de cenas de sexo heterossexual, cortaram também as cenas em que a lesbianidade de Jojô se pronunciaria. Seguem abaixo as especificações de cortes, relativas a essa questão:
Cortes
2º rolo – cortar o “take” que mostra Jojô beijando Rosa na boca, ocasião em que se encontram dentro de um carro. Ainda no 2º rolo, cortar todas as tomadas da cena em que mostra o relacionamento lésbico de Jojô e uma mulher, quando estão deitadas num sofá.
3º rolo – (...) cortar a partir do instante em que mostra a mão de Rosa deslizando sobre o corpo nu de Jojô, iniciando pelos pés, até o instante em que aparece os rostos de Eduardo e Jojô, em close, se beijando (Maria das Graças Sampaio Pinhati, Brasília, 16 de fevereiro de 1976).27 27 Essa agente de censura é autora de diferentes pareceres de interdição da obra de Cassandra Rios.
Se Maria do Rosário e a equipe de seu filme, bem como a imprensa, não identificaram a sexualidade de Jojô, o Departarmento de Polícia Federal/Divisão de Censura e Diversões Públicas, não apenas a relacionou diretamente à lesbianidade, nomeando-a expressamente nos três pareceres, como determinou cortes no filme. Tratava-se, pois, de um tema tabu e estruturante da política moral e sexual do Estado ditatorial, embasada pela heterossexualidade compulsória.
A cineasta bem que enfrentou o desafio, por meio do filme, de ir além dos costumes, rebelando-se contra a ordem vigente: apresentou ao público brasileiro uma personagem que não se definia nem como homem, nem como mulher.28 28 É inevitável a associação desta frase àquela monumental de Monique Wittig: “Lésbicas não são mulheres” (Wittig, 2018:59). Esta frase engendra uma crítica às teorias feministas que não questionavam a naturalização da heterossexualidade, tampouco consideravam o aspecto opressivo do pensamento heterossexual em relação às mulheres.
Últimas palavras
Cinema de mulheres. Cinema-menor. A despeito dos ditames da ditadura civil-militar no Brasil, as cineastas brasileiras, longas-metragistas de ficção, nos anos 1970, demonstraram seu potencial criativo, pautando temas da agenda feminista sobre as políticas do corpo (gravidez, aborto, sexualidade), que nem mesmo o feminismo incipiente conseguiu adotar. Incrustradas no cinema nacional, elas inventaram outros espaços, outras consciências e sensibilidade, apropriando-se e transformando códigos, temas e valores predominantes na área.
Maria do Rosário, em especial, não apenas ultrapassou a barreira de gênero que impunha dificuldades para as mulheres realizarem seus filmes, como levou para as telas uma personagem, cujas identidades de gênero e de sexualidade irrompiam com o padrão heteronormativo. Pautou naqueles tempos sombrios o tema das sexualidades consideradas desviantes. Se Marcados para viver apresenta limites quanto à nomeação e aos sentidos dessa sexualidade, isso talvez resulte mais do contexto cultural e político no qual o filme fora realizado do que propriamente de certa relutância da diretora – Rosário assumiu o desafio de fazer um cinema que “fosse além dos costumes” de seu tempo.
Na abordagem específica desse filme, partiu-se da definição de cinema de mulheres como cinema menor, de Alison Butler, mas o aporte ficou mesmo a cargo de Patrícia White que, diferentemente de Butler, compreende que para determinados filmes, que enfocam determinados grupos de excluídos(as), de perseguidos(as) ou de silenciados(as) não é possível prescindir de uma abordagem identitária.
Referências bibliográficas
- bell hooks. Choosing the margin as a space of radical openness. Framework: The Journal of Cinema and Media, n. 36, 1989, pp.15-23.
- BESSA, Karla. “Como cheguei a ser o que sou”? Uma estética da torção em filmes das décadas de 60 e 70. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 25(1), janeiro-abril/2017, pp.291-315.
- BUTLER, Alison. Women's cinema: the contested screen. London, Wallflower press, 2002.
- CAVALCANTE, Alcilene. Cineastas brasileiras (feministas) durante a ditadura civil-militar. In: HOLANDA, Karla; TEDESCO, Marina (org.). Feminino e plural: mulheres no cinema brasileiro. Campinas, Papirus, 2017, pp.59-76.
- CAVALCANTE, Alcilene; HOLANDA, Karla. Feminino Plural: história, gênero e cinema no Brasil dos anos 1970. In: Bragança, Maurício; TEDESCO. Marina. (orgs.) Corpos em projeção: gênero e sexualidade no cinema latino-americano. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2013, pp.134-152.
- CAVALCANTE, Alcilene. A lesbianidade nas telas brasileiras da transição democrática: o protagonismo de Amor maldito, de Adélia Sampaio. Mato Grosso, Revista eletrônica Documento/monumento. vol. 18, n. 1, 2016, pp.142-155 [https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revistas-anteriores/revista-dm-18.pdf – acesso em 20 de dezembro de 2018].
» https://www.ufmt.br/ndihr/revista/revistas-anteriores/revista-dm-18.pdf - COLLING, Ana. A resistência da mulher à Ditadura Militar no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997.
- COWAN, Benjamin. Homossexualidade, ideologia e “subversão” no regime militar. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.27-52.
- DCDP/MJ/NA/DF. Pareceres de técnicos de censura, fevereiro de 1976.
- ESTEVES, Flávia. Sob os sentidos do político: história, gênero e poder no cinema de Ana Carolina (Mar de rosas, Das tripas coração e Sonho de valsa, 1977-1986). Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em História da UFF, Niterói, 2007.
- FERNANDES, Marisa. Lésbicas e a ditadura militar: uma luta contra a opressão e por liberdade. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.125-148.
- HEILBORN, Maria Luiza e SORJ, Bila. Estudos de gênero no Brasil, in: MICELI, Sérgio (org.). O que ler na ciência social brasileira (1970-1995), ANPOCS/CAPES. São Paulo, Editora Sumaré, 1999, pp.183-221.
- HOLANDA, Karla; TEDESCO, Marina (org.) Feminino e plural: mulheres no cinema brasileiro. Campinas, Papirus, 2017.
- HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. Rio de Janeiro, Aeroplano, 2004.
- HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Os estudos sobre a mulher e literatura no Brasil: uma primeira avaliação. In: COSTA, Albertina; BRUSCHINI (org.) Uma questão de gênero. Rio de Janeiro/São Paulo, Rosa dos Tempos/Fundação Carlos Chagas, 1992.
- HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto. Rio de Janeiro, Bazar do tempo, 2019.
- JOHNSTON. Claire. Women’s Cinema as Counter-Cinema. In: KAPLAN, Ann. Feminism and Film. New York, Oxford University Press, 2000, pp.22-33.
- JOFFILY, Mariana. Os Nunca más no Cone Sul: gênero e repressão política. In: PEDRO, Joana; WOLFF, Cristina; VEIGA, Ana (org.). Resistência, gênero e feminismos contra as ditaduras no Cone Sul. Florianópolis: Editora Mulheres, 2011, pp.213-232.
- LAURETIS, Teresa de. Repensando el cine de mujeres. Teoría estética y feminista. Debate feminista, vol. 5, Ciudad de Mexico, 1992.
- LAURETIS, Teresa de. Diferencias: etapas de um caminho a través del feminismo. Cuadernos Inacabados, 35. Madrid, horas y Horas, 2000.
- LESSA, Patrícia. Lesbianas em movimento: a criação de subjetividades – Brasil, 1979-2006. Tese de doutorado, Departamento de História da UNB, Brasília, 2007.
- MARCELINO, Douglas Attila. Subversivos e pornográficos: censura de livros e diversões públicas nos anos 1970. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 2011.
- MERLINO, Tatiana; OJEDA, Igor. Direito à memória e à verdade: Luta, substantivo feminino. São Paulo, Editora Caros Amigos, 2010.
- MILLÁN, Márgara. Derivas de un cinefemenino. México, UNAM-PUEG, 1999.
- MORENO, Antonio Nascimento. A personagem homossexual no cinema brasileiro. Dissertação de mestrado em artes, IA/UNICAMP, 1995.
- MUNERATO, Elice; OLIVEIRA, Maria Helena Darcy. As musas da matinê. Rio de Janeiro, Edições Rioarte, 1982.
- NAVARRO SWAIN, Tânia. Lesbianismos, cartografia de uma interrogação revista Esboços, v. 23, n. 35, Florianópolis, 2016, pp.11-24.
- NOGUEIRA, Gilmaro; COLLING, Leandro. Homofobia, heterossexismo, heterossexualidade compulsório, heteronormatividade. In: COLLING, Ana Maria; TEDESCHI, Losandro (org.) Dicionário Crítico de Gênero. Dourados, Ed. UFGD, 2015.
- OCANHA, Rafael. As rondas policiais de combate à homossexualidade na cidade de São Paulo (1976-1982). In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.149-176.
- PEDRO, Joana; WOLFF, Cristina (org.). Gênero, feminismos e ditadura no Cone Sul. Florianópolis, Editora Mulheres, 2010.
- RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: Feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. Campinas, Editora da Unicamp, 2013.
- RICH, Adrienne. Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence. In: JACKSON, Stevi e SCOTT, Sue (ors.). Feminism and Sexuality, a Reader. New York, Columbia University Press, 1996.
- RODRIGUES, Rita. De Denner a Chrisóstomo, a repressão invibilizada: as homossexualidades na ditadura. In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.201-244.
- ROSA, Susel Oliveira da. Da coragem feminista à coragem lésbica. Labrys, estudos feministas, janeiro /junho, 2011, pp.11-15.
- ROSA, Susel Oliveira da. Mulheres, ditaduras e memórias: “Não imagine que precise ser triste para ser militante”. São Paulo, Intermeios, 2013.
- RUBIN, Gayle; BUTLER, Judith. Tráfico sexual – entrevista. cadernos pagu (21) 2003, pp.157-209.
- SETEMY, Adrianna. Entre a revolução dos costumes e a ditadura militar: as dores e as cores de um país em convulsão. São Paulo, Letra e Voz, 2019.
- SOARES, Gilberta; COSTA, Jussara. Movimento lésbico e Movimento feminista no Brasil: recuperando encontros e desencontros. Labrys, estudos feministas, julho /dezembro 2011 - janeiro /junho 2012, pp.1-41.
- SOIHET, Rachel. Feminismos e cultura política: uma questão no Rio de Janeiro dos anos 1970-1980. In: ABREU, Marta; SOIHET, Rachel; GONTIJO, Rebeca (org.) Cultura política e leituras do passado: historiografia e ensino de história. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2007, pp.411-436.
- SOIHET, Rachel. Feminismos e antifeminismos: mulheres e suas lutas pela conquista da cidadania plena. Rio de Janeiro, 7 Letras, 2013.
- TEGA, Danielle. Tempos de dizer, tempos de escutar: testemunhos de mulheres no Brasil e na Argentina. São Paulo, Intermeios, 2019.
- VEIGA, Ana. Cineastas brasileiras em tempos de ditadura: cruzamentos, fugas, especificidades. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013.
- WHITE, Patricia. UnInvited: classical hollywood cinema and lesbian representability. Bloomington, Indiana University Press, 1999.
- WHITE, Patricia. Lesbian minor cinema. Screen, 49 (4), 2008, pp.410-425.
- WITTIG, Monique. O pensamento straight. In: PEDROSA, Adriano; REBOUÇAS, André (ors.) Histórias da sexualidade: antologia. São Paulo, Masp, 2017, pp.54-60.
Periódicos
- Amor entre mulheres. Lampião da esquina, ano 1, n. 12, maio de 1979.
- Diretora de “marcados para viver” está em Brasília e fala do filme. Diários de Brasília, 14 de abril de 1977.
- AVELLAR, José Carlos. A coisa aqui está preta. Jornal do Brasil, 14 de dezembro de 1976.
- GUIMARÃES, Márcia. Uma mulher atrás da câmara. Revista. Última Hora, 18 de agosto de 1976.
- LOPES, Oscar Guilherme. Fazendo a cabeça com guaraná, Opinião, s.d. Pasta Maria do Rosário. Produtora Rosário P.C.; Kiko filmes - acervo particular.
- PEREIRA, Miguel. Marcados para viver. O Globo, 03 de dezembro de 1976.
- ROSÁRIO, P.C.; KIKO Films. Libreto Marcados para Viver: um filme de Maria do Rosário, 1976.
- TESSY Callado: a experiência dolorosa de um pivete brasileiro. O Globo, 11 de outubro de 1976.
Filmografia
- CAROLINA, Ana. Mar de Rosas. 35mm, cor, 90 min, 1977.
- FIGUEIREDO, Vera de. Feminino plural. 35mm, cor, 80 min, 1976.
- NASCIMENTO E SILVA, Maria do Rosário. Marcados para Viver. 35mm, cor, 88 min, 1976.
- SAMPAIO, Adéli. Amor maldito. 35mm, cor, 80 min, 1984.
- TRAUTMAN, Teresa. Os homens que eu tive. 35 mm, cor, 85 min, 1973.
-
1
Munerato e Oliveira (1982)MUNERATO, Elice; OLIVEIRA, Maria Helena Darcy. As musas da matinê. Rio de Janeiro, Edições Rioarte, 1982. estabeleceram uma lista de longas-metragens, de ficção, realizados por mulheres no Brasil nos anos 1970: O segredo da Rosa, de Vanja Orico (1973); Mestiça, de Lenita Perroy (1973); Os homens que eu tive (1973), de Tereza Trautmann – liberado pela censura, dez anos depois, com o título Os homens e Eu; Encarnação, de Rose Lacreta (1974); Feminino Plural, de Vera de Figueiredo (1976)FIGUEIREDO, Vera de. Feminino plural. 35mm, cor, 80 min, 1976.; Marcados para viver, de Maria do Rosário (1976); Cristais de Sangue, de Luna Alkaly (1976); Mar de Rosas, de Ana Carolina (1977)CAROLINA, Ana. Mar de Rosas. 35mm, cor, 90 min, 1977.; A mulher que põe a pomba no ar, de Rosangela Maldonado (1977) e Samba da criação do mundo, de Vera de Figueiredo (1978)
-
2
A denominação “cinema de mulheres”, muito utilizada nos anos 1970, inclusive no Brasil, para se referir especificamente a filmes realizados por mulheres constitui na perspectiva feminista designação eminentemente política para demarcar o campo e romper com a subalternização do papel feminino, não configurando qualquer defesa essencialista da categoria “mulheres”. Resulta de uma complexa construção crítica, teórica e institucional, composta pela rede de produtores(as) culturais que circundam o fazer cinematográfico (cineastas, jornalistas, curadores, críticos e acadêmicos), além da plateia. Trata-se de uma expressão empregada, no início daquela década, pelas teóricas feministas do cinema como Laura Mulvey e Claire Johnston para indicar filmes realizados por mulheres, que se aproximavam do ideário feminista ao problematizarem a representação clássica de mulheres nas cinematografias, sendo que, para Johnston, esse tipo de cinema deveria implicar, igualmente, a linguagem do cinema, constituindo um contra-cinema.
-
3
Na última década diferentes trabalhos acadêmicos têm sido realizados na tentativa de recuperar as trajetórias dessas cineastas e de seus filmes, ver: Cavalcante, Alcilene; Holanda, Karla (2013); Veiga, Ana (2013); Esteves, Flavia (2007). Para um período mais amplo e diferentes formatos cinematográficos, ver Holanda, 2017.
-
4
Heloisa Buarque de Hollanda assinalou que a produção intelectual (e cultural) feminista era, frequentemente, rejeitada por intelectuais e artistas. Para ela, essa resistência na América Latina a se auto identificar com o feminismo expressa bem “a avaliação bastante negativa do feminismo” na região, o que certamente está relacionado às estruturas de poder e aos estereótipos vigentes (Hollanda, 1992: 54).
-
5
A heterossexualidade obrigatória ou compulsória tem sido retomada por diferentes teóricas feministas, a exemplo de Teresa de Lauretis (1988). Trata-se de chamar a atenção para a naturalização da heterossexualidade, cujos mecanismos de difusão, em seu mais amplo espectro, incentivam essa prática como sendo o destino considerado normal para mulheres e homens. Além disso, tal projeto enfatizava a inevitabilidade da reprodução, procurando invisibilizar, quando não rechaçar completamente, quaisquer outras práticas sexuais que se distanciassem desse suposto padrão. Teóricas feministas lésbicas esquadrinharam e problematizaram a heterossexualidade obrigatória, que teria capturado inclusive o pensamento feminista hegemônico.
-
6
A historiografia brasileira tem intensificado os estudos sobre mulheres e relações de gênero durante a ditadura civil-militar no país, nas últimas décadas – inventariá-la escapa ao propósito deste artigo. Destaca-se, entretanto, que diferentes estudos esquadrinham a atuação de mulheres na política e delineiam a abrangência das ideias feministas no país, como se verificam nos trabalhos de Ana Colling (1997)COLLING, Ana. A resistência da mulher à Ditadura Militar no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997., Susel Rosa (2013)ROSA, Susel Oliveira da. Mulheres, ditaduras e memórias: “Não imagine que precise ser triste para ser militante”. São Paulo, Intermeios, 2013., Margareth Rago (2013)RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: Feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. Campinas, Editora da Unicamp, 2013. e naqueles reunidos por Joana Pedro e Cristina Wolff (2010) – para citar apenas algumas historiadoras. Todavia, faz-se necessário maior detalhamento dos estudos para ser possível associar, diretamente, a atuação política de mulheres nos anos 1970, por exemplo, pela anistia e pela redemocratização, ao feminismo. É certo, no entanto, que as ideias feministas circulavam em tal âmbito, sendo notada a recrudescência desse movimento no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 1970.
-
7
Embora os envolvimentos com a travesti e com a lésbica possam indicar certo relaxamento do comportamento considerado tradicional, procura-se realçar aqui o perfil de virilidade que se afirmava pelo envolvimento sexual indiscriminado.
-
8
Maria do Rosário atuou como atriz nos seguintes filmes: Jardim de guerra, de Neville D’Almeida (1968), Os marginais, de Moisés Kendler e Carlos Alberto Prates Correia (1968), Capitu, de Paulo César Saraceni (1968), Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade (1969), Juliana do amor perdido, de Sérgio Ricardo (1970), Piranhas do asfalto, de Neville D’Almeida; As aventuras amorosas de um padeiro, de Waldir Onofre (1975), e Ninguém segura essas mulheres, de Harry Zalkowistch (1976).
-
9
A partir de diferentes definições de “cinema-menor”, Patricia White (2008WHITE, Patricia. Lesbian minor cinema. Screen, 49 (4), 2008, pp.410-425.:412) destaca que o cinema, nessa chave, pode ser “entendido mais diretamente como o uso de recursos limitados de uma maneira politizada, tendo sido produtivamente elaborado em vários contextos, do filosófico ao pragmático”.
-
10
É importante assinalar que, para Maria do Rosário, o lugar da emoção, da subjetividade, não é essencialmente das mulheres. Ela reconhece que os cineastas Nelson Pereira dos Santos e Julio Bressane também o ocupavam, conforme destacaremos adiante.
-
11
Nessa música, Chico Buarque parte da melodia de um choro de autoria de Francis Hime – que, por sua vez, assina o projeto musical de Marcados para viver – para escrever a letra dessa canção que consiste em uma carta para seu amigo, o dramaturgo Augusto Boal, que se encontrava no exílio em decorrência da violência de Estado, cometida naqueles anos de ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985).
-
12
Saliente-se que, em outra perspectiva, o articulista Oscar Guilherme Lopes assinalou que o filme de Rosário é “ingênuo e nada realista”. Centrado em personagens do lumpenzinato urbano, a diretora projetou os anseios da classe média e esvaziou politicamente o filme. Para ele: “como não há análise do grupo social, toda reação violenta das personagens é vista de uma maneira “fechada”, individualista, de atendimento a necessidades imediatas, sem qualquer conotação política” (“Fazendo a Cabeça com guaraná”. Opinião, 1976). Em contrapartida, o recorte micropolítico de Rosário vai ao encontro da formulação de “cinema menor”, na perspectiva de Deleuze e Guattari, segundo a qual o “espaço apertado da pequena literatura força cada intriga individual a se ligar imediatamente à política” (apudWhite, 2008WHITE, Patricia. Lesbian minor cinema. Screen, 49 (4), 2008, pp.410-425.:415).
-
13
Essa observação sobre os cineastas mencionados serem “mais emocionais” rechaça, conforme assinalado em nota anterior, a ideia de essa característica ser algo exclusivamente de mulheres. Contudo, Maria do Rosário defendeu em uma entrevista que “a mulher tem uma maneira de olhar o mundo bem diferente do homem. Talvez os nossos filmes sejam mais delicados”.
-
14
Trata-se de rápidas alusões a encontros afetivos entre mulheres, de cumplicidade, de amizade e de sexo eventual, que se aproximam do que Adriene Rich denominou continuum lésbico. Para uma crítica sobre como esse tipo de designação retira o caráter sexual da lesbianidade, ver Tráfico sexual – entrevista (cadernos pagu (21), 2003:175).
-
15
Apesar da recorrência de triângulos amorosos em filmes realizados por mulheres no Brasil, houve uma alteração nesse formato de relacionamento a partir dos anos 1970, especificamente nos filmes Os homens que eu tive e Marcados para viver. Neles, o triângulo não é apresentado de maneira conflituosa, isto é, não abala drasticamente a relação do casal. No filme de Maria do Rosário: “Eduardo, Rosa e a pivete Jojô formam um triângulo amoroso. Essa conjugação é vivida pelas personagens sem conflitos muito fortes. Jojô sente ciúmes quando Rosa mantém relações sexuais com um homem, mas não vive essa mesma emoção quando Rosa mantém relações com Eduardo. Este se sente com direitos em relação à Rosa – “Você é minha” e, em certas passagens do filme há indícios do ciúme dele quanto ao envolvimento entre Jojô e Rosa. Já a dançarina sente ciúme quando vê Eduardo flertando com uma travesti, mas não reage assim quando Eduardo está com Jojô. Desse modo, de acordo com Munerato, pode–se inferir que entre Rosa e Jojô há cumplicidade). Note-se, contudo, que na trama, a despeito da proposta de uma relação sem conflitos significativos entre os três personagens e da suposta cumplicidade entre Rosa e Jojô, sobressaem certa assimetria de gênero e o traço heterossexual, o vértice do personagem masculino, é mais acentuado e o desfecho do filme estabelece o aniquilamento da relação lesbiana.
-
16
A designação lésbica butch era usada para se referir às lésbicas cujos perfis eram considerados masculinizados. Saliente-se que o filme foi realizado em um período no qual as discussões que abordavam gênero e sexualidade – apenas iniciadas nos Estados Unidos – ainda não encontravam aporte público no Brasil.
-
17
Ah, esses termos: “adolescente vadia”, no sentido de vadiar, que perambula; ou, vadia, no sentido pejorativo de fazer coisas consideradas promíscuas ou transgressoras?! De qualquer maneira, esse adjetivo remetia à Lei de vadiagem, legitimando a repressão policial durante a ditadura civil-militar às pessoas que transitavam pelas ruas, sem comprovar vínculo empregatício por meio da carteira de trabalho. Tratava-se de um instrumento significativo para reprimir homossexuais, travestis e prostitutas, apurado por Ocanha (2014)OCANHA, Rafael. As rondas policiais de combate à homossexualidade na cidade de São Paulo (1976-1982). In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.149-176..
-
18
Rosa, Eduardo e Jojô realizam pequenos assaltos para sobreviver até que em uma investida de maior vulto tudo dá errado, deparando-se com a polícia. Rosa é assassinada e os outros dois conseguem fugir. O relacionamento entre Eduardo e Jojô estreita-se ainda mais.
-
19
Essa multiplicidade homossexual é também destacada em um dos relatos na matéria sobre a lesbianidade, publicada no Lampião da esquina, conforme segue: “existem várias maneiras, as mais diversas, de sentir, praticar, viver a homossexualidade. Quase poderíamos dizer (se não fosse exagerar um pouco) que existem tantos homossexualismos quanto mulheres homossexuais. De qualquer forma, é muito difícil apresentar, logo de saída (e nem é nossa intenção), definições, diagnósticos ou coisa que o valha sobre o lesbianismo” (Lampião, 1979:8).
-
20
Nessa chave, Karla Bessa propôs analisar certos filmes dos anos 1960 e 1970 que enfocaram a questão queer, sem nomeá-la como tal. Analisou filmes como o brasileiro A casa assassinada (1971), de Paulo César Saraceni, a partir do que ela denominou “estética da torção”. Para a historiadora, tal estética se verifica em “filmes que desestabilizaram visualmente os pilares morais da sexualidade heteronormativa e falocêntrica, das bases que norteiam a instituição familiar e as respectivas performances de gênero, tais como homem – paternidade/responsabilidade econômica e mulher – maternidade/responsabilidade doméstica. Estas torções estéticas se expressam nas narrativas que tocam nas chagas das estruturas sociais, com relevância para as desigualdades e hierarquias sociais relativas à racialização e divisão de classes, as hierarquias de gênero, a questão da faixa etária para as mulheres (com hipervalorização da juventude e da beleza) e da escolaridade, em especial para os homens. Estas torções passam pela escolha da corporalidade das atrizes (e idades das mesmas), o manejo de objetos cênicos, o trabalho com o gesto, o modo como as falas são deliberadas em determinados ângulos cuja ênfase visual dispara a curiosidade da audiência para algo que aparenta estar ‘fora do lugar’. Gosto do termo torção porque implica uma virada em torno de si mesmo, de uma coisa, objeto ou, no caso, todo um imaginário” (Bessa, 2017BESSA, Karla. “Como cheguei a ser o que sou”? Uma estética da torção em filmes das décadas de 60 e 70. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 25(1), janeiro-abril/2017, pp.291-315.:295). Nesses termos, o filme de Maria do Rosário poderia ser analisado também sob a ótica da “estética da torção”, formulada por Bessa.
-
21
Nesta análise, de perspectiva histórica, do Marcados para viver consideramos mais adequado a referência de Patricia White, segundo a qual: “Em vez de simplesmente alinhar o menor com o cinema queer, limito minha discussão a filmes específicos. Além disso, modifico menor com a lésbica e espero, assim, apresentar as associações de gênero (e pejorativas) com o termo anterior – a implicação do subpadrão, do banalizado, do descartado, da possibilidade real de que o trabalho menor expresse não apenas uma "pobreza voluntária", mas também subfinanciamento. Por meio dessa conjunção espero enfatizar a materialidade do menor e manter em jogo dimensões da sexualidade e da subjetividade de gênero que obviamente não são compatíveis com os modelos anti-identitários de fluxo (ou fluido) de Deleuze e Guattari ou com usos reflexivos do queer” (White, 2008WHITE, Patricia. Lesbian minor cinema. Screen, 49 (4), 2008, pp.410-425.:413-414, tradução minha).
-
22
A categoria gênero só foi empregada no Brasil a partir de meados da década de 1980, sendo que os estudos sobre homossexualidade, no âmbito da sociologia e da antropologia, desenvolveram-se em paralelo aos estudos nessa chave, “dentro da rubrica de ‘comportamento desviante’ e ‘desvio social’” (Heilborn; Sorj, 1999HEILBORN, Maria Luiza e SORJ, Bila. Estudos de gênero no Brasil, in: MICELI, Sérgio (org.). O que ler na ciência social brasileira (1970-1995), ANPOCS/CAPES. São Paulo, Editora Sumaré, 1999, pp.183-221.:26).
-
23
Munerato e Oliveira retomaram uma das sequências iniciais do filme em que Jojô, travestida de rapazinho e toda desgrenhada, entra em um quartinho onde residia, mexe em coisas que remetem à sua infância: uma boneca, uma foto do Kirk Douglas... e conversa com o brinquedo de menina. As pesquisadoras assinalaram que “Em Marcados para viver, a boneca de Jojô define o sexo da personagem quando ela diz: ‘Mariquinha, que saudade! Tua mãe tem trabalhado paca’, percebe-se que o pivete é uma mulher” (Munerato; Oliveria, 1982:82).
-
24
Esse mesmo silêncio na imprensa brasileira em relação à sexualidade da personagem de Maria do Rosário foi verificado em relação à sexualidade de Timóteo, personagem homossexual do filme de Saraceni, lançado cinco anos antes de Marcados para viver, conforme Karla Bessa apurou (Bessa, 2017).
-
25
Embora Ana Cristina César tenha traduzido o Relatório Hite, em 1978, que guarda uma sessão sobre lesbianidade, Heloisa Buarque de Hollanda assinala que “(...) os debates sobre liberdade sexual e o direito ao corpo de forma mais ampliada – incluindo-se aí temas como o do homossexualismo –, o que ocorria preferencialmente na esfera privada e nos encontros de mulheres”. Acrescenta que somente no início dos anos 1980 haverá a publicação de dois estudos sobre sexualidade no Brasil (Hollanda, 2019HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto. Rio de Janeiro, Bazar do tempo, 2019.:15).
-
26
De acordo com Ocanha (2014)OCANHA, Rafael. As rondas policiais de combate à homossexualidade na cidade de São Paulo (1976-1982). In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.149-176., a Lei de vadiagem, estabelecida no código penal de 1890, assegurava a ação policial contra segmentos LGBTs durante a ditadura civil-militar. Para ele: “Desde 1924, a Delegacia de Costumes utilizava a Lei de Vadiagem para prender quem realizasse práticas sexuais que não agradassem a prática policial. (...) Mais do que isso, a lei deu autoridade à polícia para regular os [considerados] vadios no espaço público da rua. No caso dos vadios incomodarem os ditos cidadãos de bem, isso representaria uma perda da autoridade da polícia sobre o espaço público” (Ocanha, 2014OCANHA, Rafael. As rondas policiais de combate à homossexualidade na cidade de São Paulo (1976-1982). In: GREEN, James; QUINALHA, Renan. Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade. São Carlos, EDUFSCAR, 2014, pp.149-176.:156).
-
27
Essa agente de censura é autora de diferentes pareceres de interdição da obra de Cassandra Rios.
-
28
É inevitável a associação desta frase àquela monumental de Monique Wittig: “Lésbicas não são mulheres” (Wittig, 2018:59). Esta frase engendra uma crítica às teorias feministas que não questionavam a naturalização da heterossexualidade, tampouco consideravam o aspecto opressivo do pensamento heterossexual em relação às mulheres.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
21 Dez 2020 -
Data do Fascículo
2020
Histórico
-
Recebido
12 Dez 2019 -
Aceito
30 Set 2020