Resumo
No presente texto, a narrativa do filme Bye Bye Brasil (Carlos Diegues 1979) nos serve de guia para discutir uma noção de progresso que se propaga por contextos diversos, e que se torna particularmente saliente em certos momentos históricos. No que diz respeito ao processo de colonização da Amazônia, e da região de Altamira em particular, encaramos dois momentos-chave em que o conceito é mobilizado: a abertura da rodovia Transamazônica e, cerca de quarenta anos mais tarde, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Partindo do papel particular que a noção assume na colonização de Altamira, minha intenção é encarar a noção de progresso em um duplo aspecto: como uma forma de compreender e expressar a passagem do tempo em uma espécie de filosofia da história condensada e difusa e, por outro lado, como uma metáfora potente que associa o domínio do tempo ao da ação humana.
Palavras-chave:
Transamazônica; Progresso; Tempo; Antropologia do cinema.
Abstract
In this article the narrative of the film Bye Bye Brazil (Carlos Diegues, 1979) acts as a guide to discuss a notion of progress that is widespread across diverse contexts, and that becomes particularly salient during certain historical moments. With regard to the process of the colonization of the Amazon, and in particular of the municipality of Altamira, we look at two key moments in which the concept is mobilized: the opening up of the Transamazonian highway, and, some forty years later, the construction of the Belo Monte hydroelectric dam. Starting with the specific role that the notion assumes in the colonization of Altamira, I intend to view the notion of progress as a double aspect: a way of understanding and expressing the passage of time through a sort of condensed and diffuse philosophy of history; and, on the other hand, a potent metaphor that associates the domain of time with that of human action.
Keywords:
Trans-Amazonian Highway; progress; time; Anthropology of Cinema
Resumen
En el presente texto, la narrativa de la película Bye Bye Brazil (Carlos Diegues, 1979) nos sirve de guía para discutir una noción de progreso que se extiende por diversos contextos, y que se vuelve particularmente relevante en determinados momentos históricos. En relación al proceso de colonización de la Amazonia, y de la región de Altamira en particular, nos centramos en dos momentos clave en los que se moviliza el concepto: la apertura de la carretera Transamazónica y, unos cuarenta años después, la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte. Partiendo del papel particular que la noción asume en la colonización de Altamira, mi intención es indagar en la noción de progreso en una doble vertiente: como una forma de entender y expresar el paso del tiempo en una especie de filosofía de la historia condensada y difusa; y, por otro lado, como una potente metáfora que asocia el dominio del tiempo con el de la acción humana.
Palabras clave:
Transamazónica; progreso; tiempo; Antropología del Cine
Neste artigo, parto da narrativa de Bye Bye Brasil, filme de Carlos Diegues de 1979, para refletir sobre a ideia de progresso que ronda a abertura da Rodovia Transamazônica na década de 1970. A estratégia envolve contextualizar a obra relacionando-a com documentos históricos, peças publicitárias e jornalísticas, e com material da pesquisa de campo que realizei para minha tese de doutorado na cidade de Altamira (PA) entre os anos de 2013 e 2015.
Ainda que já se tenha apontado para o potencial frutífero do uso do cinema e outras mídias audiovisuais como fontes de reflexão antropológica, as análises de conteúdo de filmes permanecem relativamente restritas no âmbito da disciplina (Gray 2010GRAY, Gordon. 2010. Cinema: A Visual Anthropology. Vol. 1. Oxford: Berg .). O meio audiovisual é até mais comumente usado como uma ferramenta do pesquisador de campo, ou seja, como método de pesquisa, do que como material etnográfico disponível, como expressão cultural de uma época (Sutton & Wogan 2009SUTTON, David E. & WOGAN, Peter. 2009. Hollywood Blockbusters: The Anthropology of Popular Movies. New York: Berg.). No presente texto, a narrativa de Bye Bye Brasil nos serve de guia para discutir uma noção de progresso que se propaga por contextos diversos, e que se torna particularmente saliente em certos momentos históricos. No que diz respeito ao processo de colonização da Amazônia, e da região de Altamira em particular, encaramos dois momentos-chave em que o conceito é mobilizado: a abertura da rodovia Transamazônica e, cerca de quarenta anos mais tarde, a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte.
Cada vez mais a referência ao progresso como um interesse comum que unifica nações - e, no limite, toda a humanidade - mostra uma face ilusória. “O caráter enganoso desse progresso é hoje tão evidente quanto a nudez do imperador”, escrevem Pignarre e Stengers (2007PIGNARRE, Philippe & STENGERS, Isabelle. 2007. La sorcellerie capitaliste - Pratiques de désenvoûtement. Paris: Éditions La Découverte.:85, tradução minha). Esta nudez não impede que ele permaneça como uma referência fundamental tanto para aqueles que acreditam no capitalismo como capaz de prover uma vida melhor para todos, num futuro talvez longínquo, como para muitos daqueles que o veem como uma lamentável etapa histórica que é preciso ultrapassar. Partindo do papel particular que a noção assume na colonização de Altamira, minha intenção é encarar a noção de progresso em um duplo aspecto: como uma forma de compreender e expressar a passagem do tempo em uma espécie de filosofia da história condensada e difusa (baseado em Gell 1992GELL, Alfred. 1992. The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images. Oxford: Berg.), e por outro lado, como uma metáfora potente que associa o domínio do tempo ao da ação humana (Wagner 1981WAGNER, Roy. 1981. The Invention of Culture. Chicago: The University of Chicago Press.). A questão central que me ocupa ao fim do texto, e que convém ao leitor manter em mente desde agora, é a seguinte: como o progresso pode se configurar como um signo do “inevitável”, de um futuro que não pode deixar de se atualizar como presente?
O presente artigo lança mão de diferentes tipos de documentos referentes ao passado recente de Altamira, fazendo uso especialmente de Bye Bye Brasil e de reportagens e peças publicitárias da década de 1970 que gravitam em torno da construção da rodovia Transamazônica. Como afirma Riles (2006RILES, Annelise. 2006. “Introduction: In Response”. In: Documents: Artifacts of Modern Knowledge. Michigan: The University of Michigan Press.:2), documentos oferecem um terreno pronto para experimentação com modos de apreender a modernidade etnograficamente. Em conjunto com a minha experiência de campo na região do Médio Xingu, a discussão pretende compreender como o conceito de progresso viaja entre diferentes registros da linguagem e do pensamento modernos, ora como signo glorioso de uma civilização orgulhosa de si mesma, ora como objeto problemático que expressa os efeitos destrutivos desta mesma civilização. Apenas o recurso a estes registros permite acessar a diversidade de escalas em interação neste tópico: discurso em essência grandioso, ampliado ao entendimento das dinâmicas gerais do desenvolvimento social em escalas globais, nacionais e regionais, a noção de progresso permeia também a percepção subjetiva das transformações que afetam a vida cotidiana.
Vidência
O cotidiano pacato de uma cidade do sertão nordestino é interrompido por um grupo de artistas mambembes. Equipado com um alto-falante, o caminhão da Caravana Rolidei apresenta seus três integrantes: “O fabuloso Andorinha, o rei dos músculos”; “a internacional Salomé, a rainha da rumba”; e “o extraordinário e inimitável Lorde Cigano, o imperador dos mágicos e dos videntes”.
A caravana chega pela manhã provocando estardalhaço e se apresenta à noite, com casa cheia. Os artistas notam, porém, que o movimento é menor que o do ano anterior. O espetáculo é assistido pelo casal Ciço e Dasdô. Encantado com Salomé, o sanfoneiro Ciço resolve abandonar a vida no sertão e se juntar à Caravana. Grávida, Dasdô o acompanha. No plano das relações pessoais, Bye Bye Brasil se desenvolve em torno da paixão de Ciço por Salomé, da relação complexa entre Salomé e Lorde Cigano e entre Ciço e Dasdô, passando por todo um jogo de combinações sexuais, afetivas e de espelhamentos variados entre os quatro protagonistas.
Em sua autobiografia, Diegues conta que a ideia inicial de Bye Bye Brasil apareceu durante as gravações de um filme anterior nos arredores da pequena cidade alagoana de União dos Palmares. Ao se aproximar da cidade, o diretor notou uma nuvem de luz suave, azul, que o remeteu à imagem de um disco voador:
Conforme a Kombi foi se aproximando, cheguei a imaginar que poderia ser a luz de um disco voador sobrevoando União. Quando chegamos à praça principal, descobri se tratar de um aparelho de televisão em funcionamento, instalado no centro do espaço aberto. Como os aparelhos ainda eram caros, os prefeitos do interior os compravam para servirem ao lazer da população em praça pública. Em vez de pontes do nada para lugar nenhum, as campanhas eleitorais eram agora baseadas na promessa de um aparelho de televisão ao alcance de todos, como um totem no centro da cidade.
Em torno do totem, ali estavam cortadores de cana e vaqueiros, pequenos comerciantes e o lumpesinato da cidade, mães de família e seus filhos descalços, todos em silêncio perplexo diante do aparelho em cuja tela Flávio Cavalcanti, vestido num smoking impecável, apresentava programa produzido e dirigido no sul do Brasil. Alguma coisa de novo estava acontecendo no país e, alguns anos depois, essa visão em União dos Palmares me inspirou o filme Bye Bye Brasil (Diegues 2014DIEGUES, Carlos. 2014. Vida de Cinema. Rio de Janeiro: Objetiva (versão e-book).).
A cena é reproduzida em Bye Bye Brasil. Os habitantes de uma cidade concentram-se diante de uma TV adquirida pela prefeitura e exibida em praça pública. Assiste-se a Dancin’ Days, novela exibida pela Rede Globo no horário das 20h entre 1978 e 1979. A plateia mal pisca. Lorde Cigano e Salomé provocam a explosão do aparelho e a caravana é expulsa da cidade. A explosão da TV dá o tom do filme: uma crítica ao “progresso midiático”, com os artistas mambembes representando um momento anterior, associado a uma espécie de entretenimento “naif”, que se estaria perdendo com a passagem do tempo. Tal como os tratores que abriam espaço para a passagem de caminhões pela Transamazônica, a TV remete a um entretenimento mecanizado, de massa, a uma substituição, se poderia dizer, de um passado “mágico” por um presente “moderno”.
Na parada seguinte, a trupe encontra um vilarejo que parecia acolher perfeitamente as expectativas do grupo. Nenhuma antena “espinha de peixe” à vista: o local estava “com cara de nem ter eletricidade”. Mas a população encontra-se às voltas com outra preocupação. Como explica o exibidor de cinema, também volante, que lamenta a decadência de sua própria atividade: “As nuvens carregam, carregam, mas não cai água. Esse ano ainda não choveu”. O vilarejo passaria a noite rezando para a padroeira pela chuva.
Mas no dia seguinte, há espetáculo. Os presentes pagam a entrada como lhes é possível, com alimentos e objetos diversos. Durante a apresentação, Lorde Cigano performa um número de vidência. O público toma-o como santo e o questiona sobre as agruras do lugar, castigado pela seca:
A terra não é nossa. E também já não presta mais. Há dois anos que a gente não vê um maxixe na roça. Já fizemos promessa. Ajoelhamos nos pés da cruz, rezamos pro Padinho Ciço pra ver se chovia. As nuvens carregam, ameaçam trovoar, mas chover não chove. Será que Deus está distraído? Ou não gosta do pessoal desse lugar?
O mágico é surpreendido e pede que as luzes se acendam, o que não acontece. A cena é filmada inteiramente à luz da lanterna que ele segura, enfocando apenas um rosto a cada vez, de pessoas na plateia e dele mesmo. Uma mulher toma a palavra e pede notícias de sua família, que migrara inteira para algum lugar desconhecido. Seu marido morrera havia poucos meses e, agora sozinha, ela desejava reencontrar os parentes. Então algo acontece: inicialmente percebemos o embaraço de Lorde Cigano, incapaz de oferecer qualquer resposta às inquietações da mulher e seus conterrâneos; o mágico é posto diante de seu próprio fingimento. Mas entre uma frase e outra, subitamente, ele parece adquirir um tom de fala genuíno, como se inspirado por algo que o ultrapassasse:
Eles estão num vale muito verde, onde chove muito. As árvores são muito compridas e os rios são grandes feito mar… [A partir daqui sua voz muda de tom]. Tem tanta riqueza lá, que ninguém precisa trabalhar. Os velhos não morrem nunca e os jovens não perdem sua força. É uma terra tão verde… Altamira!
Os abacaxis gigantes
Sabemos de onde Lorde Cigano tira, ao menos em parte, sua imagem de Altamira. Algumas cenas atrás, presenciamos seu encontro com um caminhoneiro que lhe conta sobre a cidade: “É o centro da Transamazônica. Tem gente do Brasil inteiro indo pra lá trabalhar na estrada e depois comprar terra”. “As árvores são do tamanho de arranha-céus”, “o abacaxi lá é do tamanho duma jaca”; “tem minério, pedra preciosa, tudo ali à flor da terra”. Lorde Cigano então pergunta: “Tem muito índio lá?”. “Tinha”, responde o caminhoneiro, “mas a maioria o pessoal já acabou com eles (…) Depois que fizeram a estrada, aquilo lá virou lugar de branco. Dinheiro pra todo mundo, todo mundo é rico”.
Se não há como afirmar a veracidade da intuição de Lorde Cigano quanto ao paradeiro da família sertaneja, temos ao menos certeza sobre um aspecto de sua “vidência”: ela diz respeito a seu próprio futuro, e Altamira é o próximo destino da Caravana Rolidei. A fala tem, porém, um segundo aspecto, talvez mais importante do que seu caráter de “previsão”: em seu trecho final, deriva pelo domínio do sonho ou do mito, fabulando Altamira como um lugar onde “os velhos não morrem nunca e os jovens não perdem sua força”. Um avatar da Terra sem Mal guarani (Clastres 1978CLASTRES, Helène. 1978 [1975]. Terra sem Mal: o Profetismo Tupi-Guarani. São Paulo: Editora Brasiliense.), Altamira aparece como signo de uma Amazônia edênica, imagem invertida do “mundo real” encarnado pelo Nordeste seco.
De fato, toda a propaganda envolvida na construção da Transamazônica pelo governo Médici buscava evocar uma nova imagem da Amazônia como Eldorado, oferecendo a estrada como solução dos problemas provocados pela seca no Nordeste. Em julho de 1970, o ministro dos Transportes Mario Andreazza pronunciava-se na Câmara dos Deputados para defender o projeto da estrada evocando o Nordeste e sua “face sofrida e terrivelmente angustiada pela seca” que se punha diante da nação, “senão mais e apenas para a assistência e para a comiseração, agora para o inescusável e impostergável remédio que o nosso estágio de desenvolvimento impõe e a nossa tecnologia permite” (Andreazza 1970:3-4).
Em 1969-70, o Nordeste vive mais uma de suas grandes secas históricas. Em junho de 70, Médici faz uma visita à região acompanhado de uma enorme comitiva que incluía alguns dos principais integrantes do governo, e despede-se com um discurso inflamado: “(…) quero dizer que não me sinto com poderes e dons para fazer milagres, mas tenho firmeza, confiança e decisão para proclamar à Nação inteira que, com a ajuda de todos os brasileiros e com a ajuda de Deus, o Nordeste afinal haverá de mudar”.
Poucos dias depois, o governo apresentaria a colonização da Amazônia como solução definitiva para a miséria recorrente na região, lançando um programa “capaz de gerar rapidamente a riqueza, para completar, sem inflação, o esforço necessário à solução de dois problemas: o do homem sem terras no Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia” (Gomes 1972GOMES, Flavio Alcatraz. 1972. Transamazônica, a redescoberta do Brasil. São Paulo: Livraria Cultura Editora.:12). O segundo problema, da terra sem homens, diz respeito à preocupação em garantir a região Amazônica como parte integrante do território nacional. Sem ocupação efetiva, ela estaria sujeita à ganância internacional. Sob a ótica da geopolítica militar, com afeto à ideia de “soberania nacional”, era preciso que o Brasil incorporasse a Amazônia efetivamente ao seu território, antes que outros países o fizessem, ideia resumida no slogan “integrar para não entregar”.
O programa incluía em sua primeira etapa a construção imediata das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. A Transamazônica foi planejada para ter 5.296 quilômetros: começava simultaneamente em João Pessoa (PB) e Recife (PE), aproveitando estradas já construídas no Nordeste que se encontram em Picos (PI). Daí seguiria, cruzando a rodovia Belém-Brasília, os rios Xingu e Tapajós até atingir Humaitá (AM), às margens do rio Madeira. Um outro trecho, de Humaitá até Cruzeiro do Sul (AC), foi planejado para ser construído pelo próprio Exército, à diferença dos trechos anteriores, realizados por empreiteiras contratadas. A intenção era que de Cruzeiro do Sul a estrada seguisse até Pucalpa, no Peru, e daí atingisse Lima, ligando o Atlântico ao Pacífico. O último trecho construído, porém, liga Humaitá a Lábrea, ainda no Amazonas; seu traçado atual soma 4.223 quilômetros de extensão.
Mais do que uma via a ligar pontos dispersos no espaço, contudo, a Transamazônica era o eixo central de um Projeto de Colonização de dimensões gigantescas, que planejava assentar de forma organizada 100 mil famílias nas margens da estrada e em vicinais, fornecendo infraestrutura para a produção, incluindo crédito, ferramentas, sementes, assistência técnica, além serviços públicos, como escolas e atendimento de saúde.
A Caravana Rolidei reproduz o movimento espacial que é constituinte da Transamazônica, tanto pelo seu traçado - feito para ligar o litoral nordestino a, no limite, o litoral do Pacífico no Peru - quanto pelo movimento migratório que ela permitia e estimulava. Ainda que a via contasse com migrantes de todo o país e visasse também, eventualmente, remediar a escassez de terra na região Sul, o governo militar enfatizava em seu discurso, cheio de referências épicas, a migração para a Amazônia como solução para o sofrimento causado pela seca no sertão nordestino. As descrições da época davam proporções bíblicas ao movimento populacional, com comparações frequentes ao êxodo hebraico.1 1 Note-se, não obstante, que a relação entre o Nordeste seco como fonte de migrantes para a Amazônia remonta aos tempos da febre da borracha, sendo a maior parte dos que chegavam para trabalhar nos seringais provenientes daquela região.
O minério à flor da terra de que fala o caminhoneiro também ecoa o discurso sobre a Transamazônica na década de 1970. Uma das justificativas recorrentes para a construção da estrada estava na oportunidade de extração de minério nas diversas regiões que a via atravessaria: falava-se em ferro, especialmente na Serra dos Carajás; diamante, no rio Tocantins; ouro e estanho, no Tapajós; cobre e chumbo, no médio e alto Xingu e no rio Fresco; calcários e evaporitos. Além disso, diversos garimpos de ouro se instalavam na época na bacia do Tapajós e desde a década de 1940 extraía-se o minério na Volta Grande do Xingu, em pequenos garimpos. A partir de 1980 inicia-se ainda a fenomenal febre do ouro de Serra Pelada, nas proximidades de Marabá.
A referência do caminhoneiro aos abacaxis gigantes tampouco é gratuita: ainda em 1970, a revista Veja noticiava a inauguração das obras da Transamazônica por Médici em Altamira e relatava um episódio ocorrido durante a mesma viagem, que envolveu diversas cidades da Amazônia. Em Rio Branco, o governador do Acre, Jorge Kalume, mostrou-lhe um abacaxi de 16 quilos. Bem humorado, o ditador comenta: “É, governador, o senhor conseguiu um abacaxi maior que o meu”.
O Brasil Grande
Os principais veículos de comunicação da época noticiavam a construção da estrada com o tom ufanista que se misturava ao discurso oficial do regime: era o Brasil Grande, o gigante que despertava para tomar posse das terras amazônicas que até então permaneciam inexploradas. Se, de início, a estrada relacionava-se à solução de dois problemas práticos (os homens sem terra e a terra sem homens), logo ela se tornaria, no discurso midiático da época, símbolo de algo mais amplo. A maior obra do regime militar até o momento, ela concentrava o sentido de otimismo implicado no “milagre” brasileiro. Com um crescimento econômico de 10,4% em 1970, o país era apresentado como se caminhasse a passos largos para cumprir seu destino manifesto de se tornar uma potência mundial, no mesmo instante em que a máquina repressora da ditadura alcançava seu ápice.
Revistas como Cruzeiro, Manchete e Realidade traziam dezenas de fotografias coloridas impressas em página inteira, mostrando o contraste entre a mata alta e a terra nua da estrada aberta em longas retas. Os textos exaltavam o espírito de aventura e pioneirismo que o empreendimento tomava: “Os heróis da Transamazônica”, intitulava Manchete uma dessas reportagens, sobre os trabalhadores da estrada. Os títulos eram grandiloquentes, fazendo jus ao tema: “Transamazônica: compromisso com o futuro”, “A epopeia das estradas” e “O 13° trabalho de Hércules”. O trecho de uma reportagem publicada em outubro de 1971 é emblemático do tom do noticiário:
Grande é a selva, porém maior é o homem, e o brasileiro decidido a encontrar o seu futuro está abrindo caminhos que antes pareciam impraticáveis, em pleno coração da mata equatorial. O projeto da Transamazônica obriga o antigo inferno verde a recuar, coloca postos avançados de civilização nos lugares mais remotos e torna o índio um espectador espantado, prestes a ser assimilado pela cultura dos que chegam para ficar (Manchete 1971 citado em Menezes, 2007:114).
Era um outro Brasil inteiro que se descobria (e comparava-se a estrada ao “descobrimento” por Cabral), metade do território nacional que agora finalmente sairia de um isolamento inerte para se integrar ao restante do país. Para a mídia, havia muito assunto a explorar: a Amazônia era recoberta de um ar misterioso que se mostrou rentável nas bancas de jornal.
Em outubro de 1971, a revista Realidade, da editora Abril, publicava uma edição especial sobre a região, com 326 páginas de textos, fotos (inclusive as primeiras de Claudia Andujar entre os Yanomami) e propagandas. Esta publicação nos servirá como material para uma análise mais detida do discurso sobre a região veiculado na época, tendo a Transamazônica como elemento-chave.
A revista buscava trazer diferentes visões acerca do que se passava naquele momento em um Norte que os habitantes dos centros urbanos conheciam pouquíssimo. O projeto da estrada e de integração da Amazônia não era unanimidade mesmo entre os apoiadores da ditadura. Logo nas primeiras páginas, a revista expõe a discordância entre dois militares. O ex-diretor da Escola Superior de Guerra, Rodrigo Octavio Jordão Ramos, defendia que a Amazônia, caso não fosse “efetivamente integrada ao todo nacional”, estava ameaçada de passar para o controle internacional ou de outras nações. Já o general Olympio Mourão Filho, o iniciador do golpe em 64, defendia que um plano tão ambicioso de integração da Amazônia “precisava ter bases científicas”:
Não podemos aceitar de boa vontade a afirmação de que a Amazônia pode conter 300 milhões de habitantes, que é o celeiro do mundo, que desperta a ambição quando a explosão demográfica torna apertado o planeta, e que não possuímos armas capazes de conter a ambição alienígena. (…) A teoria, de resto, pouco científica, de espaços vazios não se aplica àquela região. Ela não é um espaço vazio, mas um espaço pleno de árvores, formando a maior floresta tropical do globo (…). As futuras gerações não pouparão queixas das atuais que ousarem a destruição predatória da selva, abrindo, a qualquer pretexto, clareiras que conduzirão a novas falacroses progressivas até a diminuição substancial da mata virgem ou seu desaparecimento (Realidade 1971:9REALIDADE. 1971. Amazônia. São Paulo: Editora Abril, outubro de 1971.).
Para além de um inesperado aceno ao ambientalismo, a fala de Mourão Filho menciona um assunto recorrente em outros textos da revista: o crescimento demográfico e a necessidade de aumentar a produção de alimentos. Victor Civita abria a edição com uma carta em que, de um lado, apontava a Amazônia como “despovoada e improdutiva num mundo que assiste à explosão demográfica e do consumo”; de outro, como “o local para a maravilhosa experiência do progresso em harmonia com a natureza”. Um anúncio da Nestlé algumas páginas adiante comemorava os 50 anos da empresa no Brasil: “A população da Terra aumenta em ritmo mais acelerado do que os seus recursos. Neste mundo que vai se tornando superpovoado, supermecanizado, superagitado, cabe à indústria de alimentação a tarefa de explorar e descobrir novos recursos alimentares”. Pulam-se outras páginas e Jarbas Passarinho afirma: “A Amazônia (…) é a única extensão de terra considerável que pode rapidamente ser posta a serviço da luta contra a fome mundial” (:20). É o que também diz um diretor de uma empresa pecuarista (o consórcio Swift-Armour-King’s Ranch, apresentado como reunião de três dos maiores grupos mundiais da carne): “Metade da população do mundo passa fome, está prevista uma grande escassez de alimentos para as próximas décadas. A região Amazônica está fadada a ser o grande centro exportador de carne do mundo”.
As reportagens eram margeadas por propagandas que faziam referência à estrada e ao que ela representava. Anunciam-se caminhões (”Quanto mais estradas o país constrói, mais dinheiro você ganha com o seu Mercedes-Benz”, “você pode somar as vantagens das boas estradas do novo Brasil com as vantagens da evolução tecnológica dos veículos Mercedes-Benz”); congeladores (”No calor da luta contra a selva, Prosdócimo garante o frio”); navios (LLoydbras: nós fazemos no mar o caminho do progresso”, sob uma foto de máquinas trabalhando na Transamazônica, que a companhia transportava por via marítima); palitos de fósforo (”Da floresta amazônica ao palito de fósforo da Fosnor”, companhia que, expandindo sua fábrica próxima a Belém, usava um tipo de madeira nativa, o morototó, mas investia em projeto de reflorestamento e tinha entre suas marcas uma chamada “Transamazônica”). A Esso, por sua vez, trazia um anúncio com o título “Tem um tigre neste mato”:
A Transamazônica não é trabalho para qualquer um. (…) Vale a pena trabalhar para eles. Com eles, lá na frente, onde ninguém pisou antes. Mesmo que para isto a gente tenha que aprender a fazer balsa no meio da selva, para transportar tonéis de gasolina e óleo. Ou abrir posto onde nem estrada tem.
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), presente na região, atentava para a presença de jazidas de estanho nas imediações da estrada. “Há algo de estanho na solidão verde da Transamazônica” é o título da peça, que afirma: “Árvores seculares tombam e acompanham a sua terra, naquele movimento de sair da frente para o progresso passar”. A foto é a de uma estrada em meio à mata, pavimentada de estanho.
Olhar para estas peças publicitárias nos permite levantar algumas questões. Em primeiro lugar, chamam a atenção as oportunidades de negócios que se abriam com a estrada. Estas grandes companhias demonstram em seus anúncios o apoio e a confiança no projeto, que se apresentava como nova oportunidade para uma expansão econômica que já vinha caminhando a passos largos. É difícil, contudo, estimar o quanto estas empresas (o “grande capital”, se quisermos) lucraram com a abertura da estrada ou com a intenção de “integração” da Amazônia, e mesmo o quanto se empenharam para instalar negócios na região.
Sabemos que a Volkswagen, por exemplo, instalou em 1973 uma fazenda de 140 mil hectares, para criação de gado, no Vale do Araguaia. Maior indústria em atividade do Brasil, a VW foi estimulada pelo governo a implementar uma fazenda modelo, que seria exemplo de utilização de técnicas modernas para a pecuária amazônica, com tratamento privilegiado de seus trabalhadores (a intenção declamada era oferecer boas condições de salários, moradia, saúde, educação e lazer). A experiência durou treze anos e resultou em dois escândalos na imprensa nacional e internacional: de um lado, um grande incêndio em 1975 expôs a enormidade dos desmatamentos realizados (a empresa orgulhara-se de queimar 4 mil hectares de floresta em poucos meses no ano anterior); de outro, denunciava-se a exploração de trabalhadores temporários em regime análogo à escravidão, prática comum na região que se tornou particularmente notória quando ligada a uma corporação do porte da VW (Acker 2014ACKER, Antoine. 2014. “O maior incêndio do planeta: como a Volkswagen e o regime militar brasileiro acidentalmente ajudaram a transformar a Amazônia em uma arena política global”. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 34, n. 68:13-33.).
Note-se, a propósito, que o discurso militar em torno da necessidade de proteger a soberania nacional na Amazônia não impedia o governo de incentivar o investimento estrangeiro na região: instalavam-se livremente companhias internacionais ligadas à pecuária e, principalmente, à mineração. O representante de uma mineradora, a Kaiser Aluminium, afirma à Realidade que “a Transamazônica é de grande interesse para a exploração mineral da área” (:182). A estrada facilitaria a pesquisa mineral em áreas de difícil acesso por via fluvial. As propagandas da edição especial de Realidade incluem empresas ligadas à mineração, mas também à pecuária (”A Amazônia vai transformar o seu imposto de renda em $ Filet-Mignon”, dizia uma propaganda da Sudam) e mesmo à madeira (”Madeira é o melhor negócio do momento”, garantia a Prama, empresa localizada na fronteira com o Peru, que se gabava de ser pioneira na extração mecanizada de madeira e de já ter exportado 200 mil dólares para os Estados Unidos).
A madeira e a especulação fundiária demonstraram ser um grande negócio, sucedido pela criação de gado com sucesso apenas relativo. Em 2013, a contribuição da agropecuária para o PIB de Altamira estava em R$ 199,6 milhões, enquanto em seu vizinho São Félix do Xingu, ao sul, esta contribuição chegava a R$ 375,5 milhões. Outras áreas da Amazônia abriram-se com maior intensidade a grandes projetos agropecuários (especialmente o norte do Mato Grosso e o leste do Pará). Também é o caso de Uruará, onde grandes fazendas se instalaram especialmente a partir da década de 1980 (Coutinho da Silva 2008COUTINHO DA SILVA, Maria Ivonete. 2008. Mulheres migrantes na Transamazônica: construção da ocupação e do fazer política. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará.). De todo modo, o pasto segue como a principal atividade em áreas desmatadas na Amazônia, ocupando de 75% a 81% do total desflorestado entre 1990 e 2005 (Barreto et al. 2008BARRETO, Paulo; PEREIRA, Ritaumaria & ARIMA, Eugenio. 2008. A pecuária e o desmatamento na Amazônia na era das mudanças climáticas. Belém: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.). Com razão, a colonização planejada pelo governo aos moldes de uma reforma agrária seguia aliada a um estímulo à instalação de grandes projetos privados.
As empreiteiras que construíram a estrada são um caso à parte: entre as contempladas nos leilões das obras, as mais conhecidas são Queiroz Galvão, Mendes Junior e Camargo Correia. Segundo Campos (2012CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. 2012. A ditadura das empreiteiras. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense.:428ss.), elas teriam tido grande influência na definição da obra - Andreazza e Eliseu Resende, diretor do DNER, eram as principais vozes das empreiteiras no governo militar e teriam apresentado o projeto ao presidente (somando-se aos interesses fundiários e agrários, das mineradoras, e ao dos fabricantes de equipamentos para construção rodoviária e de automóveis). A Queiroz Galvão, responsável pelo trecho próximo a Altamira, também construiu o aeroporto da cidade. Com a experiência adquirida, as empreiteiras envolvidas no projeto teriam vantagem na concorrência em outras obras em florestas equatoriais ao redor do mundo e outros lugares “inóspitos”: a Mendes Júnior, principal empreiteira da Transamazônica, construiria alguns anos mais tarde estradas nos desertos do Iraque e da Mauritânia.
Um segundo ponto destacável nas propagandas do período está na ideia de progresso que alimenta o discurso da época, e que nos interessa particularmente aqui. Há uma relação frequente entre ela e a noção de civilização. Trata-se de um progresso técnico, ligado às máquinas e aos automóveis, à estrada como signo do novo, de uma aceleração afeita a certa noção de modernidade. Mas trata-se também de um avanço sobre a selva primitiva, sobre o “atraso” de uma região do país, até então legada a povos indígenas e outras populações tomadas como miseráveis, que viria finalmente a conhecer as benesses da civilização contemporânea.
Nas páginas desta edição de Realidade, porém, a questão não era tratada de maneira inequívoca. O desmatamento decorrente da “integração” amazônica já era visto como um problema, e a revista dedica uma longa seção ao tema da destruição da floresta. “Civilização ou ameaça?”, perguntavam-se os editores. O mesmo sentido de progresso que alimentava o ímpeto otimista de ocupação da Amazônia parece também permear, como uma espécie de face negativa da moeda, o sentido do progresso como destruição ambiental. “Civilização até hoje tem sido sinônimo de mata arrasada”, escrevia a revista.
Pesquisadores entrevistados pela revista lançavam alarmes sobre a ocupação acelerada da floresta: “No futuro, a paisagem seria sinistra: depois das primeiras pastagens vigorosas, os bois começariam a comer uma relva rasteira e mesquinha. Iriam então para mais longe buscar melhores pastagens e recomeçar o ciclo comestível. Atrás de suas pegadas teriam deixado pobres e inúteis pastagens” (:145). Já alertavam também para uma incerteza em relação ao aumento das concentrações de gás carbônico na atmosfera. E encontravam eco no movimento de contracultura que florescia à época: “Eu pergunto: esse tédio da vida moderna pré-fabricada não acionou a revolta da juventude?”, questionava um pesquisador alemão, “Na Amazônia não estão agora representados os sonhos do hippie e do ecologista? Não estaria aqui na Amazônia a porta de entrada de uma nova via de esperança?” (:149).
A chegada
Quando a Caravana Rolidei chega a Altamira após a longa viagem pela Transamazônica, com suas árvores e atoleiros descomunais, suas expectativas são logo frustradas: as antenas espinhas de peixe são visíveis a distância e o movimento na cidade estava “maior que o do Rio e de São Paulo juntos”, nas palavras de Lorde Cigano.
Alguns anos depois do início da construção da estrada, Altamira estava longe de ser um vilarejo pacato. Contudo, a cidade que os personagens da caravana imaginavam que encontrariam nunca existiu: um lugar no meio da selva amazônica onde “todo mundo é rico”, mas ninguém teria com o que gastar suas fortunas. Nas décadas anteriores à chegada da Transamazônica - especialmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, que deu certo fôlego à extração e ao comércio da borracha - Altamira vivia da exportação de alguns produtos da floresta, entre os quais o mais importante era a pele de animais selvagens (gato maracajá e onças, principalmente). O vilarejo tinha cerca de 5 mil habitantes e, é verdade, não havia ali grandes oportunidades de dispêndio; mas tampouco havia muito dinheiro em circulação.
Os mais antigos moradores de Altamira com os quais conversei durante minha estada na cidade, entre 2013 e 2016, expressaram uma visão nostálgica do local antes da construção da Transamazônica. Dizia-me Dona Aldenira: “Aqui em Altamira era uma tranquilidade. Só tinha três ruas. A da frente, que é o cais. Essa aqui, que é a Coronel José Porfirio, e a Primeiro de Janeiro”. E Dona Rosa: “Nessa época Altamira era a melhor cidade e a gente não sabia”.
Tratava-se de um vilarejo de casas de alvenaria pertencentes aos patrões seringalistas, convivendo com as casas de barro do restante da população, muitas cobertas com palha. As primeiras, lembra Dona Aldenira, eram palco das festas “de primeira”, as quais os pobres não frequentavam, e as outras, das “festas de segunda”, onde as meninas dançavam com mais desenvoltura; as festas de terceira eram do meretrício. Mesmo após a decadência da economia da borracha, toda a estrutura social que a baseava se manteve. O jornalista Flavio Alcataz Gomes, que esteve em Altamira em 1972GOMES, Flavio Alcatraz. 1972. Transamazônica, a redescoberta do Brasil. São Paulo: Livraria Cultura Editora. para uma série de reportagens sobre a Transamazônica, descreve alguns dos equipamentos da cidade: “Havia quatro automóveis para toda a cidade, uma barbearia, um cinema (dos padres), um ginásio (também dos padres), trinta salas de escola rural (do governo do município), três grupos escolares (do governo do estado), duas pensões (nenhuma delas ‘de mulheres’) e uma farmácia” (Gomes 1972:61).
“Primeiro teve o pau do presidente. Depois começaram a chegar as máquinas de todo tamanho”, lembra D. Aldenira, referindo-se ao evento de inauguração das obras da estrada. Foi a ocasião em que Médici visitou Altamira, fixando o marco inaugural da Transamazônica, monumento que ficou conhecido pela população local como “pau do presidente”. A cerimônia envolveu a derrubada de uma castanheira nas imediações da cidade, no toco da qual foi pregada uma placa onde ainda se lê: “Nestas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o senhor presidente da República dá início à construção da Transamazônica, uma arrancada histórica para conquista e colonização deste gigantesco mundo verde. Altamira, 9 de outubro de 1970”.
Dois anos depois do início das obras, Altamira já havia triplicado de tamanho: contava com 15 mil habitantes apenas na zona urbana. Dos quatro carros existentes, passara-se a 350. Os migrantes não paravam de chegar, atraídos pelas promessas que as propagandas levavam por televisão, rádio e mídia impressa. A publicidade oficial trazia imagens das agrovilas em pleno crescimento, as famílias migrantes felizes com o acesso a postos de saúde, igrejas, escolas, campos cultivados, com armazéns já recebendo os produtos da lavoura (Souza 2012:90). Uma senhora, Dona Dorinha, me contou que sua família migrou para a região após assistir a uma propaganda em que apareciam melancias enormes, apresentando Altamira como “a terra onde jorrava leite e mel”.
Dona Rosa explicou-me como se estabeleceu uma rede informal de apoio aos migrantes entre os moradores de Altamira nos primeiros anos. As pessoas chegavam e não tinham onde ficar; casas eram erguidas em regime de mutirão, com novas ruas sendo abertas rapidamente. Famílias inteiras acampavam nos quintais alheios à espera de que o Incra os assentasse em um lote à beira da estrada. Enquanto isso, dependiam da solidariedade da população local para estadia e alimentação. Muitos recém-chegados morriam em condições diversas, especialmente em acidentes na estrada, onde as caçambas lotadas de migrantes tombavam com frequência. “O sino da igreja não parava de tocar anunciando as mortes”, diz ela.
A população da cidade mudou rapidamente de figura: o bispo Dom Erwin Krautler, então padre, lecionava no colégio Maria de Mathias, mantido pela igreja, nesses anos que sucederam a chegada da estrada. Lembra pelo rosto dos alunos como a cidade se tornou subitamente diversa:
Geralmente era essa turma de Altamira, que tinha uma característica fortemente nordestina ou de ascendência indígena. E de repente, numa sala de aula, ao lado de um baiano negro, uma menina de olhos azuis e cabelos loiros que veio do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Altamira era o Brasil inteiro de repente.
Gomes reportava em 1972GOMES, Flavio Alcatraz. 1972. Transamazônica, a redescoberta do Brasil. São Paulo: Livraria Cultura Editora. como o custo de vida subira em proporção semelhante ao crescimento vertiginoso da cidade: “Um quilo de carne, por exemplo, custava um cruzeiro e sessenta centavos. Hoje vale dez cruzeiros sem osso e seis cruzeiros com osso. Os ovos eram vendidos a cinquenta centavos a dúzia. Atualmente um único ovo é disputado a cinquenta ou sessenta centavos (…)” (:62). E seguia:
O aluguel de uma moradia precária de dois quartos, sala, cozinha e “casinha lá fora” não custa menos de quinhentos cruzeiros. O terreno nas ruas “do centro” vale tanto quanto os dos bairros mais sofisticados de qualquer capital brasileira. A cadeia, outrora quase que permanentemente deserta, abriga até criminosos passionais. E - cúmulo do progresso - uma boate foi instalada na praça central, bem defronte ao ginásio, com sua fachada pintada de vermelho berrante, sobre a qual fulgura o nome: “Aquarium” (:62-63).
É inevitável comparar as lembranças e os registros desse momento da história de Altamira com as mudanças pelas quais a cidade passou na época da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, concentrada especialmente entre os anos de 2011 e 2016. Eu mesmo senti na pele a dificuldade de encontrar um local para alugar por um preço razoável, no começo de meu trabalho de campo. Os preços de alimentos subiam vertiginosamente. Os casos de violência multiplicavam-se e eram reportados pela mídia de forma particularmente sensacionalista. Havia uma atmosfera geral de insegurança na cidade. Somando-se a isso o clima de farra que tomava a cidade nos dias de folga dos trabalhadores da barragem e a proliferação das casas de prostituição. Muitos moradores expressavam sua visão do momento pelo qual Altamira passava recorrendo à figura do garimpo, que povoa intensamente o imaginário regional. “Altamira virou um garimpo”: ouvi esta frase vezes sem conta durante minha estada na cidade (Macedo 2016aMACEDO, Eric. 2016a. “O garimpo hidrelétrico: impactos de Belo Monte na cidade de Altamira e subsídios para reflexão sobre o complexo hidrelétrico do Tapajós”. In: Daniela Fernandes Alarcon, Brent Millikan & Mauricio Torres (orgs.), Ocekadi: hidrelétricas, conflitos socioambientais e resistência na Bacia do Tapajós. Brasília: International Rivers Brasil.).
De volta às memórias da década de 1970, Dona Maria Niza contou à antropóloga Maria Ivonete Coutinho da Silva (2008:41)COUTINHO DA SILVA, Maria Ivonete. 2008. Mulheres migrantes na Transamazônica: construção da ocupação e do fazer política. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará. suas impressões sobre aquele momento:
Era um montão de gente que ia chegando. Faltava tudo: gás, até os alimentos que eram de fácil acesso e baratos. Ficou difícil e subiram os preços. Até o pessoal da funerária enlouqueceu, pois não conseguia atender à demanda de caixões. Uma loja de Altamira, “Mundo dos Tecidos”, se preocupou em encomendar bastante pano para cobrir caixão, pois também faltava... O hospital do SESP ficava cheio de doentes, quase sem atendimento, pois só tinha dois clínicos gerais, e morria muita gente por acidente de carro ou máquinas, nas derrubadas embaixo de árvores, por causa do pium que causava hemorragias em algumas pessoas e de doenças como malária, leishmaniose e outras. Além disso, a violência que antes era uma raridade se tornou cotidiana. (…) O cemitério da cidade ficou cheio de covas desconhecidas, as pessoas que morriam na Transamazônica eram enterradas em Altamira porque não havia cemitério na estrada, e alguns eram enterrados como indigentes, quando não se encontrava a referência familiar, como era o caso de alguns peões que vieram trabalhar na Transamazônica e morreram. Antes a gente sabia exatamente quem estava enterrado ali, depois misturou, com nomes desconhecidos que não diziam nada para nós.
Dona Rosa recorda alguns detalhes da vida nos muitos cabarés que se abriram na cidade com a chegada da estrada. Ela morava na rua Anchieta, esquina com Pedro Gomes, e ali estavam localizados vários estabelecimentos. Ainda menina no começo dos anos 1970, com cerca de 12 anos, ela trabalhou nos cabarés: buscava água, lavava os quartos e as roupas das prostitutas, tratava peixe e carne para elas. Quase todas as mulheres vinham de fora, de Santarém, do Maranhão ou de outros lugares. Rosa lembra de ter conhecido apenas uma que era nativa de Altamira.
Sua mãe era criticada na cidade por dar apoio às prostitutas, recebendo-as em casa e cuidando das suas crianças. As mulheres grávidas precisavam parar de trabalhar: deixavam de dar lucro e passavam a dever aos patrões. As famílias nas redondezas abrigavam as prostitutas até o parto, quando as crianças eram enviadas para serem criadas por parentes das mulheres ou dadas a desconhecidos. Dona Rosa também recorda que havia muita violência entre os frequentadores dos cabarés: ela escutava muita bala e muito espancamento. Não era raro ver mortos na rua.
É em um destes cabarés que a Caravana Rolidei, de Bye Bye Brasil, encontrará sua ruína. Uma forma recorrente da caravana levantar uns trocados era usar a força de Andorinha em apostas na queda de braço. Ele encontrará em Altamira um competidor à sua altura. Orgulhoso e confiante, Lorde Cigano, agindo como seu empresário, aposta “até a mãe”. Eles perdem, então, o caminhão da caravana, com todo o material do circo. Andorinha, humilhado, desaparece na madrugada e dele não se tem mais notícia. Salomé prostitui-se a fim de levantar algum dinheiro. No dia seguinte, eles retomam viagem; desta vez, de barco para Belém.
O sentido do “adeus”
Algumas cenas atrás, quando está prestes a chegar a Altamira, a Caravana Rolidei encontra um grupo de indígenas, que seguem de carona no caminhão até a cidade. Eles aparecem vestidos com roupas da moda regional, usam óculos escuros, chapéus, carregam um rádio, consomem picolé e Coca-Cola com jeito de quem descobre novos sabores. Usam também colares indígenas, uma mulher leva um cesto na testa e o homem mais velho leva uma borduna à tiracolo. Uma das crianças leva um objeto entalhado em madeira na forma de uma televisão, coberta de grafismos (no lugar da tela, uma imagem de pássaro), e um aviãozinho no mesmo estilo. Outra criança carrega um jaboti vivo e o “cacique” não se separa de um macaco.
Seria possível ver nesta caracterização um lamento pela “perda cultural” dos indígenas no contato com os brancos - e talvez esta seja, em alguma medida, a intenção original do filme. Mas o cacique diz: “Depois que os brancos chegaram, minha aldeia se acabou. Agora eu vou para a cidade, pacificar os brancos”. O grupo é pouco fluente no português, com exceção do cacique. Mais adiante, entoam cânticos em língua materna à beira do Xingu. Eles parecem “pacificar os brancos” à sua maneira, experimentando aquilo que o mundo dos brancos pode oferecer, agora que seu próprio mundo foi invadido. Trata-se sem dúvida de um processo pleno de riscos, em diversas escalas: motivado pelo desejo de andar de avião, o cacique alista o grupo para trabalhar numa questionável fábrica de papel flutuante.
Outra leitura possível do modo como os indígenas são retratados é a de que eles representam um Brasil ao qual se diz “adeus”, o tradicional engolido pelo progresso, tal como o espetáculo mambembe da Caravana Rolidei é posto em risco pelo advento da televisão. Contudo, uma fala de uma das mulheres do grupo complexifica a questão: “Você é do Brasil?”, diz ela a Dasdô, que não entende a pergunta. E o cacique emenda: “Meu pai está perguntando como vai o presidente do Brasil”. “Sei lá”, ela responde. A pergunta da mulher indígena a situa como alguém de fora, como uma estrangeira.
De fato, uma das leituras recorrentes de Bye Bye Brasil - leituras de modo algum despropositadas - vê o filme como o retrato de uma passagem do “tradicional” ao “moderno”. Mas que Brasil tradicional é este que se perde e que seria evocado pela Caravana Rolidei? A trupe performa espetáculos tecnicamente simples, mas nem tanto: em um dos truques de mágica, faz-se nevar no interior da tenda. Sua aparente “simplicidade” técnica é compensada por uma espécie de magia naif, e aflora apenas no contraste com a televisão. Mais relevante neste contexto, contudo, seria avaliar a caracterização dos próprios personagens da caravana: trata-se de uma internacional rainha da rumba, que (corre a lenda) já foi amante de um ex-presidente dos Estados Unidos e se apresenta falando espanhol; do homem mais forte do mundo; e de um Lorde Cigano. Com exceção de Andorinha, sobre quem o filme apresenta pouca informação, os outros dois são figuras estrangeiras: o exterior é constituinte da expressão popular que muitos viram como representante de um Brasil antigo ou “tradicional”.
Que Brasil é este ao qual se diz “bye bye”? A questão pode ser encarada, à primeira vista, pelo menos de duas formas: como um Brasil passado que se abandona, ou como uma despedida do Brasil que se deixa, viajando para o exterior. Este último não é o caso do filme, uma vez que todos os seus deslocamentos se dão em território nacional. Mas talvez se possa ver uma terceira maneira de encarar o problema, conceitualmente: não será a própria ideia de Brasil que se poderia propor abandonar? Nada no filme evoca um Brasil unitário, purificado. Mesmo tomado como multiplicidade, o Brasil-diverso, seria preciso entender se há algo que promova um mínimo de unificação nesta diversidade.
Levando em consideração a história recente de Altamira, talvez este papel seja exercido pelo Estado brasileiro tal como ele se manifesta em suas instituições e em seus projetos. O Brasil, em Altamira, pode ser pouco além da Transamazônica e do Incra (no passado), ou da usina hidrelétrica de Belo Monte e do aparato público-privado que permitiu sua construção (no presente). O Brasil vem de fora; não há uma relação intrínseca entre a ideia de Brasil-nação e os espaços que ele conteria. Altamira deixaria assim de ter qualquer relação metafórica com este Brasil-nação: não se trata de pensá-la como representante dessa figura. Sobressai, assim, uma relação de exterioridade entre a cidade e o Estado, sendo o Estado algo que a afeta de fora, promovendo transformações vistas por muitos de seus habitantes como fruto de um progresso tomado como contraditório, porém inevitável.
A invenção do progresso
A promessa de construção de uma usina hidrelétrica no médio curso do rio Xingu estava feita desde a década de 1970, mas foi apenas nos anos 2010 que ela viria a ser cumprida. Vimos como o debate em torno da construção da rodovia Transamazônica estava imerso em discursos contrastantes sobre a ideia de progresso: a estrada era apresentada como símbolo da vitória do humano sobre a natureza, da civilização contra a selva, da chegada do Brasil moderno a uma região ainda inexplorada; por outro lado, ela também aparecia como um evento mobilizador de grande potencial destrutivo, seja para a floresta, seja para as dinâmicas sociais existentes na região previamente à sua construção. Com Belo Monte, a controvérsia se repete de modo diferente, mas semelhante em diversos aspectos: obra de proporções gigantescas, Belo Monte causou estragos socioambientais de magnitude tão ampla, e em tão diversas frentes, que é difícil dar dimensão da catástrofe representada pela usina. Desestruturação de comunidades indígenas e ribeirinhas, desrespeito a direitos básicos de pessoas deslocadas (De Francesco et al. 2021DE FRANCESCO, Ana; BRITO, Letícia Lopes; CORRÊA, Marcela Garcia; LOPES, Renan de Brito & SCABIN, Flávia. 2021. Direito à moradia adequada e a UHE Belo Monte: o caso dos ribeirinhos no beiradão. Relatório de Pesquisa. São Paulo: FGV CeDH. ), destruição de ecossistemas e uma onda de violência que se arrasta até hoje são apenas algumas das mais graves consequências das obras.
Se parte significativa dos movimentos sociais locais e o movimento ambientalista em diversas esferas denunciaram tal caráter destrutivo ao longo das décadas que precederam a construção e ainda intensamente durante as obras, Belo Monte nunca deixou de ser apresentado pelos seus realizadores e entusiastas, e compreendido por um largo segmento da população local, como um novo avatar do progresso a avizinhar-se da região. Belo Monte foi apresentado como símbolo do crescimento brasileiro nas primeiras décadas do século XXI: um crescimento que geraria empregos e desenvolveria a região, trazendo uma quantidade vultosa de recursos a serem empregados em projetos de mitigação e compensação de impactos negativos da barragem - projetos estes que tiveram eficácia questionável ou nula, em larga medida (Villas-Bôas et al. 2015VILLAS-BOAS, André; ROJAS GARZÓN, Biviany; REIS, Carolina; AMORIM, Leonardo & LEITE, Letícia. 2015. Dossiê Belo Monte: Não há condições para a Licença de Operação. São Paulo: Instituto Socioambiental.).
No discurso dos defensores de Belo Monte, “ambientalista” aparecia como uma categoria geral que agrupa todos os que falam contra esta e outras barragens. Os ambientalistas foram acusados de propagar o “atraso”, de impedir o “progresso”, de irracionalismo, e de advogar o primitivismo. Em 2011, o economista Delfim Netto, figura presente nos corredores do governo desde os tempos da Transamazônica, afirmou que a “tentativa de impedir a construção de usinas hidrelétricas como a de Belo Monte, no rio Xingu, a pretexto de preservar o meio ambiente, é manifestar a intenção de voltar à Idade da Pedra” (Delfim Netto 2011NETTO, Delfim. 2011. “Energia na Idade da Pedra”. Carta Capital, 26 de junho de 2011. ). A argumentação chegou a tomar os mesmos contornos nacionalistas que vimos evocados no governo Médici: a atuação de organizações não governamentais internacionais na oposição à barragem revelaria a urgência com que o Brasil deveria “tomar posse” da Amazônia diante da “cobiça” estrangeira.
Deparei-me com uma versão condensada desse progresso controverso em uma fala de Joaquim, mineiro que chegou em Altamira em 1975 com algum dinheiro e a intenção de tornar-se pecuarista. Montou uma fazenda e passou a comercializar insumos agrícolas. Quando nos encontramos, em 2015, seus negócios iam bem: com o movimento na cidade acelerado por Belo Monte, ele havia aberto um hotel no ano anterior. Conversei com ele e a esposa em um pequeno escritório atrás da recepção do hotel. Um trecho de sua fala me chamou particularmente a atenção:
Desde que chegamos [a Altamira] esperamos essa obra [de Belo Monte]. O atendimento de saúde hoje está melhor, há mais especialistas. No particular. No público está a mesma coisa, muito ruim. E o comércio melhorou. Na parte negativa, aumentou a violência e o trânsito ficou pior. Mas é o custo do progresso, não vê o Rio de Janeiro? (…) Seria bom se não precisasse derrubar nada, se a gente pudesse viver de frutos do mato, de peixe e farinha. Muita coisa se perdeu, muitos frutos, muitos remédios naturais, do mato. Para o pessoal daqui, o futuro estava garantido. Mas o progresso existe. Eu não posso parar o progresso. E nem quero.
O trecho é interessante porque oferece de forma condensada uma reflexão sobre a noção de progresso que ressoa também no conteúdo da edição de Realidade que discutimos acima e na narrativa de Bye Bye Brasil. Em primeiro lugar, note-se que todo o raciocínio do empresário está baseado em uma avaliação das transformações pelas quais a cidade vinha passando em termos de aspectos positivos ou negativos. Se o atendimento de saúde particular “melhorou”, com a chegada de mais especialistas, assim como o comércio - muito mais movimentado após a intensificação dos fluxos de dinheiro e pessoas trazidos por Belo Monte -, há também um aumento dos casos de violência em geral, e de mortes violentas no trânsito caótico de veículos que passou a dominar a experiência de circulação pela cidade. Estes aspectos negativos repercutem o momento de aceleração anterior de Altamira, nas memórias que evocamos da época da construção da Transamazônica. Nas páginas do número especial de Realidade, ressalta-se um contraste semelhante entre o entusiasmo com as transformações engendradas pela abertura da estrada e um alerta para as consequências negativas de tais transformações, expressas especialmente, naquele caso, na forma de preocupações com a devastação florestal.
A noção de progresso em questão manifesta uma dupla face: de um lado, refere-se a um conjunto de eventos que expressam uma transformação material acelerada do espaço (a sensação de que, quatro décadas mais tarde, o progresso havia novamente - e finalmente - “chegado”); de outro, a um processo temporal mais amplo, virtual e universal, que transcende suas manifestações particulares (“Eu não posso parar o progresso”). Em relação ao primeiro aspecto, o progresso coincide em parte com a urbanização, encontrando nas máquinas uma figura central. A popularização da televisão na década de 1970, de um ponto de vista midiático-cultural, é correlata à crescente mecanização dos transportes representada pela rodovia Transamazônica. A gigantesca maquinaria de Belo Monte, que a esta altura circulava pela cidade em cima de ruidosos caminhões, e a circulação acelerada de veículos motores retomam este aspecto mais de quarenta anos depois. Sob o segundo aspecto, notemos como a fala de Joaquim deriva para uma reflexão sobre a própria tessitura do tempo, percebido como uma sucessão de eventos inevitáveis. Partindo de sua perspectiva individual, Joaquim torna-se um observador distanciado dos eventos que afetam sua vivência em Altamira, mas um observador interessado, que seleciona e qualifica esses eventos em termos de ganhos e perdas, articulando uma narrativa que transita livremente entre esferas individuais e coletivas.
Está fora de minhas capacidades neste texto empreender uma análise consistente e aprofundada desta concepção de progresso nos termos de uma antropologia do tempo tal como proposta por Alfred Gell (1992GELL, Alfred. 1992. The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images. Oxford: Berg.)2 2 Tal proposta, que deixo para outra ocasião, exigiria uma leitura mais atenta do livro de Gell do que a que faço aqui. Trata-se reconhecidamente de uma obra de difícil absorção, tão repleta de insights quanto de mal-entendidos. Uma revisão de sua teoria (já se vão trinta anos de sua publicação) viria bem a calhar, especialmente tendo como pano de fundo a discussão contemporânea em torno da chamada “virada ontológica” na Antropologia (Holbraad & Pedersen 2017). Ver Kjaerulff (2020) para uma retomada recente, não exatamente nestes termos. . Ainda assim, o autor nos oferece um vocabulário proveitoso para uma elaboração, sem dúvida inicial e provisória, de uma teoria etnográfica do progresso. Comecemos notando que Joaquim seleciona certos aspectos que o interessam a partir da multiplicidade de eventos que se encadeiam em sequências de “antes e depois” (o que Gell chama, baseado nos escritos de McTaggert e Mellor, de série B do tempo, a série que remete às coisas e aos eventos que se sucedem objetivamente, e que são organizadas culturalmente em termos de “datas”). O discurso de Joaquim se estrutura assim por meio de marcos temporais específicos: o seu momento de chegada a Altamira, as transformações atuais na cidade, os elementos passados que se perderam (os “remédios naturais”, a alimentação baseada em peixe e farinha). Seu “mapa temporal” é associado a uma atenção particular a questões de saúde, ou a uma oposição mais ampla entre vida e morte: a chegada de mais especialistas para o atendimento de saúde particular, a custa de um aumento nas mortes violentas e do desaparecimento, com o desmatamento, de remédios “do mato”.
Observa-se, em seguida, que esta organização dos eventos é indissociável de uma conjugação complexa da percepção temporal subjetiva em termos de passado/presente/futuro (a série A de Gell). A narrativa de Joaquim, no trecho em questão, começa evocando o momento presente como um “futuro do passado”: no momento em que, na década de 1970, ele e a família chegaram a Altamira, eles já esperavam a construção de Belo Monte. A possibilidade futura da obra aparece como dada, e a sua atualização no presente confirma o que já era percebido, no passado, como seu caráter inevitável. A alusão ao Rio de Janeiro remete ainda a outro aspecto de projeção do futuro: se há mais violência e mais trânsito na Altamira de hoje, isto reafirma um caminho necessário das transformações da cidade paraense em direção ao progresso - uma via que estaria, desde sempre, já traçada. A imagem mediada pelo noticiário nacional de um Rio de Janeiro violento e caótico informa a construção de futuro em questão. Tudo se passa como se o destino de Altamira fosse tornar-se um Rio de Janeiro. É curioso, mas talvez não de todo surpreendente, que este raciocínio remeta a uma filosofia da história semelhante, em um aspecto central, àquela que preponderava entre os antropólogos evolucionistas do século XIX (ver, por exemplo, Ingold 1986INGOLD, Tim. 1986. Evolution and Social Life. Cambridge: Cambridge University Press .). Recorde-se que, no âmbito do evolucionismo social, o processo histórico era representado como uma repetição da mesma sequência de eventos atualizados segundo os ritmos particulares de cada grupo social. A história é tomada como um processo homogêneo (na direção de mais civilização), mas assíncrono. Se o Rio de Janeiro está localizado em algum ponto à frente de Altamira na escala do progresso, nada mais lógico do que esperar que os notáveis problemas da metrópole se manifestem na cidade amazônica uma vez que ela proceda um passo adiante na mesma escala.
Seguindo ainda com Gell, há uma reverberação conceitual interessante entre a noção de “custos de oportunidade” elaborada pelo autor e a ideia de “custos do progresso” evocada na fala de Joaquim. Gell insiste na centralidade da noção de custos de oportunidade para a formulação de sua teoria antropológica do tempo. Ainda que imbuído de um certo ar economicista, remetendo em um primeiro momento a uma lógica do cálculo individualista de oportunidades, o conceito ganha profundidade na conexão proposta por Gell com a ideia de “mundos alternativos” ou “mundos possíveis” que estariam na base dos modelos conceituais mobilizados na representação de um “mundo real” temporalizado. “Custos de oportunidade”, escreve Gell, “emergem do fato de que as representações, ou os modelos conceituais que criamos do mundo ‘real’, representam o mundo como capaz de ser outro [capable of being otherwise] em relação ao que acreditamos que ele seja, de fato” (1992:217, tradução minha). Assim, o valor de um objeto ou evento é dado em função de possíveis substituições às quais ele poderia estar sujeito em um mundo alternativo factível, mas não “real”. Para dar um exemplo simplificado: se Beltrana resolve fazer mestrado em Antropologia após graduar-se em Ciências Sociais, ela avaliará sua escolha baseada nas oportunidades que tem, naquele momento, de fazer mestrado em Sociologia ou Ciência Política (levando em consideração ainda seu próprio trajeto acadêmico ao longo da graduação), ao mesmo tempo em que arca com os custos de ter escolhido em primeiro lugar ter cursado Ciências Sociais, e não Economia (por exemplo).
A noção de “custos do progresso” coletiviza ou objetifica este procedimento, retirando-o do âmbito das ações ou escolhas individuais. O mundo alternativo em que não há a escalada da violência em Altamira, um mundo sem Belo Monte, seria também um mundo sem o aumento na oferta do comércio ou de médicos que vieram com a obra. Mas este mundo, em todo caso, aparece como uma oportunidade sem qualquer chance de se atualizar, uma vez que ele entra em contradição com o caminho inegociável do progresso, que “existe” e “não pode ser parado”. Da mesma forma, o mundo possível no qual “para o pessoal daqui, o futuro estava garantido”, um mundo em que se podia viver de “frutos do mato, peixe e farinha”, está inevitavelmente perdido, e só se podem lamentar nostalgicamente as perdas. Se o progresso tem um custo, não há outra opção que não pagar por ele.
Uma questão permanece, contudo, em aberto: por que este caráter inevitável do progresso? Se outros mundos alternativos se impõem na própria percepção do tempo que passa, por que só um mundo aparece como necessariamente “real”? Se compreendermos o progresso como uma metáfora, no sentido forte expresso na semiótica de Roy Wagner (1981WAGNER, Roy. 1981. The Invention of Culture. Chicago: The University of Chicago Press., 1986), talvez possamos lançar alguma luz sobre este ponto. Decompor o aspecto diferenciante da noção de progresso envolve antes de tudo atentar para o fato de que ela não se refere apenas ao tema de uma figura linear do tempo, mas principalmente a uma relação entre o tempo e as transformações humanas que se desenvolvem no espaço em intensidade e em extensão. Pois tais transformações dizem respeito, por um lado, a eventos que modificam a vida e a paisagem em recortes espaciais tomados como centros de onde “o progresso emana”, por assim dizer (por exemplo, o advento de um novo elemento técnico que ressignifica a vida urbana, como a internet e os aparelhos celulares o fizeram nas últimas décadas); por outro, a uma expansão de aspectos deste centro sobre áreas tomadas como periféricas, áreas onde “o progresso chega” de fora, zonas de fronteira, margens do capitalismo sobre as quais o sistema avança em busca de novos elementos a serem apropriados em um processo continuado de acumulação primitiva.3 3 Desenvolvi mais extensamente este último aspecto em minha tese de doutorado (Macedo 2016b).
Na obra de Wagner, todo tropo ou metáfora se arquiteta tendo como campo de referência um contexto convencional. No caso em questão, partiríamos de uma distinção convencional entre as transformações no espaço como domínio da ação humana e o tempo como participante do domínio do dado ou inato, aquilo que está para além do controle humano e que aparece como um fenômeno natural incontornável (ver Diagrama 1). Em um primeiro passo da sequência obviativa que produz o progresso como metáfora, a relação de contradição inicial entre estes dois elementos é substituída por uma relação de conjunção ou sobreposição: a ação humana é, assim, temporalizada, ou, dito de outra maneira, o tempo é ele mesmo resultado das transformações humanas do espaço. “Progresso” aparece em seguida como o elemento mediador entre as duas relações, obviando por sua vez a primeira substituição. Neste contexto, “progresso” emerge como uma metáfora da ação humana como tempo, e carrega consigo o sentido, extraído de seu elemento temporal, de um fenômeno inato. Daí, portanto, seu caráter de inevitabilidade e inquestionabilidade. Se levarmos a sério este ponto, será possível afirmar que, longe de ser o campo do imponderável, do indeterminado, o “futuro” é produzido desde sempre como dado. Joaquim já esperava Belo Monte desde a sua chegada à Transamazônica. Uma obra do progresso, ela não poderia não vir a existir.
Um último ponto, a título de conclusão. Em um artigo recente, o historiador Dipesh Chakrabarty relata sua discussão em curso com Bruno Latour sobre como a filosofia da história emergiu no Ocidente. O argumento central de Chakrabarty endereça uma questão inquietante: como é possível que tantas lideranças anticoloniais não europeias tenham abraçado a visão ocidental que, baseada em uma separação entre natureza e cultura - aquela que Latour (1994)LATOUR, Bruno. 1994. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34. denomina “a Constituição moderna” -, produziu a ideia de crescimento, de um crescimento infinito e contínuo que nos trouxe ao Antropoceno? O autor observa que a expansão colonial do Ocidente serviu também para semear certos valores enraizados no Iluminismo, especialmente a noção de igualdade, e que lidar hoje com esta questão envolve ainda levar seriamente em consideração a pobreza em massa. A frente de modernização oferecia ferramentas que, na visão de Ghandi, Tagore ou Césaire, prometiam lidar com a pobreza de grandes populações. Em grande medida, trata-se também aqui de compreender como a noção de progresso se propagou por contextos diversos:
No marxismo, assim como no liberalismo expressado por Francis Fukuyama em 1989, esta filosofia [da história] pergunta: Para onde vai a história humana? É claro, quando se examina esta ideia de história, vê-se que ela é essencialmente uma secularização de uma ideia judaico-cristã segundo a qual os seres humanos alcançariam algum tipo de salvação. Em se tratando desta história, a questão de Latour sempre foi: como as pessoas leram erradamente seu próprio tempo? Ao longo de toda a modernidade, ele argumenta, os seres humanos estavam de fato movendo-se, sem saber, em direção ao Antropoceno, cambaleando de um estado a outro em direção ao Antropoceno (Chakrabarty, 2020CHAKRABARTY, Dipesh. 2020. “World-Making, ‘Mass’ Poverty, and the Problem of Scale”. e-flux journal #114, dezembro de 2020. Disponível em: Disponível em: https://www.e-flux.com/journal/114/366191/world-making-mass-poverty-and-the-problem-of-scale/ . Acesso em 20/02/2021.
https://www.e-flux.com/journal/114/36619... , tradução minha).
Investigar como o progresso tornou-se uma metáfora tão poderosa pode acrescentar algo a este debate. É no mínimo intrigante que uma mesma lógica temporal tenha podido participar de agenciamentos tão diferentes, da filosofia da história marxista ao evolucionismo, da ideologia capitalista ao discurso midiático, do populismo ao “popular”. Em seu sentido mais prosaico, progresso indica um movimento “para adiante”. Quando se questiona reflexivamente o conceito, porém, há que se perguntar que pontos funcionam como referentes para o posicionamento, no tempo, daquilo que está “atrás” ou “à frente”. Como um “símbolo que vale por si mesmo”, para remeter ao título do livro de Wagner (1986WAGNER, Roy. 1986. Symbols That Stand for Themselves. Chicago: The University of Chicago Press .), o progresso cria sua própria realidade, assim como a da noção de futuro que ele comporta. Manifestação inata da ação humana, o progresso remete ao futuro como uma virtualidade dada; o presente aparece como sua atualização necessária, atualização que implica inevitavelmente sua confirmação. Tudo se passa, assim, como se o Antropoceno (tal como Belo Monte) não pudesse não ocorrer. É somente em retrospecto, ou melhor, de uma perspectiva externa à própria metáfora, que o progresso pode nos parecer um engano, uma leitura errônea que os humanos fazem de seu próprio tempo.
As cenas finais de Bye Bye Brasil se passam em Brasília. Vemos Ciço e Dasdô em uma tela de TV, apresentando-se com uma banda de forró. Descobrimos logo em seguida que o aparelho é uma entre as muitas televisões que servem de decoração no palco onde eles tocam para um baile lotado. Na porta da casa, uma placa anuncia “O famoso Ciço: o maior sanfoneiro do Planalto”. A oposição inicial entre a cultura popular e a televisão é resolvida pela incorporação de um termo pelo outro: a televisão com a imagem do palco, no palco repleto de aparelhos de televisão. A Caravana Rolidey (agora com “y”) reaparece então em um caminhão moderno, metálico, cheio de luzes neon. Com Salomé ao volante e Lorde Cigano no banco do carona, o caminhão se dirige a Rondônia, onde uma estrada está sendo aberta “no meio do mato” e onde a dupla planeja se apresentar para os indígenas, “que nunca viram nada igual”. Partindo de uma crítica ao progresso, o filme parece se render à sua inevitabilidade: “A gente é feito roda, sanfoneiro, só se equilibra em movimento. Se parar, fodeu, a gente cai”, diz Cigano. O fechamento demonstra como a metáfora do progresso permeia nosso pensamento de forma profunda, e chama a atenção para a enorme dificuldade - e também, para a urgente necessidade, nos tempos atuais - de nos livrarmos dela.
Referências bibliográficas
- ACKER, Antoine. 2014. “O maior incêndio do planeta: como a Volkswagen e o regime militar brasileiro acidentalmente ajudaram a transformar a Amazônia em uma arena política global”. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 34, n. 68:13-33.
- BARRETO, Paulo; PEREIRA, Ritaumaria & ARIMA, Eugenio. 2008. A pecuária e o desmatamento na Amazônia na era das mudanças climáticas. Belém: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.
- CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. 2012. A ditadura das empreiteiras Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal Fluminense.
- CHAKRABARTY, Dipesh. 2020. “World-Making, ‘Mass’ Poverty, and the Problem of Scale”. e-flux journal #114, dezembro de 2020. Disponível em: Disponível em: https://www.e-flux.com/journal/114/366191/world-making-mass-poverty-and-the-problem-of-scale/ Acesso em 20/02/2021.
» https://www.e-flux.com/journal/114/366191/world-making-mass-poverty-and-the-problem-of-scale/ - COUTINHO DA SILVA, Maria Ivonete. 2008. Mulheres migrantes na Transamazônica: construção da ocupação e do fazer política Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Pará.
- CLASTRES, Helène. 1978 [1975]. Terra sem Mal: o Profetismo Tupi-Guarani São Paulo: Editora Brasiliense.
- DE FRANCESCO, Ana; BRITO, Letícia Lopes; CORRÊA, Marcela Garcia; LOPES, Renan de Brito & SCABIN, Flávia. 2021. Direito à moradia adequada e a UHE Belo Monte: o caso dos ribeirinhos no beiradão Relatório de Pesquisa. São Paulo: FGV CeDH.
- DIEGUES, Carlos. 2014. Vida de Cinema Rio de Janeiro: Objetiva (versão e-book).
- GELL, Alfred. 1992. The Anthropology of Time: Cultural Constructions of Temporal Maps and Images Oxford: Berg.
- GOMES, Flavio Alcatraz. 1972. Transamazônica, a redescoberta do Brasil São Paulo: Livraria Cultura Editora.
- GRAY, Gordon. 2010. Cinema: A Visual Anthropology Vol. 1. Oxford: Berg .
- HOLBRAAD, Martin & PEDERSEN, Morten Axel. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition Cambridge: Cambridge University Press.
- INGOLD, Tim. 1986. Evolution and Social Life Cambridge: Cambridge University Press .
- KJAERULFF, Jens. 2020. “Situating Time: New Technologies at Work, a Perspective from Alfred Gell’s Oeuvre”. HAU: Journal of Ethnographic Theory 10, n. 1:236-250, December 30, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1086/707928. Acesso em 20/02/2021.
» https://doi.org/10.1086/707928 - LATOUR, Bruno. 1994. Jamais fomos modernos São Paulo: Editora 34.
- MACEDO, Eric. 2016a. “O garimpo hidrelétrico: impactos de Belo Monte na cidade de Altamira e subsídios para reflexão sobre o complexo hidrelétrico do Tapajós”. In: Daniela Fernandes Alarcon, Brent Millikan & Mauricio Torres (orgs.), Ocekadi: hidrelétricas, conflitos socioambientais e resistência na Bacia do Tapajós Brasília: International Rivers Brasil.
- MACEDO, Eric. 2016b. Altamira: Ensaio histórico-maquínico sobre a colonização Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- NETTO, Delfim. 2011. “Energia na Idade da Pedra”. Carta Capital, 26 de junho de 2011.
- PIGNARRE, Philippe & STENGERS, Isabelle. 2007. La sorcellerie capitaliste - Pratiques de désenvoûtement Paris: Éditions La Découverte.
- REALIDADE. 1971. Amazônia São Paulo: Editora Abril, outubro de 1971.
- RILES, Annelise. 2006. “Introduction: In Response”. In: Documents: Artifacts of Modern Knowledge Michigan: The University of Michigan Press.
- SUTTON, David E. & WOGAN, Peter. 2009. Hollywood Blockbusters: The Anthropology of Popular Movies New York: Berg.
- VILLAS-BOAS, André; ROJAS GARZÓN, Biviany; REIS, Carolina; AMORIM, Leonardo & LEITE, Letícia. 2015. Dossiê Belo Monte: Não há condições para a Licença de Operação São Paulo: Instituto Socioambiental.
- WAGNER, Roy. 1981. The Invention of Culture Chicago: The University of Chicago Press.
- WAGNER, Roy. 1986. Symbols That Stand for Themselves Chicago: The University of Chicago Press .
Notas
-
1
Note-se, não obstante, que a relação entre o Nordeste seco como fonte de migrantes para a Amazônia remonta aos tempos da febre da borracha, sendo a maior parte dos que chegavam para trabalhar nos seringais provenientes daquela região.
-
2
Tal proposta, que deixo para outra ocasião, exigiria uma leitura mais atenta do livro de Gell do que a que faço aqui. Trata-se reconhecidamente de uma obra de difícil absorção, tão repleta de insights quanto de mal-entendidos. Uma revisão de sua teoria (já se vão trinta anos de sua publicação) viria bem a calhar, especialmente tendo como pano de fundo a discussão contemporânea em torno da chamada “virada ontológica” na Antropologia (Holbraad & Pedersen 2017HOLBRAAD, Martin & PEDERSEN, Morten Axel. 2017. The Ontological Turn: An Anthropological Exposition. Cambridge: Cambridge University Press.). Ver Kjaerulff (2020KJAERULFF, Jens. 2020. “Situating Time: New Technologies at Work, a Perspective from Alfred Gell’s Oeuvre”. HAU: Journal of Ethnographic Theory 10, n. 1:236-250, December 30, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1086/707928. Acesso em 20/02/2021.
https://doi.org/10.1086/707928... ) para uma retomada recente, não exatamente nestes termos. -
3
Desenvolvi mais extensamente este último aspecto em minha tese de doutorado (Macedo 2016bMACEDO, Eric. 2016b. Altamira: Ensaio histórico-maquínico sobre a colonização. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro.).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
05 Set 2022 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
27 Fev 2021 -
Aceito
07 Jun 2022
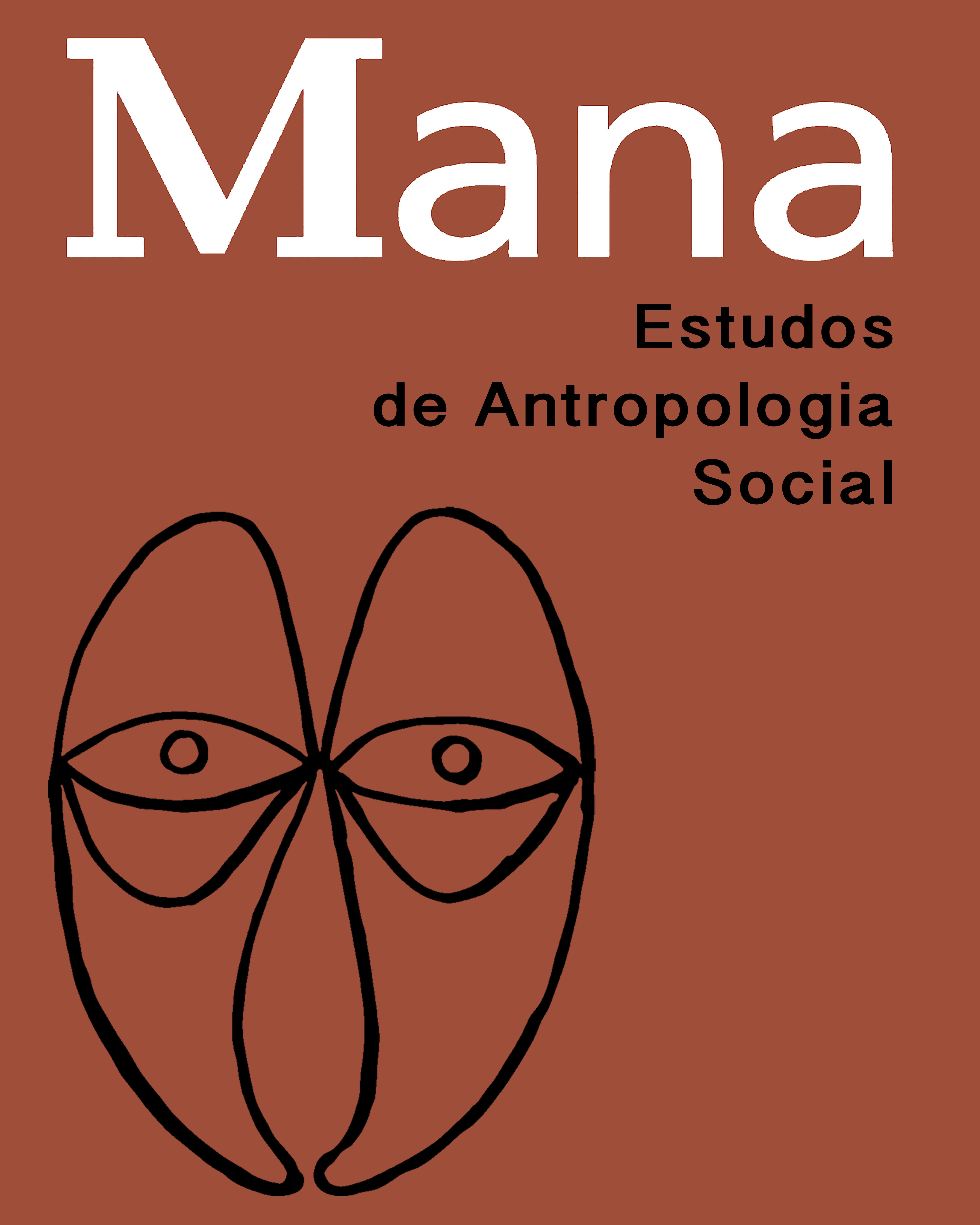









 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
 Fonte: Realidade (outubro 1971)
Fonte: Realidade (outubro 1971)
