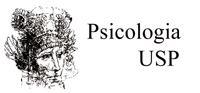Resumo
Neste artigo, propõe-se discutir diferentes formas de comunicação existentes na clínica psicanalítica, para além da linguagem verbal, tendo como base os processos de simbolização primária e a importância de uma ampliação na escuta do analista. Tomando como base os escritos de René Roussillon, adentramos no campo da intersubjetividade para refletirmos acerca de uma escuta diferenciada que passa a ser requerida pelo analista na direção de possibilitar o acolhimento de diferentes formas de comunicação. Nestes casos, algo diferente da palavra se torna audível, trazendo à tona falhas referentes ao trabalho de representação, de forma que processos de simbolização mais arcaicos surgem dotados de outras vozes, como tentativa de ampliar teoricamente os alcances da simbolização e da representação.
Palavras-chave:
clínica psicanalítica; comunicação não-verbal; René Roussillon
Résumé
Dans cet article, nous proposons à discuter des différentes formes de communication existant dans la clinique psychanalytique, en plus du langage verbal, basées sur les processus de la symbolisation primaire et sur l’importance d’une amplification dans l’écoute de l’analyste. Basées sur les écrits de René Roussillon, nous entrons dans le champ de l’intersubjectivité pour réfléchir à une écoute différenciée requise par l’analyste, qui va permettre la réception de ces différentes formes de communication. Dans ces cas, une comunication au delà du verbal devient audible, mettant en évidence des défauts concernant le travail de représentation, de sorte que des processus de symbolisation plus archaïques apparaissent dotés d’autres voix, comme tentative d’élargir théoriquement la portée de la symbolisation et de la représentation.
Mots-clés:
clinique psychanalytique; communication non verbale; René Roussillon
Resumen
En el presente artículo, nos proponemos discutir diferentes formas de comunicación existentes en la clínica psicoanalítica, además del lenguaje verbal, teniendo como base los procesos de simbolización primaria y la importancia de una ampliación en la escucha del analista. Tomando como base los escritos de René Roussillon, adentramos en el campo de la intersubjetividad para pensar acerca de una escucha diferenciada que pasa a ser requerida por el analista en el sentido de posibilitar la acogida de estas diferentes formas de comunicación. En estos casos, algo diferente de la palabra se vuelve audible, trayendo a la luz fallas referentes al trabajo de representación, de forma que procesos de simbolización más arcaicos surgen dotados de otras voces como intento de ampliar teóricamente los alcances de la simbolización y de la representación.
Palabras clave:
clínica psicoanalítica; comunicación no verbal; René Roussillon
Abstract
In this article we propose to discuss different forms of communication existing in the psychoanalytical clinic, beyond verbal language, based on primary symbolization processes and the importance of amplifying the analyst’s listening. Based on the writings of René Roussillon, we enter the field of intersubjectivity to reflect on a differentiated listening that will be required by the analyst for enabling the reception of different forms of communication. In these cases, something beyond the word becomes audible, revealing faults concerning the work of representation, so that more archaic symbolization processes emerge endowed with other voices, as an attempt to theoretically expand the scope of symbolization and representation.
Keywords:
Psychoanalytic clinic; nonverbal communication; René Roussillon
Introdução
A questão da comunicação e do que é audível na clínica psicanalítica está presente desde os primórdios da psicanálise com o próprio Freud, que pôde “ouvir” por trás dos sintomas clássicos da histeria algum fragmento de história diferente da vida daquele sujeito, contada por um corpo que ultrapassa os sentidos do biológico. Levando em consideração a existência de uma anatomia própria à psicanálise, que se apoia sobre o corpo biológico, mas afasta-se dele para adentrar outra lógica, a da representação (Fédida, 1971Fédida, P. (1971). L’anatomie dans la psychanalyse. Nouvelle revue de psychanalyse, (3), 109-126.), gostaríamos de ressaltar o fato de que o corpo da psicanálise leva em conta as fantasias próprias a cada um de nós, criadas a partir de uma história única e singular. Podemos dizer que, no lugar de uma estagnação descritiva presente nos quadros histéricos daquela época, Freud encontrou nestes pacientes verdadeiras “cenas” que contavam um pedaço de história que havia sido segregada do psiquismo, utilizando o corpo como palco.
A partir dos quadros histéricos e de outras neuroses, Freud percebeu a existência de outro nível de comunicação presente nas entrelinhas das palavras narradas pelos pacientes. De início, o discurso subjetivo do outro virou palco de uma subversão narrativa: o que o sujeito falava não era exatamente aquilo que ele queria dizer. E aí se teorizaram os atos falhos, os sonhos, os chistes e outras notícias de uma linguagem que não advinha de um discurso da razão, tão enaltecido na época, mas de restos constrangedores que denunciavam outro mestre ao qual o homem se submetia: o Inconsciente. Deste momento em diante, o analista passa a “ouvir” os conteúdos advindos do Inconsciente e interpretá-los, auxiliando o paciente a compreender de onde vinham seus sofrimentos, possibilitando novas formações menos danosas.
Da mesma forma pela qual Freud, através de vivências clínicas, repensou e modificou sua teoria, outros psicanalistas também o fizeram. Diferentes teóricos reformularam a teoria da clínica psicanalítica, especialmente a partir de casos que eles julgavam não se encaixar no modelo freudiano clássico de neurose. Nestes casos, alguma outra coisa se tornava audível, algo que escapava à comunicabilidade comum da interpretação psicanalítica. A partir do surgimento em maior número destes pacientes considerados difíceis, com dificuldades de responder à técnica clássica, percebemos que o trabalho de representação nem sempre pode ser considerado como já realizado, levando a revisões e modificações do arcabouço teórico.
Com o objetivo de pensar acerca de novas formas de comunicabilidade na clínica para além da linguagem verbal, André Green (1975/1988)Green, A. (1988). O analista, a simbolização e a ausência no contexto analítico. In A. Green, Sobre a loucura pessoal (pp. 36-65). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1975) compilou em seu artigo “O analista, a simbolização e a ausência no contexto analítico” alguns elementos que denunciariam uma espécie de “crise da psicanálise”. O autor sugere que os analistas do fim do século XX estariam se deparando, cada vez mais, com quadros psicopatológicos para os quais a técnica clássica freudiana da interpretação não forneceria as ferramentas necessárias para prestar o devido auxílio.
Green destaca a passagem de um modelo teórico-clínico calcado na neurose - em que o analista se deparava com conteúdos recalcados que retornavam - para um modelo mais próximo da psicose - em que aparecerão defesas de caráter mais radical, aquém do nível da representação, e que serão preponderantes. Isso não significa que os pacientes neuróticos foram substituídos por pacientes psicóticos, mas que os núcleos psicóticos (que podem estar presentes em qualquer paciente) passam a ser audíveis pelos analistas, quando antes não o eram, de certa forma. Na mesma direção, Souza (2013Souza, O. (2013). As relações entre psicanálise e psicoterapia e a posição do analista. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 21-36). São Paulo, SP: Escuta .) aponta para uma “desneurotização” da psicanálise a partir das teorias que se debruçam sobre um momento mais precoce de constituição da subjetividade, tendo como foco o desenvolvimento dos processos de simbolização. Este movimento ocorre a partir de uma substituição da patologia de referência para o pensamento clínico, escorregando da neurose clássica para processos psicóticos e/ou limítrofes.
Dessa forma, podemos pensar que a mudança na clínica psicanalítica evocada pelos autores seria da ordem da escuta e da compreensão do analista, que passou a ouvir conteúdos que antes não costumavam estar audíveis, deixando claro que há algo de uma comunicação não verbal que escapa do paciente que agora estaria disponível, sendo impossível ignorá-lo. Neste sentido, ressalta Green (1975/1988)Green, A. (1988). O analista, a simbolização e a ausência no contexto analítico. In A. Green, Sobre a loucura pessoal (pp. 36-65). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1975), o conteúdo verbal que o paciente comunica na análise passa a não ser mais entendido como a totalidade de material ao qual o analista deve se atentar, levando também em consideração a forma como esse conteúdo é apresentado, dentre outras manifestações presentes nos momentos de análise.
Partindo desta reflexão, Fernando Urribarri (2012Urribarri, F. (2012). O pensamento clínico contemporâneo: uma visão histórica das mudanças do trabalho do analista. Revista brasileira de psicanálise, 46(3), 47-64.), na mesma direção proposta por Green, pensa o analista contemporâneo como um “analista poliglota”: aquele que é capaz de falar uma série de “línguas” - dialetos múltiplos do inconsciente. Para além da interpretação clássica freudiana, este analista seria capaz de “escutar” diferentes línguas comunicadas pelo paciente em análise. De acordo com o autor, o analista poliglota possuiria uma posição múltipla e variada, que não deve ser pré-definida ou fixada, e as funções que passam a lhe ser exigidas vão variar de acordo com a singularidade polifônica do campo analítico. As modulações técnicas que vão surgindo a partir dessa modificação da clínica abrem caminho para uma heteromorfia da associatividade, fazendo com que os analistas precisem repensar o enquadre clássico, assim como possíveis extensões do método psicanalítico e de novos tipos de dispositivos oferecidos aos analisandos.
Tomando como ponto de partida o analista poliglota, capaz de entender e articular diferentes idiomas psíquicos, o presente artigo busca circunscrever e analisar os diferentes tipos de linguagem encontrados na clínica, compreendendo assim no que consiste tal polifonia. Quais seriam as diferentes línguas com as quais o analista se depara na clínica - para além do verbal? Que outros discursos entrariam em cena e precisariam ser acolhidos e assimilados para uma melhor compreensão dos casos clínicos? Acreditamos ser de extrema importância voltar nossos olhares - e ouvidos - para esta singularidade polifônica que tem se feito cada vez mais presente no campo analítico atual.
Comunicações outras/não-verbais
Roussillon (2004a)Roussillon, R. (2004a). À l’écoute du bébé dans l’adulte [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/avignon-2-04.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
afirma que toda comunicação de um ser humano já dotado de palavras deve ser considerada em diferentes níveis e modalidades de organização, especialmente um nível pré-verbal e outro pós-verbal, os quais convivem lado a lado durante toda a vida. Nestes, estão implícitos diferentes níveis de simbolização e inscrição psíquica, necessários para que a linguagem seja formada. O nível pós-verbal equivale à palavra como conhecemos e utilizamos em nosso dia a dia: o discurso verbal que possibilita alguma compreensão entre dois seres humanos. Na clínica, o discurso verbal seria o nível de comunicação privilegiado pela psicanálise clássica freudiana - com suas ferramentas técnicas de associação livre, atenção flutuante, interpretação, dentre outras. Já o nível pré-verbal acolheria uma gama mais ampla de discursos, sendo cada vez mais estudado atualmente, apesar de sua importância já ter sido apontada por determinados analistas desde o princípio da psicanálise. Roussillon (2012a)Roussillon, R. (2012a). As condições da exploração psicanalítica das problemáticas narcísico-identitárias. ALTER - Revista de estudos psicanalíticos, 30(1), 7-32. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/08/rennc3a9e-de-roussillon-artigo-alter.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
marca a possibilidade de abrir o campo analítico para uma linguagem anterior ao tempo de aquisição da linguagem verbal, no qual o analista deve voltar sua escuta para discursos que englobem a totalidade do corpo e incluam ainda o afeto.
Roussillon (2012aRoussillon, R. (2012a). As condições da exploração psicanalítica das problemáticas narcísico-identitárias. ALTER - Revista de estudos psicanalíticos, 30(1), 7-32. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/08/rennc3a9e-de-roussillon-artigo-alter.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
, 2012bRoussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
) destaca que o próprio Freud apontou para a importância do registro de acontecimentos anteriores à aquisição da linguagem verbal, sublinhando especificamente duas particularidades presentes: as experiências mais precoces são as mais frequentemente repetidas; e tal ocorrência advém de uma falha na capacidade de síntese egoica existente no momento das vivências. O impacto das experiências precoces na vida do sujeito, vivenciadas quando este não compreendia o conteúdo verbal ou apenas começava a se iniciar na linguagem verbal, é levantado por Freud já no fim de sua vida, não tendo sido extensamente debatido por ele. São pequenos textos e notas redigidas durante seu exílio em Londres que nos levam a uma reflexão acerca do assunto em questão (Freud (1941[1938]/1996Freud, S. (1996). Achados, ideias, problemas. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 23, pp. 317-318). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original escrita em 1938 e publicada em 1941)).
No artigo intitulado Construções em análise, Freud (1937/1996)Freud, S. (1996). Construções em análise. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 23, pp. 271-287). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1937) começa a pensar sobre a importância que a linguagem pré-verbal ocupa ao analisar o conteúdo das alucinações presentes nos quadros de psicose. Ele afirma que haveria algum fragmento de experiência vivida na infância daquele sujeito que retornaria posteriormente na vida adulta, deslocado e disfarçado dentro do fenômeno da alucinação. Tal vivência faria parte de um período da vida no qual o sujeito ainda não possui domínio da linguagem verbal, portanto, privilegia outras vias de comunicação. Neste momento, haveria uma imaturidade do eu, traduzida em falhas na capacidade de ligação e integração deste ego precoce (Roussillon, 2012bRoussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
). Por esta razão, o vivido retorna não sob a forma de lembrança que pode ser narrada, mas como imagem ou experiência de outra ordem.
Aprofundando a ideia freudiana de uma precariedade de síntese egoica, Roussillon (2011Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.) nos diz que é durante o início do desenvolvimento do bebê que as experiências sensoriais tendem a tornar-se unificadas. Porém, a conquista da integração subjetiva da sensorialidade advém de um processo extremamente complicado, que dependerá da capacidade do bebê de comunicar algo da sua experiência subjetiva para poder receber o suporte necessário do ambiente. Essa comunicação ainda não pode ser realizada com o auxílio da linguagem verbal, de forma que o bebê vai precisar utilizar outras ferramentas para se fazer compreender pela mãe/ambiente.
Roussillon (2011Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.) destaca duas formas principais através das quais o bebê se comunica: (1) utilizando os afetos - ou representantes afetivos; (2) através de uma linguagem mimo-gesto-postural - que corresponde ao início da formação das representações-coisa. Os conteúdos presentes anteriormente ao registro da linguagem falada são guardados e expressos pelo corpo. É ele que comporta elementos que podem se fazer presentes de outras formas, através de seus gestos, seus mimetismos, suas posturas, sua motricidade, seus atos e seus afetos. É ele que nos dá notícias de uma linguagem primeva (Roussillon, 2012aRoussillon, R. (2012a). As condições da exploração psicanalítica das problemáticas narcísico-identitárias. ALTER - Revista de estudos psicanalíticos, 30(1), 7-32. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/08/rennc3a9e-de-roussillon-artigo-alter.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
, 2012bRoussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
).
No que diz respeito à linguagem mimo-gesto-postural, Roussillon (2004b)Roussillon, R. (2004b). La dépendance primitive et l’homosexualité primaire « en double ». Revue française de psychanalyse, 68(2), 421-439. doi: 10.3917/rfp.682.0421
https://doi.org/10.3917/rfp.682.0421...
nos fala da necessidade de haver um “compartilhamento estésico” entre o bebê e sua mãe, base para o primeiro e fundamental nível de investimento corporal: a sensorialidade. Ele descreve este momento como uma espécie de coreografia recíproca em que a mímica, a postura e os gestos de ambos serão ajustados, um correspondendo ao outro. Como um balé corporal, a comunicação se dará através de uma sintonia inconsciente e amodal expressada por sensações compartilhadas. A sintonia é recíproca, mas não simétrica, sendo necessário um ajustamento da mãe/ambiente às necessidades de seu bebê.
No que concerne à utilização dos afetos para comunicar, Roussillon (2004b)Roussillon, R. (2004b). La dépendance primitive et l’homosexualité primaire « en double ». Revue française de psychanalyse, 68(2), 421-439. doi: 10.3917/rfp.682.0421
https://doi.org/10.3917/rfp.682.0421...
discorre sobre um “compartilhamento afetivo”, momento posterior que se torna possível a partir das bases conquistadas pela aquisição da sensorialidade. O afeto - sentimentos e emoções - surge a partir das produções sensoriais e deve se transformar em uma sintonia emocional entre o bebê e sua mãe. De forma similar, a mãe também ajusta seus afetos às necessidades do bebê, fazendo com que a harmonia seja mantida. É possível agora contar com dois novos tipos de comunicação, frutos destas primeiras experiências.
Quando a comunicação entre bebê e meio ambiente é bem-sucedida, o aparelho psíquico reformula, em partes, as experiências pré ou não verbais, entrelaçando-as com uma narrativa que passa a conter palavras. Este é um processo longo e complicado que nos fornece uma série de habilidades linguísticas. De início, palavras começam a ser associadas com sentimentos e sensações internas, substituindo aos poucos a comunicação corporal. Contudo, é importante marcar que as dimensões do afeto e da linguagem mimo-gesto-postural não desaparecem, de forma que os discursos verbal e o pré-verbal são ambos linguagens a serem utilizadas por nós ao longo de toda a vida.
Levando em consideração as contribuições teóricas descritas, podemos compreender melhor quais são as polifonias presentes de forma cada vez mais audíveis na clínica psicanalítica da atualidade. Compondo nosso campo polifônico, encontram-se o discurso verbal (com toda sua gama de associatividade) e aspectos mais estruturais do mesmo (prosódia e estrutura das frases construídas), um discurso do afeto e ainda um discurso mimo-gesto-postural. Todas essas possibilidades estarão presentes na comunicação entre analista e paciente, ampliando e complexificando o trabalho psíquico do analista, assim como suas intervenções.
Ao mesmo tempo em que o analista vai ouvir elementos verbais advindos da associatividade do paciente, Roussillon (2011Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.) aponta que ele também deve voltar sua escuta para as outras linguagens, que escapam a essa captura do verbal. Experiências que foram registradas quando o sujeito ainda não possuía a linguagem verbal retornam num formato “não verbal”, próprio do momento da experiência vivida - a linguagem do bebê ou da criança pequena. Assim, torna-se possível escutarmos o “bebê” presente no adulto, traços de suas experiências precoces e não integradas que surgem repetidamente a posteriori. Afetos, atos e manifestações corporais possuem o potencial de comunicar experiências antigas não ligadas (Roussillon, 2004aRoussillon, R. (2004a). À l’écoute du bébé dans l’adulte [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/avignon-2-04.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
).
Uma vez que ambos os níveis pós e pré-verbal convivem lado a lado, Roussillon (2011Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.) aponta que tais experiências arcaicas costumam aparecer com maior frequência na clínica sob certas condições, em especial diante dos casos que o autor nomeia de sofrimentos narcísico-identitários. As experiências que ficaram de fora, clivadas do psiquismo por uma impossibilidade de integração na época, tendem a retornar com características próprias desta mesma época - tais como a linguagem não verbal. O autor ressalta que tais experiências são da ordem da apresentação e não da representação, ou seja, podemos pensar que tem algo que se mostra, no lugar de aparecer enquanto imagens ou palavras associadas pelo paciente e dentro de uma lógica mais clássica da representação (Roussillon, 2012aRoussillon, R. (2012a). As condições da exploração psicanalítica das problemáticas narcísico-identitárias. ALTER - Revista de estudos psicanalíticos, 30(1), 7-32. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/08/rennc3a9e-de-roussillon-artigo-alter.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
, 2013Roussillon, R. (2013). Teoria da simbolização: a simbolização primária. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 107-122). São Paulo, SP: Escuta .).
A partir dos quadros de sofrimentos narcísico-identitários, os níveis de simbolização pré-verbal se tornam mais visíveis aos olhos e ouvidos dos clínicos. As falhas nos processos iniciais da constituição psíquica deixam marcas visíveis que nos auxiliam a melhor compreender o fenômeno. Porém, os processos de simbolização primária e também suas impressões deixadas se encontram presentes em diversos quadros clínicos, uma vez que são processos constitutivos do psiquismo e da subjetividade humana. Dessa forma, tomamos como ponto de partida os sofrimentos narcísico-identitários para melhor compreender um processo que permite o acesso amplo a outros níveis de comunicabilidade, sem nos restringirmos apenas a este quadro clínico.
Os processos de simbolização primária
Os sofrimentos narcísico-identitários, conforme descritos por Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.), dizem respeito a sujeitos que sofreram falhas em momentos bastante anteriores à aquisição da linguagem verbal e à possibilidade de inscrevê-las psiquicamente de forma simbolizada. Por esta razão, as formas de aparição desses acontecimentos de caráter traumático não serão, usualmente, pela via da palavra, mas por outras possibilidades polifônicas que também se encontram presentes no campo analítico, conforme viemos problematizando. Partindo destes quadros clínicos, mas com a compreensão de que a dimensão da simbolização primária está presente em quadros distintos, é fundamental pensarmos em uma ampliação do campo de escuta do analista, para “aquém” da linguagem verbal e dos processos de simbolização.
Com base na escuta da clínica dos sofrimentos narcísico-identitários encontra-se o conceito de “simbolização primária”, contribuição de Roussillon à psicanálise que surge como tentativa de ampliar teoricamente os alcances da teoria da simbolização e da representação a partir de seu encontro com tais pacientes. O autor observou que, nesta clínica, teria havido falhas severas dentro de um nível primário de simbolização, o que dificulta o acesso do sujeito a qualquer nível posterior de representação destes vividos.
Visando à construção do conceito, Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.) aponta que existem dois níveis de trabalho de simbolização ocorrendo entre os três registros mnêmicos: uma primeira transformação dos índices de percepção em representação-coisa; e uma segunda, das representações-coisa em representações-palavra. O segundo nível de trabalho foi bastante teorizado por Freud e outros autores, sendo até pouco tempo considerado como equivalente à simbolização. A novidade trazida por Roussillon foi o destaque para este primeiro nível de trabalho, já apontado, porém não tão esquematizado, em Freud, que foi nomeado de “processos de simbolização primária”.
Para dar origem ao conceito de simbolização primária, Roussillon (2006b)Roussillon, R. (2006b). Pluralité de l’appropriation subjective. In F. Richard & S. Wainrib, La subjectivation (pp. 59-80). Paris, France: Dunod. retoma Freud e encontra, já no início de sua obra, notas sobre o assunto. Encontramos Freud (1915/1996Freud, S. (1996). Os instintos e suas vicissitudes. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 14, pp. 117-144). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1915), 1950[1896]/1996Freud, S. (1996). Carta 52. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 1, pp. 281-287). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original escrita em 1896 e publicada em 1950)) concebendo a passagem entre a primeira e a segunda forma de inscrição psíquica como uma questão quantitativa. O que as separa seria apenas o tratamento psíquico dado a cada uma delas e uma diferença de quantidade de investimento recebido: caso seja fortemente investido, o traço mnésico primeiro é reatualizado de forma alucinatória e sob a forma de identidade de percepção; caso seja investido de forma fraca, ele é reatualizado como representação-coisa e sob a forma de identidade de pensamento. Dessa forma, os primeiros processos de simbolização ficam restritos a uma concepção puramente quantitativa.
Porém, Roussillon (2012b)Roussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
sublinha a existência de um modelo alternativo presente desde o início da obra freudiana em seus estudos sobre os sonhos, no qual encontraríamos uma transformação qualitativa entre as diferentes inscrições. Freud (1900/1996)Freud, S. (1996). A interpretação dos sonhos. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 4-5, pp. 11-654). Rio de Janeiro, RJ: Imago. (Obra original publicada em 1900) postula que a passagem de traços da experiência subjetiva para a representação onírica necessita de um “trabalho do sonho”, o que submete a matéria primária psíquica a transformações qualitativas. Dos mecanismos presentes no trabalho do sonho, Roussillon (2006b)Roussillon, R. (2006b). Pluralité de l’appropriation subjective. In F. Richard & S. Wainrib, La subjectivation (pp. 59-80). Paris, France: Dunod. destaca a figurabilidade para analisar a semente de um trabalho de simbolização primária em Freud.
A figurabilidade é o mecanismo destacado pelo autor por tratar-se de um imperativo de apresentação do conteúdo do sonho, sendo a imagem também uma primeira forma de semente germinativa para um posterior trabalho de elaboração secundária na forma de narratividade, uma vez que ela torna possível o aparecimento de elementos que viabilizam contar uma história a partir daquilo que é sonhado. Em outras palavras, há uma modificação que permite que os conteúdos do sonho (índices de percepção) assumam uma forma (representação-coisa) que será suscetível de ser posteriormente narrada pelo sonhador (representação-palavra). Esta transformação é claramente qualitativa no sentido em que modifica um conteúdo em outro, originando a linguagem do sonho. E este modelo nos dá notícias de um tipo de trabalho de simbolização diferente, referido aos processos de simbolização primária.
A simbolização primária obedece ao processo primário e liga as primeiras inscrições psíquicas aos primeiros símbolos - os índices de percepção às representações-coisa, segundo registro da memória. Este trabalho culmina no surgimento da representação-coisa no inconsciente, estando anteriormente sob a forma de traços de percepção - registro complexo e rico em dados, porém imaterial. Para melhor exemplificar a diferenciação entre o que chamou de simbolização primária e secundária, Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF., 2012bRoussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
) apresenta o modelo freudiano do sonho sonhado × sonho narrado. Para produzir o sonho sonhado, já há um trabalho de simbolização no sentido de que algo do registro das sensações se transveste em registro conceitual, em representação-coisa. A este trabalho, damos o nome de simbolização primária. Já o modelo do sonho narrado equivaleria à simbolização secundária, uma vez que há uma segunda transformação para que o sonho possa vir a ser contado, permitindo sua entrada na linguagem verbal.
Porém, nem sempre o nível secundário de simbolização pode ser alcançado. Tal conquista vai depender das vicissitudes da relação inicial que o sujeito desenvolve com o objeto. Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.) destaca a importância das respostas objetais no início da interação mãe-bebê, privilegiando um viés intersubjetivo nos primórdios da subjetividade. Para que a passagem de um modelo ao outro seja realizada, para que haja uma transformação qualitativa entre as primeiras inscrições, o objeto precisa estar presente e responder de forma “suficientemente boa” - fazendo uma analogia com o conceito winnicottiano.
Sobre a apropriação da experiência, Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.) nos diz que ela não obtém sentido imediatamente, necessitando para tanto de um trabalho de simbolização. É preciso que haja uma lacuna diferenciadora entre a experiência em si e o sentimento de ter experimentado tal vivência, pois o que leva à simbolização é a não identificação com esse vivido. O fato simbolizado não será idêntico a ele mesmo porque dispõe de uma heteromorfia dos sistemas que atravessam e constituem a memória. Esse é um processo de perpétuas mudanças, possibilitando que a memória se apresente de forma tão diferente.
A simbolização primária, passagem da matéria primária psíquica para a representação-coisa, exigirá, portanto, uma renúncia à busca da experiência idêntica, de ordem alucinatória, e do original. Para representar, será necessário realizar o luto do objeto original. Segundo Roussillon (2012b)Roussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
, “a simbolização que torna a ausência do objeto tolerável não é a mesma que é tornada possível através da ausência do objeto” (p. 6, tradução nossa).
Partindo desta reflexão sobre os primórdios da representação, Roussillon apresenta a hipótese de que existe também um modo de simbolização que se realiza na presença do objeto, não somente em sua ausência. De forma complementar à ideia de que para representar precisamos nos separar do objeto, o autor destaca o fato da necessidade de ter havido, inicialmente, um objeto real e presente para que, posteriormente, possa haver sua separação e representação. A maneira pela qual o objeto está presente funda modos de linguagem, especialmente os não verbais. Dessa forma, o modelo do sonho deve ser complementado por um modelo de uma forma de simbolização primária em presença do objeto.
Pensando a respeito do desenvolvimento emocional primitivo do bebê, Winnicott (1953/1975)Winnicott, D. W. (1975). Objetos transicionais e fenômenos transicionais. In D. W. Winnicott, O brincar e a realidade (pp. 13-44). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1953) nos apresenta o que chamou de momento da ilusão-desilusão. Segundo o autor, para que este processo seja satisfatório, será necessário que de início a mãe se adapte ativamente às necessidades do bebê. Esta adaptação inicial quase completa ao bebê dá a ele a ilusão de que o ambiente é criado e controlado de forma onipotente por ele. De acordo com a possibilidade deste bebê de tolerar frustrações, a mãe vai se desadaptando gradativamente.
No início da vida, um bebê concebe a ideia de que há algo que poderia diminuir sua tensão pulsional. Ele não sabe exatamente do que se trata, o que deve ser criado, mas sente que algo pode ser feito. Neste momento, a mãe aparece e, se devidamente adaptada ao bebê, compreende aquele chamado e encontra uma resposta que é sentida pelo bebê como satisfatória, havendo uma sobreposição entre o ato materno de suprir uma necessidade do bebê e o que ele poderia conceber enquanto necessidade. Nesse sentido, a ilusão habita uma área intermediária entre interno e externo, entre o que é objetivamente percebido e o que é subjetivamente concebido - a área do transicional.
O campo da ilusão excede a oposição alucinação/percepção a partir da coincidência entre os processos de criação do bebê em sua onipotência e controle mágicos e a devoção materna em suprir alguma necessidade que ela acredite estar presente no bebê. O papel desempenhado pela ilusão é fundamental para todo o desenvolvimento emocional posterior da criança, uma vez que essa adaptação suave à realidade é o que permitirá que ela mantenha uma relação mais saudável com as barreiras entre interno e externo, objetivo e subjetivo, fantasia e realidade. A presença do objeto encontra-se no conceito de ilusão winnicottiano, uma vez que nos chama atenção para a importância da coincidência entre os processos do bebê e a resposta ambiental (Roussillon, 2012bRoussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
https://reneroussillon.files.wordpress.c...
).
Nesta direção, podemos pensar que este processo só ocorre se há uma sintonia entre mãe e bebê neste momento inicial. É apenas de acordo com a resposta da mãe que a ilusão criada pelo bebê pode se tornar percepção a partir de uma sensação primitiva que adquire para o outro o estatuto de mensagem. Retomando este ponto, a dimensão somática e afetiva apresenta-se aqui como dotada de um enorme potencial comunicador e narrativo (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.). Porém, tal potencial só será alcançado se houver um outro que consiga recepcionar essa comunicação enquanto mensagem.
Em relação a tal mensagem em potencial, é importante ressaltar que não há um significado prévio e imutável a ser conduzido, mas que este será construído em parte pelo remetente e em parte pela forma como o destinatário recepcionará e responderá a essa mensagem. Caso a mensagem não seja recepcionada ou reconhecida em seu valor simbólico, seu potencial se degenera, tornando-se dessimbolizada. Sem o auxílio do outro, esse conteúdo torna-se tóxico para o bebê e não suscetível ao trabalho de simbolização, permanecendo enquistado em algum canto do psiquismo de forma atemporal (Roussillon, 2011Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.).
A função simbolizadora do objeto
Para que o trabalho de simbolização primária possa ser feito e se torne parte das ferramentas psíquicas próprias do sujeito, será essencial que o objeto o auxilie neste começo e que, ao longo do processo, passe de um trabalho amparado pelo outro para um trabalho realizado pelo próprio sujeito. São as características da relação primária que o sujeito constitui com o objeto que servirão de base para sua relação com a própria atividade posterior de simbolização (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.).
O auxílio inicial será marcado pela escolha de objetos que acolherão a matéria psíquica primária “escoada” pelo bebê. A matéria será transferida para o objeto, que a recepcionará de acordo com as suas possibilidades. Com isso, o objeto imprime sua marca específica e seu modelo particular a partir da resposta singular dada à transferência desta matéria para si. Será de exímia importância a qualidade da resposta objetal para que o processo se desenvolva, de forma que ele pode sofrer entraves em um ou em outro tempo sucessivos a sua produção caso a resposta não seja satisfatória.
O primeiro objeto a recepcionar estes conteúdos será a mãe - aqui entendida não como mãe biológica, mas como aquela que exerce a função de cuidar. Seguindo a lógica winnicottiana do objeto criado/encontrado, as características reais e concretas da mãe precisarão ser utilizadas alucinatoriamente pela criança. Faz-se necessário haver uma comunhão entre o elemento que é efetivamente encontrado na realidade da figura materna e aquele que é projetado sobre ela, alucinado e transferido para sua figura pela criança (Winnicott, 1953/1975Winnicott, D. W. (1975). Objetos transicionais e fenômenos transicionais. In D. W. Winnicott, O brincar e a realidade (pp. 13-44). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1953)).
É nesse momento de convergência entre o objeto criado e o objeto encontrado que a matéria primária psíquica encontra sua direção. Tal convergência perceptiva abre caminho para pensarmos na dificuldade central do trabalho de simbolização primária: o objeto que auxilia a simbolizar é também um objeto a ser simbolizado (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.). O próprio objeto auxiliador também carece de simbolização. São as duas faces da função simbolizadora do objeto. Este é o primeiro paradoxo encontrado no processo e que deve ser respeitado para que ele possa se desenvolver. Faz-se necessário sustentar as diferenças introduzidas pelo paradoxo, assim como suas semelhanças.
Haverá uma dupla necessidade de encontrar a alteridade do objeto, ao mesmo tempo em que é ele que auxiliará a simbolizar esta mesma alteridade. Para que essa operação se torne possível, Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.) demarca que o objeto deve aceitar se deixar utilizar, ao mesmo tempo em que propõe uma diferença entre o objeto externo e a representação que se fará dele internamente. Baseado no conceito winnicottiano de “uso do objeto” (Winnicott, 1969/1975Winnicott, D. W. (1975). O uso de um objeto e relacionamento através de identificações. In D. W. Winnicott, O brincar e a realidade (pp. 121-131). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1969)), Roussillon afirma que a mãe precisa consentir em se deixar transformar e se modificar para se tornar algo maleável e próprio da criança. No lugar da coisa em si, aparece a coisa “para brincar”, a coisa a ser utilizada como objeto para simbolizar. No entanto, é preciso marcar que a lacuna entre o objeto em si e uma possível representação deste é aqui crucial, pois é ela que introduz a não identidade, que abre para o espaço simbolizador.
Diante do quadro apresentado, a mãe precisa consentir e suportar ser usada desta maneira. Precisa aceitar deixar suas necessidades e desejos em suspenso para adequar-se às necessidades do bebê, dando forma a essa matéria primária psíquica - auxiliando a transformá-las em simbolização. Esta é a condição essencial para que a simbolização primária se constitua de forma satisfatória. No uso do objeto há uma aceitação de atenuar a própria alteridade para adaptar-se às necessidades do outro. Há uma tentativa de apagamento momentâneo de si para que se possa ser utilizado como objeto maleável sobre o qual o bebê vai depositar a matéria primária psíquica ainda sem forma. Nesse sentido, a presença e resposta do objeto se tornam essenciais para a instauração do processo de simbolização primária no outro (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.).
A tolerância do objeto ao acolhimento da alucinação da matéria primária psíquica do bebê possui relação com uma maleabilidade suficientemente satisfatória na relação com o objeto, forma viva do conceito de “meio maleável” de Marion Milner (1952/1991)Milner, M. (1991). O papel da ilusão na formação simbólica (1952). In M. Milner, A loucura suprimida do homem são: quarenta e quatro anos explorando a psicanálise (pp. 89-116). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1952). Através deste conceito, Roussillon (2006a)Roussillon, R. (2006a). Paradoxos e situações limites da psicanálise. São Leopoldo, RS: Unisinos. encontra um suporte para pensar sobre o que acontece nestas primeiras relações objetais. Nas palavras do autor, “dar forma, modelar o ar ou uma massa, articular, tornar visível um fluido invisível mas material, tal parecia ser o imperativo comum subjacente a essas diferentes relações” (p. 158).
O meio maleável foi um conceito que surgiu a partir da clínica de Milner com crianças. Ele permite que o sujeito comece a discriminar as realidades externa e interna a partir de alguma realidade objetiva que venha a ter no encontro com o objeto. O meio se deixa utilizar pelo outro, momentaneamente onipotente. Nesse sentido, a intersubjetividade ganha terreno ao afirmar que será preciso encontrar de fato o objeto para que algo da externalidade seja passível de ser reconhecida. O movimento não será mais de dentro para fora (do bebê para a mãe) ou de fora para dentro (imposto pela realidade), mas do encontro entre ambos e do que virá em seguida.
Para que o objeto seja compreendido enquanto meio maleável, ele deve possuir algumas características, dentre as quais Roussillon (2006a)Roussillon, R. (2006a). Paradoxos e situações limites da psicanálise. São Leopoldo, RS: Unisinos. destaca cinco. A primeira e mais fundamental é a indestrutibilidade. O objeto precisa poder ser utilizado - modificar sua forma - e sobreviver. A maleabilidade é compreendida aqui como uma eterna transformação, movimento que auxiliará na representação.
Em seguida, temos como propriedade uma extrema sensibilidade do meio. Apesar de não poder ser destruído, ele necessitará somente de pequenas variações quantitativas para se modificar.
Como terceira característica do meio maleável, encontramos a indefinida transformação, ou seja, a capacidade de adquirir toda e qualquer forma. Se, ao mesmo tempo, ele deve ser indestrutível e sensível, afirma Roussillon (2006a)Roussillon, R. (2006a). Paradoxos e situações limites da psicanálise. São Leopoldo, RS: Unisinos. que “ele deve poder ser indefinidamente transformável permanecendo ele mesmo” (p. 164). Sua natureza não sofre alterações, apenas sua forma.
Esta característica só pode ocorrer se somada à próxima: o meio precisa ser incondicionalmente disponível. A todo o momento, o sujeito precisa poder alcançá-lo e encontrá-lo acessível.
A quinta e última propriedade do meio maleável é seu caráter vivo. Embora ele possa ser uma substância inanimada, o sujeito precisa poder encontrar vida nele. Essa característica é de extrema importância, uma vez que não basta ao objeto sobreviver aos possíveis ataques e transformações. Diante da destrutividade encontrada, será necessário que o objeto não se retraia - precisa estar psiquicamente presente; que o objeto não revide ou entre em uma luta de forças com o sujeito; e que o objeto se mostre vivo e criativo (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.).
Obedecendo a estas propriedades, a mãe torna-se uma boa “matéria para modelar”, a partir da qual o bebê pode escoar suas alucinações da matéria psíquica primária e obter auxílio para organizá-las. Porém, para que o objeto tenha função de meio maleável, ele deve não apenas sobreviver, mas ter ainda algum prazer com a utilização de sua forma e de sua interioridade. Será necessário que a mãe compreenda e aceite o paradoxo da utilização do objeto para que possa ajudar a simbolizar. A função simbolizadora do objeto se une às funções de paraexcitação e contenção como exigências a serem cumpridas pelo objeto materno (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.).
Contudo, é inegável que o objeto é também um outro, diferenciado. Ele é constituído por características próprias, contendo sua especificidade, seus desejos e elementos que não são maleáveis. O objeto também tem suas partes “duras”, imutáveis, aquelas que não podem ser utilizáveis de imediato. Por mais maleável que o objeto seja, há também algo que lhe é próprio e que o impede de se adaptar a esse bebê, que encontra resistência. Assim como o objeto acolhe a transferência da matéria primária psíquica, ele também a refrata.
Esses elementos não adaptados serão vividos pelo bebê como enigmáticos e inapreensíveis. Uma vez que o objeto também apresenta características que não são maleáveis, não é possível que o bebê transfira a matéria primária psíquica de forma total e completa para o objeto, conforme descrevemos, já que há uma dureza própria a ele que impede sua modificação. Desse modo, fica sempre um resto: aquilo que não pôde tomar forma na relação com o objeto, que sobra do primeiro tempo do processo de simbolização, dá origem a uma primeira bifurcação do processo.
O objeu e os primórdios da simbolização
A partir do momento em que o sujeito não encontra no objeto materno a solução para todas as suas necessidades, ele vai buscar outros objetos para tentar representar perceptivamente aquilo que ameaça escapar. Este primeiro objeto encontrado fora é nomeado por Roussillon de objeu. A palavra é um anagrama composto pela soma de duas palavras em francês: objet (objeto) e jeu (jogo, brincar). O encontro com este primeiro objeto seria uma forma bastante primitiva do brincar, que leva a novos processos de simbolização primária. Estes primeiros encontros vão possibilitar, posteriormente, o trabalho de desmaterialização psíquica que leva à reflexibilidade contida no pensar e na própria atividade de representação.
O objeu assemelha-se ao conceito winnicottiano de objeto transicional, na medida em que ele representa ao mesmo tempo aquilo que é externo e interno. É uma criação do sujeito, mas possui uma materialidade - paradoxo que, assim como em Winnicott, não deve ser resolvido. Ele é, ao mesmo tempo, um objeto subjetivo e um objeto objetivo. Graças à alucinação, adquire um valor psíquico; graças à percepção e à motricidade, pode ser manuseado e explorado na realidade externa (Roussillon, 2011Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.).
O objeu comporta tanto aquilo que começou a tomar forma na relação com o objeto materno - que o meio encontrado foi maleável - quanto aquilo que não pôde começar a se representar nessa relação. Há uma sobredeterminação dos ocorridos. Situados lado a lado estão aquilo que pôde se produzir com o auxílio do objeto materno e aquilo que não pôde. Caso a resposta inicial do objeto materno tenha sido satisfatória, esses objetos podem se tornar animados graças à transferência das características vivas dessa primeira resposta.
Assim como o caráter vivo do meio maleável, o objeto pode se tornar animado a partir da externalização alucinatória do traço interno e no reencontro primeiro deste traço com outro sujeito, também vivo, e que responde de forma criativa. Para que a criança possa, posteriormente, fazer uso do brincar, será necessário que algo tenha se passado satisfatoriamente no primeiro momento do processo de simbolização primária. É preciso que o objeto materno tenha se deixado usar como meio maleável para que a característica de transferir algo de vivo para objetos inanimados possa ter sido realizada de forma bem-sucedida (Minerbo, 2013Minerbo, M. (2013). A metapsicologia da simbolização segundo René Roussillon. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 147-155). São Paulo, SP: Escuta.).
No entanto, diz Roussillon (1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.), essa transferência das características vivas só se efetua se o objeto tolera e autoriza, ou melhor, favorece esse deslocamento. Para isso, será necessário que o objeto reconheça o limite de sua utilização pelo sujeito e a necessidade de encontrar em outro lugar, que não na relação primária mãe-bebê, aquilo que o objeto não pode lhe dar. Aqui haverá o reconhecimento de uma primeira expressão do interdito do incesto, que promulga a impossibilidade do objeto materno de preencher todas as necessidades do sujeito, mas abre, ao mesmo tempo, a possibilidade de satisfazer fora dessa relação fusional aquilo que o objeto não pode lhe dar. O deslocamento do objeto materno para o objeu é então a primeira forma de metaforização.
Diferentemente da relação com o objeto materno, no objeu é possível explorar o enigma e a “dureza” do objeto, seus aspectos não-maleáveis, uma vez que a atualização alucinatória juntamente com o encontro de um objeto externo faz com que o objeu vire um objeto para o psiquismo. Ele poderá ser explorado, atacado, jogado, mordido, utilizado sem piedade pela criatividade e destrutividade do sujeito. Graças à motricidade, o objeu se torna manipulável e transformável, abrigado psiquicamente. E, no desdobramento dessa utilização impiedosa, apropriado subjetivamente, desde que ele sobreviva aos aspectos violentos do amor e da destrutividade primários.
A partir da experiência e da descoberta das propriedades do brincar, o objeu torna possível a descoberta das propriedades da simbolização, auxiliando a instauração dos processos de simbolização primária. O brincar autossimboliza a atividade de simbolização que ele autoriza (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.). Ele permite descobrir suas características, suas condições de possibilidade, suas pré-condições. O próprio brincar é um dos objetos do brincar. Ele não é puro autoerotismo ensimesmado, mas uma atividade autoerótica que abre para a simbolização. Ao mesmo tempo reconhece a alteridade e tenta amenizá-la na medida em que esta é reduzida por sua própria representação.
Todavia, também há limite no brincar, já que a atividade depende da presença e da materialidade que constitui o objeu. Ao apoiar-se nesta substância e apontar para o limite de sua atividade, o brincar abre para uma nova bifurcação do processo de simbolização primária: o trabalho de desmaterialização psíquica que se averigua necessário para chegar ao verdadeiro estado de representação de coisa - fim do processo de simbolização primária.
Minerbo (2013Minerbo, M. (2013). A metapsicologia da simbolização segundo René Roussillon. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 147-155). São Paulo, SP: Escuta.) nos situa no campo da simbolização primária dizendo que, até este momento, a criança ainda não formou representações-coisa, apenas coisas que representam. Até aqui há objetos externos e uma dependência a eles, que não podem ser perdidos, uma vez que a simbolização primária ainda não está completa. O próximo passo do processo é ser capaz de realizar uma representação de si, a qual envolveria, portanto, abrir mão de uma dependência absoluta dos objetos. Os eventos ocorridos nos dois primeiros momentos (objeto materno e objeu) tornam a criança capaz de começar a simbolizar a própria atividade de simbolizar.
O paradoxo fundamental do processo de simbolização primária é que, ao mesmo tempo em que o sujeito visa livrar-se do objeto narcisicamente, há a necessidade dele para se constituir enquanto sujeito. E aí entramos no campo da intersubjetividade, já que nenhum ser humano pode ser autoengendrado psiquicamente - assim como não o é corporalmente. Nossa organização psíquica depende não só dos eventos ocorridos e da maneira como os significamos, mas também da dialética que se estabelece entre tais eventos e as respostas advindas do outro. As possibilidades do objeto materno de ouvir a polissemia produzida pelo bebê, de compreender uma comunicação que escapa ao campo do verbal, de entrar em sintonia com as necessidades do outro, de se deixar utilizar como matéria maleável, serão de extrema importância para uma realização satisfatória deste processo, assim como entre analista e analisando (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.).
Nessa direção, podemos pensar que a resposta fornecida pelo analista será de exímia importância ao longo de todo esse percurso. Ela torna possível um trabalho de reflexão, de devolver para o outro o que está sendo recebido - desde que não seja um simples eco vazio do que o outro lhe apresenta. Não basta refletir de forma imparcial, como um espelho que não se deixa tocar pelo que vem do outro. Para que essa forma de resposta espelhada seja também afetiva, auxiliando nas modificações rumo à apropriação subjetiva, será preciso encontrar uma sintonia fina que gere um compartilhamento afetivo entre ambos. Esse movimento será condição de possibilidade para que o trabalho de simbolização aconteça.
Todavia, dentro desta relação empática, a alteridade do objeto será tão importante quanto sua semelhança. O trabalho necessário para alcançar a função metaforizante, implícita em toda simbolização, supõe jogar em ambos os lados, o da diferença e o da similaridade (Roussillon, 2006bRoussillon, R. (2006b). Pluralité de l’appropriation subjective. In F. Richard & S. Wainrib, La subjectivation (pp. 59-80). Paris, France: Dunod.). Dessa forma, o trabalho do analista encontra-se intrincado, uma vez que ele precisa fazer parte desse jogo de desviar e refletir os conteúdos do sujeito, enquanto este adquire a capacidade reflexiva, fundada sobre o trabalho de simbolização. Apenas quando a experiência intersubjetiva torna-se minimamente satisfatória é que o sujeito pode desenvolver a capacidade interna para caminhar rumo a novas possibilidades de simbolização.
Assim, o campo intersubjetivo apresenta também obstáculos, uma vez que o objeto sempre contém algo de estranho e enigmático para o sujeito, que não pode ser “modelado”. Essa discussão abre caminho para pensarmos no paradoxo central do trabalho de simbolização primária: o objeto que auxilia a simbolizar é também um objeto a ser simbolizado (Roussillon, 1999Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.). Haverá uma dupla necessidade de encontrar a alteridade do objeto, ao mesmo tempo em que é ele que auxiliará a simbolizar esta mesma alteridade. Nesse sentido, o trabalho do analista será compor esse par intersubjetivo, auxiliando na retomada dos processos de simbolização.
Referências
- Fédida, P. (1971). L’anatomie dans la psychanalyse. Nouvelle revue de psychanalyse, (3), 109-126.
- Freud, S. (1996). A interpretação dos sonhos. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 4-5, pp. 11-654). Rio de Janeiro, RJ: Imago. (Obra original publicada em 1900)
- Freud, S. (1996). Os instintos e suas vicissitudes. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 14, pp. 117-144). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1915)
- Freud, S. (1996). Construções em análise. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 23, pp. 271-287). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1937)
- Freud, S. (1996). Achados, ideias, problemas. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 23, pp. 317-318). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original escrita em 1938 e publicada em 1941)
- Freud, S. (1996). Carta 52. In Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (J. Salomão, trad., Vol. 1, pp. 281-287). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original escrita em 1896 e publicada em 1950)
- Green, A. (1988). O analista, a simbolização e a ausência no contexto analítico. In A. Green, Sobre a loucura pessoal (pp. 36-65). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1975)
- Milner, M. (1991). O papel da ilusão na formação simbólica (1952). In M. Milner, A loucura suprimida do homem são: quarenta e quatro anos explorando a psicanálise (pp. 89-116). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1952)
- Minerbo, M. (2013). A metapsicologia da simbolização segundo René Roussillon. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 147-155). São Paulo, SP: Escuta.
- Roussillon, R. (1999). Agonie, clivage et symbolisation. Paris, France: PUF.
- Roussillon, R. (2004a). À l’écoute du bébé dans l’adulte [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/avignon-2-04.pdf
» https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/avignon-2-04.pdf - Roussillon, R. (2004b). La dépendance primitive et l’homosexualité primaire « en double ». Revue française de psychanalyse, 68(2), 421-439. doi: 10.3917/rfp.682.0421
» https://doi.org/10.3917/rfp.682.0421 - Roussillon, R. (2006a). Paradoxos e situações limites da psicanálise. São Leopoldo, RS: Unisinos.
- Roussillon, R. (2006b). Pluralité de l’appropriation subjective. In F. Richard & S. Wainrib, La subjectivation (pp. 59-80). Paris, France: Dunod.
- Roussillon, R. (2011). Primitive agony and symbolization. London, United Kingdom: Karnac.
- Roussillon, R. (2012a). As condições da exploração psicanalítica das problemáticas narcísico-identitárias. ALTER - Revista de estudos psicanalíticos, 30(1), 7-32. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/08/rennc3a9e-de-roussillon-artigo-alter.pdf
» https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/08/rennc3a9e-de-roussillon-artigo-alter.pdf - Roussillon, R. (2012b). Pertinence du concept de symbolisation primaire [Blog]. Recuperado de https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf
» https://reneroussillon.files.wordpress.com/2014/07/ symb-primaire-13-c.pdf - Roussillon, R. (2013). Teoria da simbolização: a simbolização primária. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 107-122). São Paulo, SP: Escuta .
- Souza, O. (2013). As relações entre psicanálise e psicoterapia e a posição do analista. In L. C. Figueiredo, B. B. Savietto & O. Souza (Orgs.), Elasticidade e limite na clínica contemporânea (pp. 21-36). São Paulo, SP: Escuta .
- Urribarri, F. (2012). O pensamento clínico contemporâneo: uma visão histórica das mudanças do trabalho do analista. Revista brasileira de psicanálise, 46(3), 47-64.
- Winnicott, D. W. (1975). Objetos transicionais e fenômenos transicionais. In D. W. Winnicott, O brincar e a realidade (pp. 13-44). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1953)
- Winnicott, D. W. (1975). O uso de um objeto e relacionamento através de identificações. In D. W. Winnicott, O brincar e a realidade (pp. 121-131). Rio de Janeiro, RJ: Imago . (Obra original publicada em 1969)
-
1
Este artigo é parte da dissertação A clínica dos sofrimentos narcísico-identitários: algumas implicações sobre o trabalho do analista, defendida em janeiro de 2016 no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC-Rio. O trabalho contou com o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (Bolsa de Mestrado - Processo: 132573/2014-8).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
28 Out 2019 -
Data do Fascículo
2019
Histórico
-
Recebido
28 Set 2018 -
Aceito
22 Ago 2019