Resumo
O artigo analisa a heterogeneidade territorial do desenvolvimento no estado de São Paulo no início do século XXI, partindo da crítica às abordagens clássicas e recentes do desenvolvimento regional, que enfatizam a dimensão econômica em sentido estrito. Para isso, são mobilizados autores e teorias do desenvolvimento que afirmam a necessidade de dar igual destaque às dimensões ambiental e das desigualdades. Essa crítica fundamenta a definição de um conjunto de variáveis multidimensionais aplicadas à realidade dos municípios paulistas para o ano de 2010, a fim de classificá-los quanto a seu desempenho em cada dimensão: social, econômica e ambiental, com um tratamento transversal das desigualdades. O estudo revela que as melhores performances não são encontradas nas áreas usualmente enfatizadas pela literatura, confirmando a pertinência da crítica teórica às abordagens clássicas e recentes predominantes, mas, sim, em determinadas configurações interioranas. Ao final do artigo, é apresentada uma hipótese para explicar a associação entre essas configurações e a performance positiva nos indicadores observados.
Palavras-chave:
Desenvolvimento Regional; Território; Sustentabilidade; Estado de São Paulo; Vulnerabilidades
Abstract
The article aims to analyze territorial heterogeneity from the perspective of development in the State of São Paulo at the beginning of the 21st century. The starting point is the critique of classic and recent approaches to regional development, highlighting the emphasis given to the economic dimension. The article is based on a set of theories of development that have been drawing attention to the need to give equal emphasis to the environmental and inequality dimensions. This review justifies the definition of a set of multidimensional variables applied to the analysis of São Paulo municipalities for the year 2010, in order to classify them in relation to their performance in each dimension. The research reveals that the best performances are not found in the areas usually emphasized by the literature, confirming the pertinence of theoretical criticism to the predominant classic and recent approaches, but in certain interior settings. At the end, a hypothesis is presented to explain the association between these configurations and positive performance.
Keywords:
Regional development; Territory; Sustainability; State of São Paulo; Vulnerabilities
Introdução
Nas últimas duas décadas, novas abordagens sobre desenvolvimento indicam a necessidade de incorporação e integração das dimensões ambiental (SACHS, 2007SACHS, I. Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez Editora, 2007; DALY; FARLEY, 2004DALY, H.; FARLEY, J. Economia ecológica: princípios e aplicações. Lisboa: Fundação Jean Piaget. 2004. ; CONSTANZA et al., 2016CONSTANZA, R. et al. Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals. Ecological Economics, v. 130, p. 350-355, oct. 2016. ; DASGUPTA, 2021DASGUPTA, P. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. London: HM Treasury. 2021. ) e das desigualdades (SEN, 1998SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.; STIGLITZ, 2012STIGLITZ, J. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. New York: W. W. Northon, 2012. ; NORTH; WALLIS; WEINGAST, 2009NORTH, D.; WALLIS, J.; WEINGAST, B. Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded human history. New York: Cambridge University Press, 2009. ; PIKETTY, 2015PIKETTY, T. O capital no século XXI. São Paulo: Intrínseca Ed., 2015. ; ACEMOGLU; ROBINSON, 2012ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Campus, 2012.) em avaliações sobre o desempenho de regiões e países, visando superar a primazia da dimensão econômica, presente tanto em abordagens liberais apoiadas na economia neoclássica, como em abordagens heterodoxas, por exemplo, as herdeiras do keynesianismo. No campo específico do desenvolvimento regional, também há novas abordagens que deslocam a ênfase explicativa para fatores como a importância das redes de cooperação (BAGNASCO, 1977BAGNASCO, A. Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano. Bologna: Società editrice il Mulino, 1977. ; BRUSCO, 1996BRUSCO, S. Trust, social capital and local development - some lessons from the experience of the italian districts. Networks of enterprises and local developement. Paris: OCDE, 1996.), o papel das redes de inovação (MAILLAT, 1995MAILLAT, D. Millieux innovateurs et dynamique territoriale. In: RALLET, A.; TORRE, A. Économie industrielle et économie spatiale. Paris: Economica, 1995. ) e proximidade (PECQUEUR, 2000PECQUER, B. Le développement local: pour une économie des territories. Paris: Syros, 2000.), ou mesmo para a cultura e o civismo (PUTNAM, 1996PUTNAM, R. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1996.).
Porém, no Brasil, ainda são poucos os estudos que buscam traduzir esses novos enfoques em análises aplicadas ao desenvolvimento regional. Sobre o estado de São Paulo, em particular, ainda é notável a centralidade da dimensão econômica nesse campo de estudo, resultando no protagonismo de temas como desconcentração industrial e eixos, vetores e polos de desenvolvimento. Nessa literatura, ganham destaque as áreas localizadas ao longo do eixo das rodovias Bandeirantes e Anhanguera e, em menor medida, as áreas atravessadas pelas rodovias Presidente Castelo Branco, Washington Luís e Presidente Dutra.
Esses trabalhos trazem importantes contribuições acerca das dinâmicas econômicas dessas sub-regiões, principalmente com relação aos processos de industrialização, diversificação de serviços e surgimentos de polos urbanos. Ocorre que essas áreas são também marcadas por maior desigualdade e elevada degradação ambiental quando comparadas a determinadas sub-regiões interioranas. Não se trata, no entanto, de opor uma coisa à outra, isto é, de afirmar que o desenvolvimento está nas regiões de baixa desigualdade e com indicadores ambientais melhores. O que seria preciso, à luz da literatura recente sobre desenvolvimento, é interrogar, em primeiro lugar, se é possível encontrar regiões onde há correspondência entre crescimento econômico e as demais dimensões do desenvolvimento - afinal, na terceira década do século XXI, é totalmente obsoleto tratar desenvolvimento como simples sinônimo de crescimento econômico; e, em segundo lugar, identificar as causas dessa performance positiva.
Este artigo está voltado a responder a primeira dessas perguntas e tem, portanto, um duplo objetivo. Sob o ângulo empírico, trata-se de analisar a heterogeneidade territorial do desenvolvimento no estado de São Paulo no século XXI, buscando demonstrar que os melhores desempenhos em indicadores capazes de ir além da dimensão econômica não se encontram nas áreas usualmente destacadas pela literatura. Sob o ângulo teórico, a contribuição reside na crítica às abordagens clássicas e recentes do desenvolvimento regional, que também enfatizam a dimensão econômica. A tentativa de resposta à segunda pergunta, que envolve as causas das boas performances em indicadores multidimensionais de desenvolvimento, será explorada em outro texto, mas a hipótese a ser testada pode ser vislumbrada ao final destas páginas.
O artigo está organizado em três seções. Na primeira, é apresentada a literatura mais recente sobre desenvolvimento regional no estado de São Paulo, com o objetivo de destacar seus principais achados e também os desafios a serem enfrentados. São abordados textos que delimitam espacialmente seus objetos a partir da economia industrial, agrícola e de serviços, tomando como indicadores a indústria, o Produto Interno Bruto (PIB), a produção, os empregos e a intensidade e multiplicidade de fluxos. O resultado é um conjunto de sub-regiões que formam aquilo que pode ser denominado “áreas centrais” (GALVANESE, 2021GALVANESE, C. S. Paradigmas do planejamento territorial em debate: contribuições críticas a um campo científico emergente. Santo André: Editora da UFABC, 2021.), ou seja, áreas de economias mais dinâmicas e marcadas pela concentração de ativos, as quais são mapeadas ao fim da seção. A crítica empreendida a essas abordagens se sustenta na literatura mais recente sobre desenvolvimento, sobretudo, na relevância conferida a temas como desigualdades, conservação ambiental e medidas multidimensionais de bem-estar.
A segunda seção procura especificar a base conceitual para a construção de uma matriz de indicadores capaz de captar, em escala municipal e regional, a visão sugerida pela literatura sobre desenvolvimento, ampliando, assim, o escopo tradicionalmente utilizado na literatura dedicada à questão regional. Além da crítica ao estilo de desenvolvimento experimentado nas regiões centrais enfatizadas pelos estudos clássicos e recentes, uma matriz ampliada e renovada deve permitir a análise comparada entre o conjunto de regiões, visando identificar onde há uma melhor performance em consonância com uma visão ampliada para várias dimensões. Na definição conceitual, especial destaque é dado ao Relatório da Comissão sobre a Mensuração da Performance Econômica e do Progresso Social (STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 2012STIGLITZ, J.; SEN, A.; FITOUSSI, J. Relatório da Comissão sobre a Mensuração de Desempenho Econômico e Progresso Social. Curitiba: Editora SESI/PR, 2012.), por abranger essas várias dimensões e pelo que nele é sugerido para a elaboração de indicadores mais precisos para analisar o estoque e os fluxos dos ativos dos territórios (renda, equipamentos, performance em bem-estar, recursos naturais). Também se destacam os estudos sobre justiça racial e ambiental, que assinalam o caráter desigual da distribuição de ativos e passivos constituídos nos processos de desenvolvimento. Por meio desses estudos, é feito um exame crítico acerca dos limites dos indicadores mais utilizados atualmente, mesmo aqueles de caráter multidimensional e mais sofisticados como o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (PNUD/RDH, 1998ONU. Organização das Nações Unidas; PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do Desenvolvimento Humano: Cambiar las pautas actuales de consumo para el desarrollo humano del futuro. PNUD/ONU, 1998.), o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) (FUNDAÇÃO SEADE, 2022FUNDAÇÃO SEADE. Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS. 2022. Disponível em: http://www.iprs.seade.gov.br/. Acesso em: 01 dez 2022.
http://www.iprs.seade.gov.br/...
) e o Índice Firjan (IFDM, 2022FIRJAN. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. 2022. Disponível em: https://www.firjan.com.br/ifdm/downloads/. Acesso em: 13 out. 2022.
https://www.firjan.com.br/ifdm/downloads...
).
Na terceira seção, é apresentada uma seleção de indicadores municipais de diversas fontes para compor uma matriz de mensuração do desenvolvimento que revele diferentes níveis e formas de desigualdade (educação, saúde, condição urbana, distribuição de renda), bem como evidencie fragilidades ambientais em diferentes aspectos (poluição das águas, da terra, do ar e desmatamento), sem deixar de lado dimensões tratadas nas gerações atual e anteriores de indicadores (como o crescimento econômico).
Essa matriz se baseia no IPRS, que já traz indicadores sociais (de mortalidade e escolaridade) e econômicos (PIB per capita), complementando-o com um leque de indicadores ambientais e de desigualdade. Do ponto de vista da dimensão econômica, foram adicionados indicadores de distribuição de renda (Índice de Gini de renda domiciliar per capita, obtido pelo Censo IBGE) e de pobreza (percentual de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família). Para a dimensão social, foram incluídos indicadores, também do Censo IBGE, de condição urbana (proporção de domicílios com características do entorno inadequada ou semi-inadequada) e de justiça racial (proporção da população declarada de raça preta, parda ou indígena, residindo em ambiente com esgoto a céu aberto). Para a dimensão ambiental, o Censo também permite captar a contaminação das águas e da terra, por indicadores de esgoto não tratado. A isso são agregados indicadores de uso de agrotóxicos, obtidos pelos dados de área plantada da Produção Agrícola Municipal (PAM) do IBGE 2010 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Agrícola Municipal (PAM) 2010. Rio de Janeiro: IBGE, 2010., cruzados com estimativas médias de litros de agrotóxico consumido por hectare de cada cultura, calculadas por autores do Instituto de Saúde Coletiva, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) (PIGNATI et al., 2017PIGNATI, W. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. Revista Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 22, n. 10, p. 3.281-3.293, out. 2017.). Também se somaram indicadores de contaminação do ar, com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), e relativos ao desmatamento, considerando a cobertura florestal municipal e o tempo restante para seu possível esgotamento, calculados por meio dos dados de cobertura da terra do site Mapbiomas.
A análise aplicada revela que as melhores performances não são encontradas nas áreas usualmente enfatizadas pela literatura, confirmando a pertinência da crítica teórica às abordagens clássicas e recentes predominantes nesse campo de estudos, e sim em determinadas configurações interioranas, localizadas, principalmente, no noroeste paulista. Ao final do texto, é apresentada uma hipótese para explicar a associação entre essas configurações e a performance positiva dos indicadores observados.
1. Apontamentos sobre a literatura do desenvolvimento regional paulista
Nos estudos recentes sobre o desenvolvimento regional paulista, há frentes de pesquisa com abordagens diversas, ainda pouco entrelaçadas. Alguns estudos, principalmente os relativos à indústria, partem da escala nacional e acabam por abordar a escala regional paulista com maior ênfase, onde se concentram essas atividades. Entre os temas e conceitos abordados, é possível destacar a questão da desconcentração industrial (ABDAL, 2008ABDAL, A. Desenvolvimento e espaço: da hierarquia da desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo à formação da macrometrópole paulista. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.), da dorsal paulista (THERY, 2007THÉRY, H. Chaves para a leitura do território paulista. Confins, v. 1, 2007. Disponível em https://journals.openedition.org/confins/25?lang=pt. Acesso em: 19 nov. 2022.
https://journals.openedition.org/confins...
; EGLER; BESSA; GONÇALVES, 2013EGLER, C.; BESSA, V.; GONÇALVES, A. Dinâmica territorial e seus rebatimentos na organização regional do estado de São Paulo. Confins, v. 19, 2013. Disponível em: https://journals.openedition.org/confins/8602. Acesso em: 5 jan. 2021.
https://journals.openedition.org/confins...
), dos eixos de desenvolvimento (SPÓSITO, 2015SPÓSITO, E. Rede urbana e eixos de desenvolvimento: dinâmica territorial e localização da indústria e do emprego no estado de São Paulo. In: SPOSITO, E. (Org.). O novo mapa da indústria no início do século XXI: diferentes paradigmas para a leitura das dinâmicas territoriais do estado de São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2015.), dos vetores produtivos (TAVARES, 2018TAVARES, J. Planejamento Regional no Estado de São Paulo: Polos, Eixos e a Região dos Vetores Produtivos. São Paulo: Annablume, 2018.) e das cidades médias (SPÓSITO, 2010SPÓSITO, M. Novas redes urbanas: cidades médias e pequenas no processo de globalização. Revista de Geografia, São Paulo, v. 35, p. 51-62, 2010.; SCHERER; AMARAL, 2020SCHERER, C. E. M.; DO AMARAL, P. V. M. O espaço e o lugar das cidades médias na rede urbana brasileira. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 22, 2019. Doi: 10.22296/2317-1529.RBEUR.202001.
https://doi.org/10.22296/2317-1529.RBEUR...
). Parte desses trabalhos, em especial aqueles sobre as cidades médias, já apontam para alguns problemas socioeconômicos decorrentes da forte hierarquização das redes formadas. Sob um prisma ainda mais crítico, estudos recentes da geografia agrária sobre o estado de São Paulo mapearam as transformações nas relações sociais de produção nas áreas de expansão agroindustrial da laranja e da cana-de-açúcar (CUBAS, 2012CUBAS, T. São Paulo agrário: representações da disputa territorial entre camponeses e ruralistas. 2012. 271 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2012.; BELLENTANI, 2015BELLENTANI, N. A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético. 2015. 176 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.).
Ao final da seção, são destacados são destacados os objetos de estudo desses trabalhos, a fim de subsidiar a construção do Mapa das áreas centrais (Figura 1), a ser confrontado com os Mapas das dimensões do desenvolvimento, ao final da seção 3.
Em seu estudo sobre a desconcentração industrial paulista, Abdal (2008ABDAL, A. Desenvolvimento e espaço: da hierarquia da desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo à formação da macrometrópole paulista. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.) realiza um panorama histórico da problemática da concentração versus desconcentração industrial no Brasil após os anos 1970, quando novas dinâmicas econômicas passam a exercer influência sobre a localização das indústrias, acarretando queda da participação da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) nos empregos e na produção industrial. Segundo Abdal, Azzoni (1986AZZONI, C. Indústria e reversão da polarização no Brasil. São Paulo: IPE-USP, 1986.) foi um dos primeiros a demonstrar a “desconcentração concentrada”, ao observar que a evasão das indústrias metropolitanas entre 1970 e 1985, causada por altos custos de transportes, terrenos, serviços e infraestrutura, veio acompanhada de reconcentração em um raio de cerca de 150 km de distância da capital, conformando um território denominado “campo aglomerativo”. Diniz (1993DINIZ, C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Revista Nova Economia, Belo Horizonte, v. 3, n. 1. 1993.), por sua vez, sublinha um espraiamento em escala maior, dando forma à tese do “desenvolvimento poligonal”, caracterizado pela reversão, a partir de 1985, da polarização da RMSP para o polígono formado por Belo Horizonte, Uberlândia, Maringá, Porto Alegre, Florianópolis e São José dos Campos. Cano (1998CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930-1970 e 1970-1995. Campinas: IE-Unicamp, 1998.) relativiza essa visão e argumenta que, em função das políticas neoliberais, a partir de 1985, há uma diminuição dessa desconcentração no Brasil e ressalta a permanência do papel central da RMSP no processo de industrialização brasileiro. Para Pacheco (1998PACHECO, C. Fragmentação da nação. Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 1998.), a partir de 1990, diante do papel desempenhado pela abertura econômica e integração ao mercado internacional, a desconcentração passou a ser fragmentada, com o desenvolvimento de “ilhas de produtividade”, incapazes de promover crescimento sustentado e com efeitos de encadeamento. Abdal (2008)ABDAL, A. Desenvolvimento e espaço: da hierarquia da desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo à formação da macrometrópole paulista. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. demonstra que, na primeira década dos anos 2000, o processo de desconcentração industrial não ocorreu de forma aleatória, sendo que quanto mais moderna e dinâmica a atividade industrial, maior a tendência de se localizar na macrometrópole, valendo-se de economias de aglomeração. Assim, restaria às indústrias baseadas em processos tecnológicos convencionais se instalarem em territórios mais afastados, desde que providos de infraestrutura adequada (ABDAL, 2008ABDAL, A. Desenvolvimento e espaço: da hierarquia da desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo à formação da macrometrópole paulista. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008., p. 34-35).
Perspectiva similar é trazida por Thery (2006)THÉRY, H. Chaves para a leitura do território paulista. Confins, v. 1, 2007. Disponível em https://journals.openedition.org/confins/25?lang=pt. Acesso em: 19 nov. 2022.
https://journals.openedition.org/confins...
e Egler, Bessa e Gonçalves (2013EGLER, C.; BESSA, V.; GONÇALVES, A. Dinâmica territorial e seus rebatimentos na organização regional do estado de São Paulo. Confins, v. 19, 2013. Disponível em: https://journals.openedition.org/confins/8602. Acesso em: 5 jan. 2021.
https://journals.openedition.org/confins...
), que assinalam a existência de uma “dorsal paulista”, composta pelos eixos estruturantes do estado, principalmente pelas rodovias Bandeirantes, Anhanguera e Washington Luís e suas áreas de influência. Nessa dorsal, situam-se as principais áreas vinculadas à economia mundial (São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Santos, Ribeirão Preto, entre outras), para onde é drenada boa parte das riquezas geradas nos setores de serviços, industrial e agropecuário. Os autores constroem a noção de dorsal por meio de padrões espaciais decorrentes de variáveis como PIB, PIB per capita, produção agrícola e IPRS.
Outro importante estudo que busca identificar as áreas com maior dinamismo e desenvolvimento no estado é o trabalho de Eliseu Savério Spósito (2015SPÓSITO, E. Rede urbana e eixos de desenvolvimento: dinâmica territorial e localização da indústria e do emprego no estado de São Paulo. In: SPOSITO, E. (Org.). O novo mapa da indústria no início do século XXI: diferentes paradigmas para a leitura das dinâmicas territoriais do estado de São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2015.). Considerando variáveis como número de estabelecimentos industriais, vínculos empregatícios na indústria, principais fluxos de veículos nas rodovias, valor adicionado da indústria, participação municipal nas exportações, entre outros indicadores econômicos, o autor elabora uma cartografia dos “eixos de desenvolvimento” e reafirma a ideia de que é ao longo dos mais importantes eixos rodoviários que se concentra o desenvolvimento paulista. Observa, também, que esses eixos são organizados de forma dendrítica (em forma de árvore ou dendritos) com relação à capital e que, quanto mais perto dela, maior o nível tecnológico da indústria.
Na mesma linha, os estudos de Jeferson Tavares (2018TAVARES, J. Planejamento Regional no Estado de São Paulo: Polos, Eixos e a Região dos Vetores Produtivos. São Paulo: Annablume, 2018.) contribuem para a compreensão de como os eixos se tornaram tão atrativos, destacando a influência da ação estatal de 1910 a 1980 na configuração dos eixos rodoviários e dos polos urbanos. O trabalho demonstra o peso que essas estratégias exerceram na configuração daquilo que foi denominado como “região dos vetores produtivos”, nas áreas de influência das rodovias Anhanguera, Castello Branco, Raposo Tavares, Washington Luís e Marechal Rondon.
Nos marcos da discussão sobre desconcentração industrial e surgimento de novos núcleos e polos urbanos, surge o tema das cidades médias, municípios que, diante dessas transformações econômicas, se reposicionam na rede urbana regional, cumprindo o papel de intermediar as relações entre campo e cidade e entre o local e o global (SPOSITO, 2010SPÓSITO, M. Novas redes urbanas: cidades médias e pequenas no processo de globalização. Revista de Geografia, São Paulo, v. 35, p. 51-62, 2010.). Embora existam cidades cujo papel na rede se acentuou de forma independente com relação ao processo de reestruturação produtiva, o motor de crescimento da maioria das cidades médias está, justamente, nos investimentos e demandas geradas pelo espalhamento das indústrias e pela expansão do agronegócio. Essas são as atividades para as quais as cidades médias oferecem suporte por meio da crescente oferta de comércio e serviços. Por essas cidades passam cada vez mais fluxos demográficos, econômicos e de informações que dinamizam sua área de influência e sua área urbana (SPÓSITO, 2010SPÓSITO, M. Novas redes urbanas: cidades médias e pequenas no processo de globalização. Revista de Geografia, São Paulo, v. 35, p. 51-62, 2010.; SCHERER; AMARAL, 2020SCHERER, C. E. M.; DO AMARAL, P. V. M. O espaço e o lugar das cidades médias na rede urbana brasileira. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 22, 2019. Doi: 10.22296/2317-1529.RBEUR.202001.
https://doi.org/10.22296/2317-1529.RBEUR...
).
Em síntese, esse conjunto de estudos aborda questões relevantes da dinâmica econômica regional em São Paulo. Mas sua ênfase em aspectos específicos pedem um olhar mais abrangente sobre as dinâmicas de desenvolvimento, e não apenas de dinamização econômica, o que é algo sensivelmente diferente, à luz da literatura das últimas décadas. Para isso, seria preciso olhar para as interdependências entre aspectos econômicos, atinentes ao bem-estar e relativos ao estado e aos usos da natureza.
Noutra chave interpretativa, assentada em críticas às formas de desenvolvimento, a geografia agrária apresenta importantes subsídios à interpretação das dinâmicas territoriais paulistas. Ao observar o avanço do agronegócio pelo interior do estado, esses estudos captam as contradições geradas pela espacialização da atividade dos grupos empresariais agroindustriais e demonstram, cartograficamente, por onde e sobre quais antigas formações sociais avançaram. Bellentani (2015BELLENTANI, N. A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético. 2015. 176 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.), por exemplo, demonstra como as práticas fundiárias de territorialização das principais empresas sucroalcooleiras no estado de São Paulo atingem áreas de produção da agricultura familiar, levando à expropriação da terra dos pequenos produtores. Argumento similar encontra-se em Cubas (2012CUBAS, T. São Paulo agrário: representações da disputa territorial entre camponeses e ruralistas. 2012. 271 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2012.), em texto aplicado à análise da cultura da laranja, nos municípios de Casa Branca e Mogi-Guaçu, e das consequências para a insegurança alimentar regional geradas pela redução de áreas voltadas à produção alimentícia, como arroz, feijão e mandioca.
Na tentativa de unificar visualmente os objetos de estudo desse apanhado de trabalhos exemplares da literatura regional paulista - ressalvadas as diferentes naturezas de suas análises -, apresenta-se a seguir um Mapa das áreas centrais (Figura 1), construído com variáveis presentes no PIB Municipal do IBGE 2010, representativas dos temas abordados: valor adicionado bruto da indústria, em diálogo com a bibliografia da desconcentração industrial; valor adicionado bruto dos serviços, em diálogo com a bibliografias das cidades médias; valor adicionado bruto da agropecuária, em diálogo com a expansão do agronegócio. O mapa traz os 215 municípios mais bem colocados no ranking de cada variável (equivalente ao primeiro terço dentre os 645 municípios do estado), considerando seus desempenhos como “superiores”. Para permitir uma leitura correlacionada à distribuição demográfica (fator também de destaque na literatura estudada), foram inseridos círculos nas sedes municipais, com diâmetros que aumentam em função da sua população.
A sobreposição dessas camadas expressa os limites espacializados dos recortes temáticos da literatura atual. Ao longo das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, nota-se a sobreposição de desempenhos de PIB superiores, nos três setores. Também há destaque para as rodovias Presidente Dutra e Marechal Rondon e, em menor grau, a Washington Luís. As áreas de maior sobreposição de desempenhos superiores correspondem, em grande medida, à dorsal paulista, aos eixos de desenvolvimento, aos vetores produtivos e às cidades médias. Já a agricultura de alto valor adicionado se espalha para além desses vetores, em direção às regiões Oeste, Noroeste e Sul do estado.
2. Como medir o desenvolvimento para além da dimensão econômica
Ao longo do último século, as formas de medir desenvolvimento variaram à medida que emergiram novas abordagens teóricas, cada qual chamando a atenção para novas variáveis e dimensões consideradas importantes (VEIGA, 2005VEIGA, J. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.). Essa evolução temporal tem um correspondente também na literatura sobre o desenvolvimento regional (GALVANESE, 2021GALVANESE, C. S. Paradigmas do planejamento territorial em debate: contribuições críticas a um campo científico emergente. Santo André: Editora da UFABC, 2021.; FAVARETO, 2022FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. ).
A primeira geração de indicadores adota o Produto Interno Bruto (PIB) como melhor e, muitas vezes, o único indicador a ser utilizado, que traduz o crescimento econômico de um município, região ou país. Coerente com a abordagem neoclássica do desenvolvimento, mensurar crescimento econômico é o mais relevante, porque o desempenho das demais dimensões tenderia a ser consistente com o comportamento dessa variável. Afinal, nessa concepção, os melhores indicadores de saúde ou de educação seriam decorrência de maiores investimentos nessas áreas, o que, por sua vez, ocorreria com a maior disponibilidade de recursos para isso, algo que só se consegue com mais crescimento. Mesmo variáveis como desigualdade seriam inócuas, porque, a longo prazo, tenderiam a cair naturalmente - como sugerido pela hipótese da curva de Kuznets, segundo a qual os processos de crescimento podem levar a um aumento da desigualdade num primeiro instante, mas, no momento em que a economia começa a pagar melhores salários, e quando há maior disputa entre investidores ou entre regiões, isso se reverte, levando à progressiva convergência de rendimentos.
Com a ascensão do pensamento heterodoxo no pós-guerra, novas abordagens sobre desenvolvimento se firmaram, e, com elas, novas medidas. Estava claro, àquele momento, que as desigualdades não seriam dissolvidas naturalmente. Havia mecanismos de reforço das desigualdades, cujo ciclo precisaria ser rompido por meio de investimentos, incentivos e outras formas de favorecer a desconcentração da renda - no caso da economia como um todo - ou da atividade econômica - no caso da desigualdade entre regiões. As desigualdades emergiram, então, como tema relevante, mas se tratava, ainda, da desigualdade econômica. E o crescimento econômico, agora desconcentrado, ainda era visto como aspecto fundamental a viabilizar os demais. Sob o ângulo das medidas, a segunda geração de indicadores passou a dar maior atenção para temas que poderiam favorecer desconcentração e maior complexificação do tecido econômico das regiões menos favorecidas. Disponibilidade de infraestruturas, níveis de investimento, grau de industrialização são alguns dos indicadores utilizados desde então e, como se pode observar na literatura recente, ainda muito presentes em estudos contemporâneos, mesmo décadas depois.
Variantes da literatura sobre efeitos do desenvolvimento - como aquelas baseadas nas desigualdades de renda e de poder entre grupos sociais, ou as abordagens inspiradas nas ideias de dependência e de desenvolvimento desigual e combinado -, surgiram também na geografia, na sociologia e na economia política. Elas tiveram, porém, menor repercussão sobre a literatura associada a indicadores e medidas ou sobre o pensamento normativo acerca das formas de promoção do crescimento econômico e do desenvolvimento. Há, ainda, no campo da geografia, por exemplo, contribuições apoiadas na ideia de redes e hierarquias, que se utilizam de outras medidas para caracterizar “fixos e fluxos” relativos às dinâmicas espaciais. Apesar de sua relevância, também estas abordagens não repercutiram decisivamente sobre a literatura específica dos indicadores de desenvolvimento.
A terceira geração de indicadores surge sob direta influência das chamadas novas heterodoxias (FAVARETO, 2022FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. ): um conjunto de abordagens sobre desenvolvimento cujo traço distintivo é deslocar a ênfase da dimensão econômica para outras dimensões consideradas incontornáveis. Essas abordagens mostraram que, no final do século XX, era evidente que nem todos os locais com alto crescimento tinham também elevados níveis de bem-estar. O principal marco delas é a obra de Amartya Sen (1998SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.) e seu argumento de que a desigualdade é mais importante do que o crescimento econômico, pois, em tentativa de reconciliar ética e economia, o que importa nos processos de desenvolvimento é saber se eles permitem ou não uma ampliação das liberdades das pessoas em fazer o que consideram ser o melhor para si. Mais que isso, Sen mostra que, se considerada a diversidade de seres humanos, muitas vezes a desigualdade de renda sequer pode ser a mais relevante, sendo necessário também o exame de outras formas como a desigualdade de gênero, inter-racial ou outras.
A afirmação de Sen comporta um conjunto de controvérsias, algumas delas sumarizadas em Favareto (2022FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. ), mas fundamentou uma série de tentativas de traduzir um enfoque mais abrangente e complexo do desenvolvimento em sistemas de indicadores. O mais conhecido é o Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD/RDH, 1998ONU. Organização das Nações Unidas; PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do Desenvolvimento Humano: Cambiar las pautas actuales de consumo para el desarrollo humano del futuro. PNUD/ONU, 1998.). O IDH inova em relação ao PIB ao incorporar duas dimensões importantes do bem-estar: saúde e educação. Mas tem ao menos quatro defeitos: ignora as desigualdades, pois faz uma média de indicadores para renda, educação e saúde; restringe o bem-estar a essas três dimensões, quando há outras a levar em conta - caso da participação nas decisões da sociedade, da não exposição a riscos e violência, entre outros; não se refere à dimensão ambiental; e, por fim, apresenta-se sob a forma de um ranking, obtido a partir de médias entre aspectos muito diferentes, como viver uma vida longa e o quanto se tem de renda monetária.
Uma geração mais recente de indicadores tenta ir ainda mais longe. É o caso dos indicadores de necessidades básicas insatisfeitas (CEPAL, 2001CEPAL. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL, 2001. ) ou, no Brasil, o Índice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) (FUNDAÇÃO SEADE, 2022FUNDAÇÃO SEADE. Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS. 2022. Disponível em: http://www.iprs.seade.gov.br/. Acesso em: 01 dez 2022.
http://www.iprs.seade.gov.br/...
) e o Índice Firjan (IFDM, 2022FIRJAN. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. 2022. Disponível em: https://www.firjan.com.br/ifdm/downloads/. Acesso em: 13 out. 2022.
https://www.firjan.com.br/ifdm/downloads...
), que inovaram ao ampliar as dimensões sob análise e ao adotar tipologias como forma de expressão, em vez de um ranking baseado em índice sintético produzido a partir da média de várias dimensões. Cada um desses indicadores ainda enfrenta limitações, como mostra o Quadro 1: um problema comum a todos é o tratamento menor dado ao tema das desigualdades e a quase ausência de indicadores dedicados à dimensão ambiental.
A referência mais importante e que busca equacionar esses limites enfrentados na terceira geração é o Relatório da Comissão sobre a Mensuração da Performance Econômica e do Progresso Social (STIGLITZ; SEN; FITOUSSI, 2012STIGLITZ, J.; SEN, A.; FITOUSSI, J. Relatório da Comissão sobre a Mensuração de Desempenho Econômico e Progresso Social. Curitiba: Editora SESI/PR, 2012.), coordenado por três dos mais destacados economistas contemporâneos, dois deles agraciados com o Nobel de Economia.
Na dimensão econômica, uma das principais críticas do relatório é a utilização do PIB ou da renda média como indicadores isolados, uma das formas mais empregadas para medir o desempenho de países e regiões, mas incapaz de fornecer um retrato fiel da situação enfrentada pela maior parte das pessoas, uma vez que as desigualdades podem se acentuar mesmo com o aumento da produtividade e da renda. O relatório também ressalta que medir estritamente a produção comercial em unidades monetárias (PIB) não é medir o bem-estar econômico. A produção comercial pode crescer enquanto as rendas decrescem, ou seja, enquanto decresce o bem-estar econômico. Mais eficaz seria medir a distribuição da renda ou renda mediana (riqueza mediana). Também é importante saber o que se passa na base da escala dessa distribuição, ou ainda no alto, e utilizar a perspectiva das famílias para isso.
A dimensão social ou do bem-estar deveria, segundo o relatório, ter maior peso que a dimensão econômica. Medir essa dimensão é tarefa complexa, devendo contemplar indicadores diferentes, separados em aspectos materiais (ou padrões de vida) e imateriais, sempre tomando em conta sua distribuição e não a performance média. As dimensões elementares seriam - além do consumo e da riqueza, tratados no eixo econômico - saúde, educação, atividades pessoais objetivas (entre elas o trabalho), participação na vida política e na governança, assim como dimensões subjetivas (por exemplo, laços e relações sociais), meio ambiente (abordado em eixo específico) e insegurança econômica e física.
Segundo o relatório, em relação ao eixo do desenvolvimento sustentável e meio ambiente, a principal pergunta que deve ser feita é se o padrão de desenvolvimento de determinado país ou região poderá manter para as próximas gerações, no mínimo, as condições ambientais de hoje. Isso sugere a importância de olhar para estoques e fluxos, como as taxas de desmatamento, e não apenas a cobertura de vegetação nativa atual. O texto aponta, então, a estratégia de medir o “consumo excessivo” dos recursos, juntamente com o conceito de poupança líquida ajustada, que define sustentabilidade em termos de capital físico, humano e ambiental. Outro indicador importante é a pegada ecológica, que avalia a taxa de pressão sobre a natureza.
A mais recente tentativa de mensuração de metas associadas ao desenvolvimento sustentável, expressa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda não trouxe grandes novidades em relação a esse panorama (HIRAI; COMIN, 2022HIRAI, T.; COMIN, F. Measuring the sustainable development goals: A poset analysis. Ecological Indicators, v. 145. Elsevier, 2022. ; FAVARETO, 2022FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. ).
Por fim, vale considerar também as contribuições das vertentes da justiça ambiental e justiça racial, apresentadas, entre outros, por autores como Marcelo Lopes de Souza (2019SOUZA, M. Ambientes e territórios: uma introdução à Ecologia Política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.) e Henri Acselrad (2010ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. Estudos Avançados, 24(68), p. 103-119, 2010.). Para eles, existe uma distribuição desigual dos ativos e passivos ambientais pelo território, com ativos concentrados em áreas com maior presença de classes economicamente mais ricas, enquanto os passivos - consequências ambientais negativas do desenvolvimento capitalista - recaem sobre populações vulneráveis (SOUZA, 2019SOUZA, M. Ambientes e territórios: uma introdução à Ecologia Política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.; ACSELRAD, 2010ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. Estudos Avançados, 24(68), p. 103-119, 2010.). Exemplo disso é a reincidência de deslizamentos, enchentes e alagamentos sobre favelas e áreas de risco ou a contaminação da água e do ar por indústrias, plantações e garimpos próximos a comunidades indígenas e quilombolas. Sem considerar essas questões, há riscos de se incorrer em avaliação “biocênctrica” ou “ecocêntrica” da dimensão ambiental (SOUZA, 2019SOUZA, M. Ambientes e territórios: uma introdução à Ecologia Política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.).
Destacando as questões mais importantes desses vários estudos, pode-se dizer que, para atingir ou medir o desenvolvimento de forma mais coerente com o estado da arte das pesquisas desse campo, é necessário considerar o provimento, para toda a população, de saúde, educação, trabalho, qualidade de vida e boas condições ambientais e de acesso à natureza, observando a distribuição desses elementos nas diversas camadas sociais, bem como garantir que o padrão de desenvolvimento não diminua a oferta de recursos naturais. Mais que produzir rankings ou índices sintéticos, é necessário identificar trajetórias nas quais o bom desempenho em algumas dessas dimensões não esteja comprometendo as bases de uma igual performance em outras.
3. Uma nova matriz de indicadores aplicada ao estado de São Paulo
Esta seção apresenta a construção de uma matriz de variáveis com base no balanço da bibliografia exposto na seção 2, aplicada à leitura do desempenho dos municípios do estado de São Paulo. Em seguida, os dados obtidos são confrontados com as leituras mais usuais, sumarizadas na seção 1. A base temporal é o ano de 2010, para a qual há mais indicadores disponíveis, como o Censo IBGE 2010 e o Índice Paulista de Responsabilidade Social 2010 (IPRS).
O trabalho parte de um dos principais instrumentos utilizados pelo poder público paulista para medir desenvolvimento e elaborar políticas públicas, o IPRS, mas insere nele duas novas dimensões, a ambiental e da desigualdade. Optou-se pelo IPRS, e não pelo Índice Firjan, pela especialização do primeiro em analisar o estado de São Paulo. Além disso, apesar de o Índice Firjan usar um indicador de desigualdade - o Índice de Gini de desigualdade de renda no trabalho formal -, este está embutido na dimensão econômica, não sendo possível manipular essa variável de forma desagregada ou independente. Para complementar, foram incorporadas na matriz a dimensão ambiental e a dimensão da desigualdade, esta última de modo transversal a todas outras dimensões (econômica, social e ambiental), ajustando as avaliações para que não ofusquem as disparidades internas ao universo populacional tomado como base para aquele indicador (Quadro 2).
A normalização de todos os indicadores se dá conforme a posição no ranking entre os 645 municípios do estado, resultando em um comparativo intrarregional que os classifica em três categorias de desempenho: “superior” (até a posição 215), “intermediário” (da posição 216 a 430) e “inferior” (da posição 431 a 645). Embora o ranqueamento seja uma forma de classificação que traz limites à análise, essa forma de organização dos dados é importante para cumprir o objetivo de averiguar se as áreas centrais possuem desempenhos superiores ou inferiores às demais áreas do estado.
Para o mapa síntese de cada dimensão, considerou-se como desempenho “superior” os municípios sem nenhum indicador inferior; como desempenho “intermediário”, os municípios com um indicador inferior; como desempenho “inferior”, os municípios com dois ou três indicadores inferiores. Ao final, foram combinadas as três dimensões para produção de mapas que revelam a heterogeneidade do desenvolvimento paulista. Para os mapas finais, há duas versões: a primeira discrimina em que dimensões os municípios tiveram desempenhos classificados como superiores; a segunda revela quantas dimensões consideradas superiores, intermediárias e inferiores cada município atinge. A seguir, serão explicados os indicadores utilizados e os ajustes realizados para configuração da cesta de indicadores.
Na dimensão econômica (Figura 2), o IPRS de 2010, apesar de contemplar variáveis de riqueza como valor adicionado fiscal per capita e remuneração média dos empregados com carteira assinada e do setor público, demanda um complemento que considere a distribuição e não as médias dessas riquezas, de forma a revelar as desigualdades, uma vez que não é raro coexistir, num mesmo município, rendas muito altas e muito baixas que distorcem o efeito dessa variável para a maioria da população. O indicador escolhido para essa função é o Índice de Gini de renda domiciliar per capita, obtido pelo Censo IBGE 2010. Vale mencionar que, quanto maior o Índice de Gini, maior a desigualdade de renda municipal.
Como mostra a Figura 3, que confronta o Índice de Gini de renda domiciliar per capita com o desempenho na dimensão “riqueza” do IPRS (que contempla as variáveis de valor adicionado e renda), não há correlação direta entre ambas as variáveis. Mais que isso, a linha de tendência aponta um aumento no Índice de Gini à medida que cresce o indicador de riqueza, tendência que pode ser vista na confrontação dos mapas da Figura 2. Isso não permite dizer que, quanto maior a riqueza de um município, maior sua desigualdade econômica, mas permite afirmar que o bom desempenho econômico não vem, necessariamente, acompanhado de boa distribuição das riquezas. O contraste dos mapas da Figura 2 demonstra que as áreas que concentram as riquezas correspondem, principalmente, à macrometrópole paulista e aos eixos das rodovias Anhanguera e Presidente Dutra, além do litoral norte do estado, todas elas áreas que concentram posições inferiores no Índice de Gini.
Gráfico de dispersão dos municípios segundo Riqueza municipal IPRS 2010 e Índice de Gini de renda domiciliar per capita 2010
Ainda na dimensão econômica, realizou-se um segundo ajuste. Como visto antes, não basta apenas observar a distribuição das riquezas, é preciso também averiguar se existem famílias em situação de vulnerabilidade, pois a desigualdade pode ser baixa, mas com prevalência da pobreza. Para isso, utilizou-se o percentual de famílias em estado de pobreza nos municípios, obtido pelo percentual de famílias cadastradas no Programa Bolsa Família em 2010, conforme dados do Ministério da Cidadania,1 1 Disponível em: https://aplicacoes.cidadania.gov.br/vis/data3/data-explorer.php. Acesso em: 5 dez. 2022. Também podem ser usadas em pesquisas posteriores os dados do Cadastro Único, uma vez que inclui as famílias na fila de espera para receber o benefício do Bolsa Família. sobre o número de domicílios permanentes particulares, obtido pelo Censo IBGE 2010. A dimensão econômica, portanto, busca destacar os municípios com boa produção e distribuição de riquezas e com baixa incidência de pobreza.
Na dimensão social (Figura 4), foram utilizados os indicadores IPRS, de longevidade e escolaridade, que já abordam questões de vulnerabilidade como mortalidade, em diversas faixas etárias, e o percentual de jovens e crianças que concluíram e frequentam a escola. No entanto, esses dados não captam a condição urbana da moradia das famílias nem a desigualdade racial no acesso a tal condição, o que foi contemplado pela adição de duas variáveis disponíveis a partir de dados do Censo IBGE 2010: (i) Percentual de domicílios particulares permanentes com características do entorno inadequadas ou semi-inadequadas sobre o total de domicílios particulares permanentes; (ii) Proporção da população declarada de raça preta, parda ou indígena residindo em ambiente com esgoto a céu aberto.
Sobre o primeiro indicador, como moradia inadequada, conforme definição do Censo IBGE 2010, entende-se o domicílio com abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou outra forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro destino. Como moradia semi-inadequada entende-se o domicílio com pelo menos um serviço inadequado, seja de coleta de esgoto e lixo, seja de abastecimento de água. Sobre o segundo indicador, primeiramente, foi calculada a proporção de pessoas declaradas de raça preta, parda ou indígena sobre população total (variável 1); depois, calculada a proporção dessas pessoas na população residindo em ambientes com esgoto a céu aberto (variável 2), para, em seguida, calcular o quanto a segunda variável é maior que a primeira. Dessa forma, foi possível apontar a injustiça racial na distribuição da infraestrutura urbana.
Antes de adentrar a análise ambiental, vale lembrar que o Censo IBGE 2010 traz inúmeras outras variáveis que podem revelar desigualdades também na educação e na saúde. Contudo, o IPRS já traz importantes indicadores de escolaridade e mortalidade. O Censo, portanto, compõe a matriz nos indicadores sociais de condição urbana e justiça racial, além de contribuir para a dimensão ambiental descrita a seguir, com indicadores de contaminação da terra e das águas.
Na dimensão ambiental (Figura 5), foram utilizadas variáveis capazes de revelar o grau de pressão exercida sobre o meio ambiente em cada município, trazendo indicadores de (i) contaminação das águas e da terra, composto por subindicadores de esgoto não tratado e uso de agrotóxicos; de (ii) poluição do ar, com o indicador de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE); e de (iii) desmatamento, composto pelos subindicadores de cobertura florestal e ritmo de desmatamento municipal.
Sobre a cobertura da rede de esgoto, optou-se pelos dados do Censo IBGE 2010, via número de pessoas atendidas pela rede geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica. A opção pelo número de pessoas e não pelos domicílios fornece um resultado mais próximo à quantidade absoluta de lançamento de efluentes não tratados nas águas e na terra, algo que a variação nas médias de pessoas por família iria distorcer, caso utilizado o indicador de domicílios. O uso do Censo e não do Indicador de Coleta e Tratabilidade de Esgoto do Município (ICTEM), mais comumente utilizado, se dá pelo fato de este último ser autodeclarado. Ademais, a opção pelo valor bruto de emissões e não pelo percentual de pessoas cobertas pela rede de esgoto, como no ICTEM, se dá pelo fato de que, independentemente de sua população, cabe ao próprio município garantir 100% de atendimento.
Em relação à quantidade de agrotóxico utilizada, adotou-se o método de estimativa de Pignati et al. (2017PIGNATI, W. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. Revista Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 22, n. 10, p. 3.281-3.293, out. 2017.),2 2 Estimativa dos autores de litros de agrotóxicos por hectare: Soja, 17,7; Milho, 7,4; Cana-de-açúcar, 4,8; Algodão, 28,6; Trigo, 10; Fumo, 60; Arroz, 10; Café, 10; Cítricos (somatório de laranja, limão e tangerina), 23; Feijão, 5; Banana, 10; Tomate, 20; Uva, 12; Girassol, 7,4; Mamão, 10; Melancia, 3; Abacaxi, 3; Manga, 3; Melão, 3. também utilizado por Carlini (2019CARLINI, E. Estudo preliminar sobre o impacto do uso de agrotóxicos na criação racional de abelhas no Estado de São Paulo. In: Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. São Paulo, 2019.), que estima a média de litros de agrotóxico consumido por hectare para cada tipo de cultura produzida na lavoura. Com essa estimativa em mãos, multiplicou-se o dado pela quantidade de hectares de cada tipo de lavoura, disponível nos dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), de 2010, obtido pelo sistema SIDRA/IBGE. Esse cruzamento se fundamenta em duas estimativas. Sobre os agrotóxicos consumidos, as médias estão baseadas nos receituários agronômicos do banco de dados do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, no qual consta o uso de agrotóxicos por município, o volume utilizado, a dimensão da área tratada e o tipo de praga a ser combatida (PIGNATI et al., 2017PIGNATI, W. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. Revista Ciência e Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, v. 22, n. 10, p. 3.281-3.293, out. 2017., p. 3.283). Isso significa que o valor tem como base as recomendações do manual, sendo possível que os volumes de agrotóxico aplicados sejam ainda maiores. Sobre as áreas que ocupam as culturas em cada município, vale observar que as estimativas da PAM são feitas por agentes que aplicam questionários a entidades públicas e privadas, junto a produtores, a técnicos e a órgãos ligados direta ou indiretamente aos setores da produção, estando sujeitas, portanto, a distorções inerentes a informações de caráter declaratório.
As duas variáveis acima foram tomadas como subindicadores que, agrupados, formam o indicador de contaminação da terra e das águas. Foram considerados nesse indicador como desempenho “superior” os municípios sem nenhum resultado inferior nos subindicadores; como “intermediário”, os municípios com um subindicador inferior; como “inferior”, os municípios com ambos os subindicadores inferiores.
Com relação a outras formas de medir a contaminação e a poluição das águas, são relevantes os dados da Agência Nacional de Águas (ANA), referentes ao Índice de Qualidade das Águas (IQA). No entanto, tais dados não são disponíveis na escala municipal, dada a natureza fluida do comportamento hídrico. Na realidade, a escala supramunicipal dos dados ambientais é um problema recorrente nos estudos que buscam avaliar o desempenho municipal. Seria importante, em modelagens futuras, contemplar variáveis que abranjam recortes intermunicipais para enriquecimento da análise.
Sobre a emissão de GEE na atmosfera, para efeito da avaliação da poluição do ar, adotaram-se os dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), levando em conta a soma das emissões em todos os setores (agropecuária, energia, mudança de uso da terra e florestas, processos industriais e resíduos). Essas emissões já consideram as reduções (ou sequestros de GEE) de cada município, o que traz para os resultados as trajetórias municipais, que podem ser positivas, caso haja maior emissão que sequestro, ou negativas, caso contrário.
Com relação ao indicador de desmatamento, tomou-se como medida dois subindicadores. O primeiro é a cobertura florestal municipal, que revela o percentual que determinado município ainda possuía de florestas em 2010 com relação à sua área territorial, obtido a partir dos dados de cobertura da terra disponibilizados pelo site Mapbiomas. O segundo é o tempo restante para o suposto esgotamento dessa cobertura florestal municipal, caso se mantenha o ritmo de perda observado entre 1990 e 2010. Essa métrica foi definida porque um município com vasta cobertura florestal, mas com ritmo acelerado de desmatamento, não pode ser considerado como um município com bom desempenho ambiental. Em outras palavras, a utilização pura e simples da cobertura florestal ou da taxa de desmatamento, de forma isolada, não responde se o padrão de desenvolvimento de um determinado município poderá manter para as próximas gerações, no mínimo, as condições ambientais de hoje - no caso, do ano de 2010, critério enfatizado no relatório de Sen, Stiglitz e Fitoussi (2012STIGLITZ, J.; SEN, A.; FITOUSSI, J. Relatório da Comissão sobre a Mensuração de Desempenho Econômico e Progresso Social. Curitiba: Editora SESI/PR, 2012.).
Para a definição do segundo subindicador, primeiramente, foi obtida a taxa de desmatamento anual dos últimos 20 anos, pela diferença entre a cobertura florestal de 1990 e 2010, dividida por 20. Em seguida, dividiu-se a cobertura florestal de 2010 pela taxa de desmatamento anual, a fim de saber a quantidade de anos restantes para que determinado município esgotasse a cobertura florestal remanescente em 2010. No caso de municípios com taxas negativas de desmatamento, ou seja, que registraram aumento na cobertura florestal no período, o resultado no indicador é a quantidade de anos para que ele dobre sua cobertura vegetal. Por exemplo, um município com 100 hectares de cobertura florestal em 2010 e que apresentou taxa de reflorestamento de 10 hectares ao ano, demorará 10 anos para dobrar a cobertura atual. Já um município com a mesma cobertura, mas com um reflorestamento anual de 5 hectares, demorará 20 anos para dobrar sua cobertura, resultando em um desempenho pior do que o primeiro. No caso de municípios com essa mesma cobertura e taxas de desmatamento de 10 hectares ao ano, restarão 10 anos para seu esgotamento.
Para combinar ambos os subindicadores, foram considerados como desempenho “superior” os municípios com dois subindicadores superiores ou um superior e um intermediário; como “intermediário”, os municípios com dois subindicadores intermediários ou um intermediário e um inferior; como “inferior”, os municípios com ambos os subindicadores inferiores.
A leitura cruzada das dimensões mencionadas acima pode ser vista nas Figura 6 e 7, nas quais, além do desempenho nas múltiplas dimensões, insere-se a camada do PIB municipal de 2010, fornecido pelo IBGE (até a posição 215 dentre os municípios do estado, considerados “superiores” nessa variável) - camada que representa, de forma sintética, as áreas centrais abordadas majoritariamente pela bibliografia sobre desenvolvimento regional paulista. O resultado desse contraste aponta que não há correlação entre as sub-regiões com maior PIB, nem dos municípios por onde os grandes eixos rodoviários passam, com bons desempenhos. Destaca-se a sub-região do noroeste paulista como a que concentra grande número de municípios adjacentes com desempenhos melhores em múltiplas dimensões, simultaneamente. Por outro lado, em outro extremo de desempenho, vale ressaltar a precariedade observada em toda a faixa litorânea (faixa de aproximadamente 100 km de largura a partir do oceano), na porção sul do estado, na região do Pontal do Paranapanema, na RMSP e na própria dorsal paulista.
Sustentabilidade do desenvolvimento no estado de São Paulo 2010, com discriminação das dimensões e desempenho
Sustentabilidade do desenvolvimento no estado de São Paulo 2010, com quantidade de dimensões e desempenho
Considerações finais
Como conclusão, e sob o ângulo empírico, este artigo evidencia que há novas dinâmicas de desenvolvimento em curso no estado de São Paulo: nelas, um traço marcante - coerente com o que diz a nova literatura sobre desenvolvimento - é que as melhores configurações territoriais não se encontram nas sub-regiões economicamente mais dinâmicas, mais bem-dotadas de infraestrutura ou com maior concentração populacional. E sob o ângulo teórico, deriva da constatação anterior a crítica às abordagens clássicas e correntes sobre o desenvolvimento regional que seguem apoiando-se exclusiva ou predominantemente em indicadores associados à dimensão econômica ou à concentração de ativos físicos dos municípios e regiões.
O passo seguinte a essa constatação e a essa crítica deve ser a busca por uma explicação teórica para a performance diferenciada desses territórios inusitados. Esse passo não pôde ser explorado neste artigo, mas é possível avançar a hipótese que vem sendo conduzida por uma nova geração de estudos e pesquisas sobre desenvolvimento e que tem a ver com a trajetória de longo prazo desses locais. Segundo esses autores, a explicação estaria na distribuição mais desconcentrada, ao longo do tempo, dos ativos necessários para que setores mais amplos dessas sociedades pudessem participar da vida social e econômica dos territórios (terra, educação, poder); na conversão desses ativos em formas diversificadas de organização das estruturas produtivas locais; e na consequente constituição de coalizões amplas e plurais de interesses (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Campus, 2012.; BERDEGUÉ; ESCOBAL e BEBBINGTON, 2015BERDEGUÉ, J.; ESCOBAL, J.; BEBBINGTON, A. “Explaining spatial diversity in latinamerican rural development: structures, institutions and coalitions”. World Development. Elsevier, v. 73, p. 129-137, 2015.; FAVARETO, 2022FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. ). Tudo isso resulta em estilos de desenvolvimento que evitam a captura dos ganhos econômicos por poucos segmentos e favorecem dinâmicas territoriais mais inclusivas e próximas da ideia de sustentabilidade (FAVARETO, 2022FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022. ). A adaptação dessa hipótese geral para o exame das áreas selecionadas a partir dos indicadores aqui apresentados e seu teste empírico é o desdobramento em curso do trabalho apresentado neste artigo.3 3 Trata-se de pesquisa de Doutorado do primeiro dos autores, em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC (PPG-PGT-UFABC), sob orientação do segundo dos autores deste artigo.
Referências
- ABDAL, A. Desenvolvimento e espaço: da hierarquia da desconcentração industrial da região metropolitana de São Paulo à formação da macrometrópole paulista. 2008. 136 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008.
- ACEMOGLU, D.; ROBINSON, J. Por que as nações fracassam: as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
- ACSELRAD, H. Ambientalização das lutas sociais: o caso do movimento por justiça ambiental. Estudos Avançados, 24(68), p. 103-119, 2010.
- AZZONI, C. Indústria e reversão da polarização no Brasil São Paulo: IPE-USP, 1986.
- BAGNASCO, A. Tre Italie: la problematica territoriale dello sviluppo italiano. Bologna: Società editrice il Mulino, 1977.
- BELLENTANI, N. A territorialização dos monopólios no setor sucroenergético 2015. 176 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.
- BERDEGUÉ, J.; ESCOBAL, J.; BEBBINGTON, A. “Explaining spatial diversity in latinamerican rural development: structures, institutions and coalitions”. World Development Elsevier, v. 73, p. 129-137, 2015.
- BRUSCO, S. Trust, social capital and local development - some lessons from the experience of the italian districts. Networks of enterprises and local developement Paris: OCDE, 1996.
- CARLINI, E. Estudo preliminar sobre o impacto do uso de agrotóxicos na criação racional de abelhas no Estado de São Paulo. In: Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos. São Paulo, 2019.
- CANO, W. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil: 1930-1970 e 1970-1995. Campinas: IE-Unicamp, 1998.
- CEPAL. Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina Santiago de Chile: CEPAL, 2001.
- CONSTANZA, R. et al. Modelling and measuring sustainable wellbeing in connection with the UN Sustainable Development Goals. Ecological Economics, v. 130, p. 350-355, oct. 2016.
- CUBAS, T. São Paulo agrário: representações da disputa territorial entre camponeses e ruralistas. 2012. 271 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2012.
- DASGUPTA, P. The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review. London: HM Treasury. 2021.
- DALY, H.; FARLEY, J. Economia ecológica: princípios e aplicações. Lisboa: Fundação Jean Piaget. 2004.
- DINIZ, C. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração, nem contínua polarização. Revista Nova Economia, Belo Horizonte, v. 3, n. 1. 1993.
- EGLER, C.; BESSA, V.; GONÇALVES, A. Dinâmica territorial e seus rebatimentos na organização regional do estado de São Paulo. Confins, v. 19, 2013. Disponível em: https://journals.openedition.org/confins/8602 Acesso em: 5 jan. 2021.
» https://journals.openedition.org/confins/8602 - FAVARETO, A. O desenvolvimento regional em perspectiva: uma abordagem territorial baseada na tríade atores, ativos e instituições. In: SILVEIRA, R.; KARNOPP, E. (org.). Atores, Ativos e Instituições: o desenvolvimento regional em perspectiva. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022.
- FUNDAÇÃO SEADE. Índice Paulista de Responsabilidade Social-IPRS 2022. Disponível em: http://www.iprs.seade.gov.br/ Acesso em: 01 dez 2022.
» http://www.iprs.seade.gov.br/ - GALVANESE, C. S. Paradigmas do planejamento territorial em debate: contribuições críticas a um campo científico emergente. Santo André: Editora da UFABC, 2021.
- HIRAI, T.; COMIN, F. Measuring the sustainable development goals: A poset analysis. Ecological Indicators, v. 145. Elsevier, 2022.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produção Agrícola Municipal (PAM) 2010 Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Produto Interno Bruto dos Municípios 2010 Rio de Janeiro: IBGE, 2012.
- IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2010 Rio de Janeiro: IBGE , 2012.
- FIRJAN. Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2022. Disponível em: https://www.firjan.com.br/ifdm/downloads/. Acesso em: 13 out. 2022.
» https://www.firjan.com.br/ifdm/downloads - MAILLAT, D. Millieux innovateurs et dynamique territoriale. In: RALLET, A.; TORRE, A. Économie industrielle et économie spatiale Paris: Economica, 1995.
- NORTH, D.; WALLIS, J.; WEINGAST, B. Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded human history. New York: Cambridge University Press, 2009.
- PACHECO, C. Fragmentação da nação Campinas: Instituto de Economia da Unicamp, 1998.
- PECQUER, B. Le développement local: pour une économie des territories. Paris: Syros, 2000.
- PIGNATI, W. et al. Distribuição espacial do uso de agrotóxicos no Brasil: uma ferramenta para a vigilância em saúde. Revista Ciência e Saúde Coletiva Rio de Janeiro, v. 22, n. 10, p. 3.281-3.293, out. 2017.
- PIKETTY, T. O capital no século XXI São Paulo: Intrínseca Ed., 2015.
- ONU. Organização das Nações Unidas; PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do Desenvolvimento Humano: Cambiar las pautas actuales de consumo para el desarrollo humano del futuro. PNUD/ONU, 1998.
- PUTNAM, R. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1996.
- SACHS, I. Rumo à Ecossocioeconomia: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez Editora, 2007
- SCHERER, C. E. M.; DO AMARAL, P. V. M. O espaço e o lugar das cidades médias na rede urbana brasileira. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 22, 2019. Doi: 10.22296/2317-1529.RBEUR.202001.
» https://doi.org/10.22296/2317-1529.RBEUR.202001 - SEN, A. Desenvolvimento como liberdade São Paulo: Cia. das Letras, 1998.
- SOUZA, M. Ambientes e territórios: uma introdução à Ecologia Política. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2019.
- SPÓSITO, E. Rede urbana e eixos de desenvolvimento: dinâmica territorial e localização da indústria e do emprego no estado de São Paulo. In: SPOSITO, E. (Org.). O novo mapa da indústria no início do século XXI: diferentes paradigmas para a leitura das dinâmicas territoriais do estado de São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2015.
- SPÓSITO, M. Novas redes urbanas: cidades médias e pequenas no processo de globalização. Revista de Geografia, São Paulo, v. 35, p. 51-62, 2010.
- STIGLITZ, J. The Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our Future. New York: W. W. Northon, 2012.
- STIGLITZ, J.; SEN, A.; FITOUSSI, J. Relatório da Comissão sobre a Mensuração de Desempenho Econômico e Progresso Social Curitiba: Editora SESI/PR, 2012.
- TAVARES, J. Planejamento Regional no Estado de São Paulo: Polos, Eixos e a Região dos Vetores Produtivos. São Paulo: Annablume, 2018.
- THÉRY, H. Chaves para a leitura do território paulista. Confins, v. 1, 2007. Disponível em https://journals.openedition.org/confins/25?lang=pt Acesso em: 19 nov. 2022.
» https://journals.openedition.org/confins/25?lang=pt - VEIGA, J. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.
-
1
Disponível em: https://aplicacoes.cidadania.gov.br/vis/data3/data-explorer.php. Acesso em: 5 dez. 2022. Também podem ser usadas em pesquisas posteriores os dados do Cadastro Único, uma vez que inclui as famílias na fila de espera para receber o benefício do Bolsa Família.
-
2
Estimativa dos autores de litros de agrotóxicos por hectare: Soja, 17,7; Milho, 7,4; Cana-de-açúcar, 4,8; Algodão, 28,6; Trigo, 10; Fumo, 60; Arroz, 10; Café, 10; Cítricos (somatório de laranja, limão e tangerina), 23; Feijão, 5; Banana, 10; Tomate, 20; Uva, 12; Girassol, 7,4; Mamão, 10; Melancia, 3; Abacaxi, 3; Manga, 3; Melão, 3.
-
3
Trata-se de pesquisa de Doutorado do primeiro dos autores, em andamento pelo Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC (PPG-PGT-UFABC), sob orientação do segundo dos autores deste artigo.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
11 Mar 2024 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
27 Abr 2023 -
Aceito
13 Set 2023
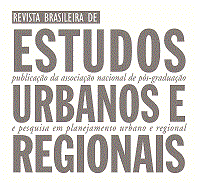








 Fonte: Elaborado pelos autores, segundo dados do PIB dos municípios do IBGE 2010.
Fonte: Elaborado pelos autores, segundo dados do PIB dos municípios do IBGE 2010.
 Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados do IPRS (Riqueza), do IBGE (Índice de GINI) e do Ministério da Cidadania (Bolsa Família).
Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados do IPRS (Riqueza), do IBGE (Índice de GINI) e do Ministério da Cidadania (Bolsa Família).
 Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados IPRS 2010 e do Censo IBGE 2010.
Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados IPRS 2010 e do Censo IBGE 2010.
 Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados do IPRS (Longevidade e Escolaridade) e do IBGE (Condição do entorno urbano e justiça racial).
Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados do IPRS (Longevidade e Escolaridade) e do IBGE (Condição do entorno urbano e justiça racial).
 Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados do IBGE (Esgoto não tratado - Censo IBGE; agrotóxicos - Produção Agrícola Municipal do IBGE e estimativa de uso de agrotóxicos elaborada por
Fonte: Elaborado pelos autores, de acordo com dados do IBGE (Esgoto não tratado - Censo IBGE; agrotóxicos - Produção Agrícola Municipal do IBGE e estimativa de uso de agrotóxicos elaborada por  Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.
 Fonte: Elaborado pelos autores.
Fonte: Elaborado pelos autores.