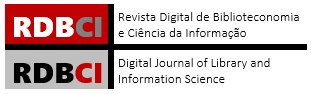RESUMO
Introdução:
Destaca como as relações de gênero se inserem na lógica do poder e se apoiam na produção de difusão de discursos para penetrar no cotidiano das pessoas e produzir indivíduos dóceis.
Objetivo:
Apresentar discussão teórica acerca de como as mudanças curriculares dos cursos de Biblioteconomia no Brasil - ora mais humanistas, ora mais técnicos - influenciaram no processo de feminização da profissão e de inserção da profissão no rol de profissões notadamente marcadas pela divisão sexual do trabalho.
Método:
revisão bibliográfica acerca do papel dos currículos enquanto disseminadores de discursos e de relações de poder e na generificação das profissões; percurso histórico dos currículos de Biblioteconomia no Brasil e sua inserção de discursos generificados na profissão bibliotecária.
Resultados:
Buscou-se evidenciar neste trabalho como o currículo foi utilizado como dispositivo para difusão de certos discursos em relação à profissão bibliotecária e como este colaborou para a feminização desta.
Conclusão:
Propõe-se que a profissão bibliotecária se tornou feminilizada ao longo do tempo e as mudanças de enfoque curricular colaboraram para tal movimento, onde a adoção de currículos mais técnicos colaborou na inserção da profissão no rol de profissões notadamente marcadas pela divisão sexual do trabalho. Aponta-se, finalmente, que, a partir dos anos 1980 uma tímida aproximação dos homens com a área também levou a uma mudança de enfoque curricular e no discurso em torno da profissão.
PALAVRAS-CHAVE:
Profissão bibliotecária; Estudos de gênero; Relações de gênero; Divisão sexual do trabalho; Currículo.
ABSTRACT
Introduction:
It highlights how gender relations are inserted in the logic of power and are supported by the production of diffusion of discourses to penetrate people's daily lives and produce docile individuals.
Objective:
To present a theoretical discussion about how the curricular changes of Librarianship courses in Brazil - sometimes more humanistic, sometimes more technical - influenced the process of feminization of the profession and the insertion of the profession in the list of professions notably marked by the sexual division of labor.
Method:
bibliographic review about the role of curricula as disseminators of discourses and power relations and in the gendering of professions; historical course of Librarianship curricula in Brazil and its insertion of gendered discourses in the librarian profession.
Results:
This work sought to show how the curriculum was used as a device for the dissemination of certain discourses in relation to the librarian profession and how it contributed to its feminization.
Conclusion:
It is proposed that the librarian profession has become feminized over time and changes in curricular focus have contributed to this movement, where the adoption of more technical curricula has contributed to the insertion of the profession in the list of professions notably marked by the sexual division of labor. Finally, it is pointed out that, from the 1980s, a timid approach of men to the area also led to a change in the curricular focus and in the discourse around the profession.
KEYWORDS:
Librarian profession; Gender studies; Gender relations; Sexual division of labor; Curriculum.
1 INTRODUÇÃO
As relações de gênero se inserem na lógica das relações de poder, onde são desiguais as oportunidades e os comportamentos aceitos e esperados da sociedade por parte de determinado gênero. É através do exercício de um poder que a sociedade confere ao homem sobre a mulher ou da afirmação da supremacia do masculino sobre o feminino, que muitas das desigualdades são criadas. As relações de gênero e de poder contidas nelas, se espalham pelos mais diferentes campos da vida social, desde as escolhas pessoais e profissionais, até os lugares que homens e mulheres ocupam na sociedade.
Os gêneros, assim, são produzidos nas relações de poder. Poder este que cria corpos dóceis, induz comportamentos e molda ações e percepções dos indivíduos. O poder, desta forma, não apenas censura e proíbe, mas também produz e incita (MACHADO, 2007MACHADO, Roberto. Introdução. In: FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto (org). Microfísica do poder. 23 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 295 p.). É no interior das redes e das relações de poder que são instituídas e nomeadas as diferenças entre homens e mulheres, que não são criadas somente através dos mecanismos de censura e repressão, mas através de relações e práticas sociais que “instituem gestos, modos de ser estar no mundo, formas de falar e agir, condutas e posturas apropriadas (e usualmente, diversas). Os gêneros se produzem, portanto, nas e pelas relações de poder” (LOURO, 2014LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 184 p., p.45; grifo da autora).
Cabe considerar que entende-se por poder, na concepção foucaultiana que será adotada neste artigo, um conjunto particular de relações que, sem descender de uma superioridade, é capaz de produzir assimetrias; que, sendo exercido permanentemente, age também de baixo para cima na sociedade sustentando as instâncias de autoridade ao invés de agir somente de cima para baixo e meramente para submeter as camadas inferiores; e que, ao invés de restringir-se ao abate e ao confisco como é proposto em concepções mais clássicas, cria situações em que se incentiva a produção e não deixa aos indivíduos escolhas além de produzir. Ele não é algo que pode ser partilhado, tomado ou adquirido, sendo exercido a partir de inúmeros pontos nas interações (FOUCAULT, 2003FOUCAULT, Michel. Poder e saber. In: FOUCAULT, Michel; MOTTA, Manoel Barros da Motta (org.). Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2003. p. 223-240. (Ditos & Escritos, v. 4).; 2013FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, volume I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2013.171p.).
Através da utilização e controle de certos discursos, ele é utilizado com objetivos determinados, se inserindo nos corpos dos indivíduos, moldando-os, tendo seus efeitos presentes nas identidades dos sujeitos. Para tal, determinados espaços atuam como difusores de discursos que visam atingir os corpos e torná-los dóceis, influenciando seus gestos, atitudes e aprendizagem. Dentre esses espaços, a escola e os ambientes de ensino podem ser considerados como um dos primeiros locais que atuarão na disciplinarização dos corpos. Através da difusão de certos discursos que serão incorporados pelas/os alunas/os, o espaço educacional funciona como transmissor de um repertório de modos e de experiências objetivas do mundo, além das experiências que as pessoas têm de si mesmas e dos outros como sujeitos, A Educação atua, desta forma, como elemento que irá atuar na formação das subjetividades dos indivíduos (LARROSA, 1994LARROSA, Jorge. Tecnologias do eu e educação. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 35-86.).
Mas a (con)formação dos indivíduos não para ao fim da escola e as instituições universitárias também são atravessadas por relações de poder e atuam como instrumentos de difusão de discursos. Os currículos universitários, assim como os currículos escolares, também são influenciados pelas mais diferentes modalidades discursivas, advindas de setores como mercado de trabalho, economia, educação, pela disputa entre setores políticos, dentre outros.
A partir do século XIX, as universidades passaram a ser locais de legitimação dos saberes e das disciplinas, se ligando aos procedimentos de produção e difusão de regimes de verdade. Os discursos e os saberes tiveram que ser submetidos a regras internas de delimitação do falso e do verdadeiro e, ao mesmo tempo, definir critérios de cientificidade. Segundo Julia Varela (1994)VARELA, Julia. O estatuto do saber pedagógico. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 87-96.1 1 Optou-se por se apresentar sempre o primeiro nome de um/a autor/a quando este/a for citado/a de forma indireta pela primeira vez, destacando e dando visibilidade para autoras e autores que serviram de embasamento bibliográfico para a construção deste trabalho. , “cada saber devia se constituir em disciplina dentro de um campo global (o da ciência), um campo que se enfrentava com o problema da divisão dos saberes, de sua comunicação, classificação e hierarquização” (p.91). Neste contexto, os saberes construídos a margem das instituições validadoras, encontraram muitas vezes dificuldades na nova disposição das ciências.
Tais regimes de verdade se entrelaçam às relações de saber e poder, uma vez que segundo Michel Foucault (2003)FOUCAULT, Michel. Poder e saber. In: FOUCAULT, Michel; MOTTA, Manoel Barros da Motta (org.). Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2003. p. 223-240. (Ditos & Escritos, v. 4)., em nossa sociedade, produz-se verdade a cada instante e que tal produção não pode ser dissociada do poder e dos seus mecanismos. Estes mecanismos nos submetem, em certas épocas, a regras de verdade e a discursos validados como verdadeiros. A economia política da verdade faz com que ela seja centrada na forma do discurso científico e nas instituições que os produzem, se tornando objeto de uma gigantesca difusão e consumo, circulando nos aparelhos de educação e de informação, além de ser produzida e transmitida sob o controle de alguns aparelhos políticos ou econômicos, como a universidade, o exército e os meios de comunicação. Por tal valor, ela se torna objeto de debate político e de confronto social e para Foucault (2007)FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto (Org). Microfísica do poder. 23 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 1-14 p., cada sociedade tem seu regime de verdade2 2 Em estudos posteriores, sobretudo os realizados na década de 1980, Foucault fez uma revisão do seu conceito de regime de verdade, afastando-o da noção de saber-poder e atrelando-o a formação do sujeito e como este é levado a manifestar a verdade. Neste trabalho, utilizar-se-á o conceito de regime de verdade atrelado a questão do saber-poder e dos discursos, por acreditarmos que ele se adequa aos objetivos. , definindo os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiro, bem como
[...] os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (p. 12)
É a partir da definição de seus currículos que os estabelecimentos de ensino difundem os discursos e, consequentemente, colaboram para a manutenção (e em muitos casos para a mudança e para a subversão) das relações de poder. Neste sentido, os currículos podem ser considerados dispositivos que instauram regimes de verdade e também instrumentos de generificação, haja vista que atuam também na docilização e (con)formação dos corpos em torno de uma matriz masculina, heterossexual e branca. Diante disso, através da realização de uma revisão bibliográfica e discussão acerca do papel dos currículos enquanto disseminadores de discursos e de relações de poder e na generificação das profissões, este artigo visa refletir de quais formas os currículos dos cursos de Biblioteconomia colaboraram para a feminização da profissão. Para tal, reflete-se acerca de como o currículo se liga às relações de poder e de gênero; como a profissão bibliotecária se situa historicamente como uma profissão marcada pela divisão sexual do trabalho e como os currículos dos cursos de Biblioteconomia podem ter colaborado para isso.
2 OS CURRÍCULOS UNIVERSITÁRIOS E A GENERIFICAÇÃO DAS PROFISSÕES
Os currículos podem ser apontados como dispositivos que instauram regimes de verdade3
3
Cabe destacar que a verdade é entendida aqui como “um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados” e que “está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da verdade” (FOUCAULT, 2007, p.14)
dentro da universidade, onde aceitam e fazem funcionar certos discursos como verdadeiros em detrimento de outros. Neste sentido, segundo Marlucy Paraíso (2016)PARAÍSO, Marlucy Alves. Currículo e relações de gênero: entre o que se ensina e o que se pode aprender. Linhas. Florianópolis, v. 17, n. 33, p. 206-237, jan./abr. 2016. Disponível em: http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723817332016206/pdf_102. Acesso em: 13 dez. 2021.
http://www.revistas.udesc.br/index.php/l...
, o currículo não só transmite conhecimentos, habilidades, conceitos e conteúdos, mas também diferencia corpos, práticas, governa condutas e hierarquiza, normaliza e produz divisões. Thomas Popkewitz (1994)POPKEWITZ, Thomas S. História do currículo, regulação social e poder. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 173-210. afirma que o currículo faz com que certas atitudes sejam incorporadas pelos sujeitos desde a mais tenra idade, uma vez que a organização do conhecimento escolar pode ser vista como uma forma de regulação social e “corporifica formas particulares de agir, sentir, falar e ‘ver’ o mundo e o ‘eu’” (POPKEWITZ, 1994POPKEWITZ, Thomas S. História do currículo, regulação social e poder. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 173-210., p.174).
O currículo faz com que certos efeitos do poder circulem no corpo social de forma contínua, ininterrupta, adaptada e individualizada. Ele irá produzir e reproduzir atitudes, comportamentos e formas de subjetivação que irão colaborar para manutenção ou desconstrução das relações de poder. Ao selecionar o que deve ou não ser aprendido ou o que é ou não válido como conhecimento ou verdade, os currículos carregam consigo mecanismos de poder e controle (OLIVEIRA, 2016OLIVEIRA, Jane Cordeiro. Conhecimento, currículo e poder: um diálogo com Michel Foucault. Revista Espaço Pedagógico, v. 23, n. 2, 21, nov. 2016.) e vão atuar com procedimentos de exclusão de discursos, interditando aquilo que não deve ser dito, separando e rejeitando o que deve ser aprendido, dizendo o que é verdadeiro e falso. Os currículos podem ser considerados assim, como aparatos tecnológicos que visam produzir determinados sujeitos e onde o que se deve ensinar é precedido de uma pretensão de sujeito por aqueles que organizam os currículos (OLIVEIRA, NEIRA, 2019OLIVEIRA, Glaurea Nádia Borges de; NEIRA, Marcos Garcia. Contribuições foucaultianas para o debate curricular da Educação Física. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 35, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/edur/v35/1982-6621-edur-35-e198117.pdf. Acesso em: 13 dez. 2021.
https://www.scielo.br/pdf/edur/v35/1982-...
), fazendo com que o aparato curricular forme um território de constantes disputas.
A partir dos anos 1920, o currículo se tornou objeto de estudos que foram influenciados pela massificação da escolarização, sobretudo a partir da industrialização, onde se iniciou um processo de racionalização de resultados educacionais. Neste sentido, as primeiras teorias curriculares possuíam como centralidade a questão técnica, sendo uma reação ao currículo clássico e humanista vigente. Estes primeiros estudiosos da questão curricular acreditavam que o sistema educacional deveria ser tão eficiente como qualquer empresa econômica (SILVA, 2005SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução as teorias do currículo. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 154 p.).
Os primeiros estudos a respeito da temática curricular sofreram a influência das matérias de prova e as juntas examinadoras das universidades, fazendo com que a mentalidade e o interesse dos alunos passassem a ser critérios de diferenciação. Durante o século XIX, os currículos clássicos eram marcados claramente pelo objetivo de diferenciação entre as classes sociais. A escolarização até os 18 e 19 anos era destinada aos filhos das famílias de boa renda, enquanto a escolarização até os 16 anos era destinada aos filhos da classe mercantil. O currículo possuía, assim, o poder de determinar e aplicar a diferenciação, o que “conferiu ao currículo uma posição definitiva na epistemologia da educação” (GOODSON, 2008GOODSON, Ivor. Etimologias, epistemologias e o emergir do currículo. In: GOODSON, Ivor. Currículo: teoria e história. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 29-43., p. 35).
A visão de que o currículo possui influência direta na manutenção e produção das desigualdades econômicas irá ganhar corpo a partir dos anos 1960, com o desenvolvimento das teorias críticas curriculares. Tais teorias buscam examinar, de forma geral, como um sistema de poder desigual em uma sociedade se mantém, através da transmissão da cultura por parte das instituições, como as escolas. Os teóricos alinhados a estas perspectivas críticas, acreditam que o campo do currículo participa ativamente do controle social, uma vez que este é um dos instrumentos para diferenciação entre os alunos, onde diferentes tipos de aluno receberão diferentes “tipos” de conhecimento. As salas de aula, desta forma, operam como um microcosmo da sociedade, onde há uma distribuição injusta de capital cultural na sociedade (APPLE, 2006APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288 p.).
Neste sentido, Michael Apple (2006)APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288 p. argumenta que as noções de ciência e indivíduo são categorias ideológicas e econômicas, que são essenciais para a produção de agentes que preencham determinados papéis econômicos existentes e que aceitam a esses papéis sem muitos questionamentos. Criticando a tecnicização da vida, o autor destaca que os estabelecimentos de ensino estão menos preocupados com a distribuição de habilidades do que com a distribuição de normas e disposições que encaixem os indivíduos na sociedade hierárquica, onde o conhecimento técnico não ajuda a reduzir as desigualdades, mas a alimentá-las. Desta forma, o campo do currículo, mais especialmente do que em outras áreas educacionais, tem sido dominado por uma perspectiva que poderia ser chamada de “tecnológica”, pelo fato de que o maior interesse que orienta seu trabalho envolve encurtar o melhor conjunto de meios para atingir fins educacionais previamente escolhidos (APPLE, 2006APPLE, Michael W. Ideologia e currículo. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288 p., p.82)
O currículo pode ser visto, assim, dentro de uma visão ideológica, como transmissor de saberes que servem para reprodução das desigualdades de classe. Após os anos 1960, os trabalhos de autores como Foucault, Deleuze, Derrida, dentre outros, influenciaram os estudos curriculares e fizeram com que estes se voltassem à compreensão do currículo como um artefato que serve para a difusão de discursos e de regimes de verdade, fornecendo modos e maneiras de se ver o mundo e de lhe dar sentido. Tais estudos denominados pós-estruturalistas, se caracterizam, de modo geral, por uma crítica a modernidade; a um questionamento ao conhecimento, seus efeitos de verdade e jogo de poder; entendimento do sujeito como um ser histórico, construído por verdades, saberes e poderes (CORAZZA, 2000CORAZZA, S. M. O que faz gaguejar a linguagem da escola. In: ENDIPE. (org.). Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender. Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p. 89-103.).
Nesta concepção, os conhecimentos incluídos nos currículos não são neutros, sendo atravessados também pelas matrizes de gênero, raça e classe social que hierarquizam os saberes. O gênero, entendido aqui como um dos elementos das relações de poder e como uma prática discursiva que organiza os mais diversos campos da sociedade, também atravessa e dimensiona as práticas curriculares, fazendo com que este assuma, segundo Maria Cláudia Dal’Igna, Carin Klein e Dagmar Meyer (2016DAL’IGNA, Maria Cláudia; KLEIN, Carin, MEYER, Dagmar Estermann. Generificação das práticas curriculares: uma abordagem feminista pós-estruturalista. Currículo sem Fronteiras, v. 16, n. 3, p. 468-487, set./dez. 2016.), além da matriz masculina, a da heterossexualidade como padrão.
O currículo, conforme bem observa Ederson Cruz (2015)CRUZ, Ederson da. Gênero e currículo: problematizando essa relação nos cursos de formação inicial de docentes. 2015.(Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo, 2015. é um local de subjetivação e individualização, sendo um centro de acontecimentos, de disputa de diferentes identidades, “no qual se produzem e reproduzem as marcas e diferenças de gênero, entre outras” (p. 26). Tais produções e reproduções também vão ser notadas dentro das universidades na seleção, classificação e ordenação dos conhecimentos transmitidos para o exercício de determinada profissão e nas reflexões acerca do gênero dentro dos currículos universitários e no mercado de trabalho, relações estas que irão colaborar na criação de identidades profissionais e estereótipos ligados às profissões.
As universidades adquiriram papel fundamental, sobretudo em países como o Brasil, de produtoras e difusoras da ciência. Ora, se as instituições universitárias estão ligadas a produção e difusão científicas e são atravessadas pelas relações de poder e regimes de verdade, é preciso considerar que os discursos generificados também irão atravessá-la, na formação de suas/seus alunas/os. Os currículos universitários, desta forma, podem ser vistos - assim como na escola básica - com elementos discursivos que irão produzir, hierarquizar, classificar indivíduos e difundir as relações desiguais entre os gêneros.
A desigualdade de gênero é um elemento incrustado nas relações sociais e na cultura das instituições. Cristina Verea (2004) destaca que as instituições de educação superior produzem e reproduzem sua própria cultura específica e que as tradições, costumes e rotinas das instituições condicionam o tipo de vida que se desenvolve nela e reforçam valores, expectativas e crenças nos grupos sociais que vivem nesses locais. Segundo a autora, para se entender o gênero como parte da cultura institucional universitária, pode-se pensar o gênero como
[...] um tecido discursivo que participa da naturalização dos pressupostos sobre os quais se constroem as relações e que são assentadas nas diferenças que distinguem os sexos, mas também como um jogo de regras institucionais, de técnicas e procedimentos generalizados, aplicados na encenação/reprodução das práticas sociais diferenciadas por sexo (p.34; tradução nossa).
Guacira Louro (2014)LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 184 p. destaca que as instituições “fabricam” os sujeitos e são produzidas pelas práticas sociais e pelas relações de gênero. O currículo carrega aspectos generificados desde sua concepção, uma vez que os homens que historicamente produziram o conhecimento e selecionam as disciplinas que constam nos percursos curriculares, ainda que nas escolas as mulheres ocupem as salas de aula. Segundo a autora,
Da arquitetura aos arranjos físicos, dos símbolos às disposições sobre comportamentos e práticas; das técnicas de ensino às estratégias de avaliação; tudo opera na constituição de meninos e meninas, de homens e mulheres - dentro e também fora da escola (uma vez que a instituição ‘diz’ alguma coisa não apenas para quem está no seu interior, mas também para aqueles/aquelas que dela não participam) (LOURO, 2004, p. 95)
Neste sentido, as universidades desenvolvem processos coletivos de elaboração e evolução dos planos de estudo, ligados aos aspectos técnicos e os currículos universitários estão fortemente condicionados aos momentos históricos e à produção de identidades profissionais e suas práticas. O desenvolvimento das profissões se vincula aos processos de formalização e especialização do saber, onde o eixo estruturante do currículo é o componente profissional (COLLAZO, 2010COLLAZO, Mercedes. El currículo universitario como escenario de tensiones sociales y académicas. Didáskomai, Montevideo, nº 1: p. 5-23, 2010.).
3 A PROFISSÃO BIBLIOTECÁRIA E AS RELAÇÕES DE GÊNERO
A profissão bibliotecária foi marcada em sua história, pelas relações de gênero. Nascida como uma profissão erudita e ocupada por homens, a profissão passou a se tornar feminilizada ao longo do tempo. Tais aspectos, em um mundo marcado fortemente pelo machismo e pelo patriarcado, influenciaram na identidade profissional bibliotecária, nos estereótipos criados em torno da profissão e na(s) posição(ões) que esta ocupa na sociedade.
O primeiro curso de formação bibliotecária no Brasil surge na segunda década do século XX, fruto do esforço empreendido pela Biblioteca Nacional para formação de quadro superior para atuação na própria instituição. Antes, as bibliotecas que existiam no país estavam ligadas, em um primeiro momento, aos colégios e instituições jesuíticas e após a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a expansão educacional - ainda que tímida - observada durante o Império e início da República às escolas e institutos universitários.
É na esteira do desenvolvimento de diversas ações4 4 Como ações, pode-se citar a publicação de regras de catalogação feitas pelo Museu Britânico, em 1841; a criação de cursos formais de Biblioteconomia, como o da École Nationale de Chartes em 1821 e o da Universidade de Columbia, nos EUA, criado por Melvil Dewey. No Brasil, pode-se citar a publicação em 1880 da “Bibliografia da língua Tupi ou Guarani também chamada de língua geral do Brasil”, de Alfredo do Vale Cabral e o início da publicação do “Boletim Bibliográfico da Biblioteca Nacional”, em 1886 (SOUZA, 2009). no campo da Biblioteconomia ocorridas durante o século XIX, aliada às mudanças políticas do país com a recente Proclamação da República e a grande influência francesa e positivista no círculo intelectual brasileiro, que em 1911, a Biblioteca Nacional criou o primeiro curso de formação de mão-de-obra bibliotecária no país, uma vez que a falta de pessoal qualificado era uma constante reclamação dos diretores da instituição. O decreto5 5 Decreto nº 8.835, de 11 de Julho de 1911. que criou o curso, determinou que ele teria duração de um ano, com as aulas sendo ministradas uma vez por semana, que possuíam uma hora de duração e eram realizadas entre os meses de abril e novembro. Ao fim do curso, os alunos seriam submetidos a um exame escrito e um exame oral, com duração de duas horas e meia hora para cada, respectivamente.
Conjugada a esta imagem e a influência francesa na sociedade do início do século XX, o primeiro curso formador de bibliotecários sediado na Biblioteca Nacional foi marcado por uma influência humanista e possuía disciplinas que priorizavam aspectos relacionados à teoria cultural. Refletindo a necessidade de formação de um profissional erudito, humanista e exímio conservador dos acervos, o currículo do curso da Biblioteca Nacional dava prioridade a disciplinas relacionadas a teoria cultural, possuía duração de um ano e tinha como objetivo principal sanar as dificuldades existentes na biblioteca quanto à formação de pessoal. (CASTRO, 2000CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p.; SILVEIRA, 2007SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.). Os bibliotecários nesse período
[...] além de possuírem uma vasta cultura geral, (...) deveriam dominar vários idiomas, principalmente o idioma materno, bem como conhecimentos sobre Artes, Ciências e Letras que os tornassem aptos a participarem ativamente da formação do quadro intelectual, sócio-histórico e cultural brasileiro (SILVEIRA, 2007SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007., p.134).
Após uma paralisação que durou mais de 10 anos, o curso da BN retornou às suas atividades nos anos 1930 e mantinha as altas exigências para que se cursasse Biblioteconomia na instituição. Aos candidatos eram requeridos certificados de conclusão da 5ª série do curso secundário, certidões de aprovação em exames de português, francês, inglês, latim, aritmética, geografia, história universal, corografia6 6 A disciplina de corografia se referia ao estudo de regiões geográficas específicas de determinado país. e história do Brasil, atestados de identidade, sanidade e idoneidade moral (CASTRO, 2000CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p.). Em uma sociedade onde, no fim dos anos 1920 e início dos anos 1930, somente 0,36% da população estava matriculada no ensino secundário, o curso de Biblioteconomia da BN não colaborava para o aumento do acesso ao ensino superior para as camadas menos abastadas da sociedade, tampouco para promover a formação de pessoal que possibilitasse a democratização do acesso às bibliotecas pelo país, cumprindo seu objetivo de formar apenas pessoal para atuar na própria instituição (SOUZA, 2009SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p.).
As barreiras impostas pelos exames de qualificação, não permitiam que mulheres e mais pobres acessassem o curso superior de Biblioteconomia da Biblioteca Nacional, uma vez que, no período, o acesso às escolas ainda era majoritariamente masculino e das classes médias e altas da sociedade. Além disso, a profissão bibliotecária no período permanecia sendo vista como uma profissão “destinada” a homens educados, com alta erudição e cultura geral - o que já era expresso no currículo do curso da BN.
Nos anos 1930 também há a difusão e influência do modo tecnicista estadunidense nos currículos no Brasil, onde se privilegiou os modos de fazer em detrimento dos conteúdos. Tal período coincide com a expansão universitária no país, o controle maior do Estado sobre a Educação e o aumento do número de cursos formadores de bibliotecárias/os no Brasil, por exemplo. Nesse momento, ganha corpo também o movimento de crescimento no número de mulheres no mercado de trabalho e a busca por maior escolarização por parte destas, ainda que estas ocorressem em cursos de menor prestígio social, uma vez que as reformas ocorridas no Ensino Superior brasileiro até a terceira década do século XX - e que visavam diminuir o espaço do Estado no Ensino Superior e favorecer a criação de estabelecimentos particulares - não trouxeram medidas efetivas que buscassem alcançar a equidade do acesso à educação. A entrada nos ensinos primários e secundários era dificultada para os pobres e para as mulheres nos primeiros anos da República, o que refletia também no número de matriculados/as no ensino superior.
Heleieth Saffioti (2013)SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013. destaca que no fim da República Velha, as mulheres ainda não haviam penetrado, de forma significativa nos cursos superiores brasileiros, sobretudo nos de maior prestígio social, como Medicina e Odontologia. A República acentuou a tendência de concentração das mulheres em certos ramos de ensino menos valorizados socialmente e que a maior concentração de mulheres nos cursos de Farmácia pode ser explicada pelo rebaixamento da profissão de farmacêutico, fato que também, pode ser observado na profissão bibliotecária, foco deste trabalho. Nas palavras da autora,
É muito provável que o referido desprestígio em que caiu a profissão de farmacêutico, transformado este em vendedor de remédios industrializados, seja o fator grandemente responsável pela penetração do elemento feminino neste setor ocupacional (SAFFIOTI, 2013SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013., p.310-311).
Ao apresentar dados do Estado de São Paulo, a autora destaca que o ramo tradicional ocupado pelas mulheres que buscavam se profissionalizar era o do ensino profissional normal7 7 Em 1929, passava de 7 mil o número de alunas no curso pedagógico e menos de 10% do contingente total, era de homens. , voltado para a formação de mão-de-obra para atuar no magistério. Muitas meninas, no entanto, optavam pelo ensino normal também por este ser a oportunidade de receberem cultura geral, dada a escassez de escolas secundárias oficiais, além de ser uma oportunidade para adentrarem no mercado de trabalho (SAFFIOTI, 2013SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.), de forma “respeitável” aos olhos da sociedade, uma vez que, segundo Claudia Fonseca (2018)FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 510-553., a mulher que trabalhava fora
Em vez de ser admirada por ser “boa trabalhadora”, como o homem em situação parecida, a mulher com o trabalho assalariado tinha de defender sua reputação contra a polução moral, uma vez que o assédio sexual era lendário. (...) As mulheres que trabalhavam nas tarefas caseiras tradicionalmente femininas, lavadeiras, engomadeiras, pareciam correr menos perigo moral do que as operárias industriais, mesmo nesses casos, sempre as ameaçavam a acusação de serem mães relapsas (p. 516)
Cabe destacar que quando se fala das mulheres buscando o mercado de trabalho na primeira metade do século XX, refere-se a um contingente feminino de mulheres em sua maioria brancas e pertencentes às classes média e alta da sociedade. As mulheres pobres, essas em grande parte negras, sempre trabalharam fora de casa para que pudessem se manter, seja como lavadeiras, engomadeiras, amas de leite, costureiras etc. e à estas mulheres, os espaços escolares eram distantes e excludentes. A profissão bibliotecária após o surgimento dos primeiros cursos e sobretudo nas décadas de 1950 e 1960 era ocupada por mulheres dos estratos mais altos da sociedade.
As mulheres negras trabalhadoras já se encontravam no mercado de trabalho e o discurso em torno da fragilidade feminina presente no século XX, não se estendia para a população feminina negra. Segundo Fonseca (2018)FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 510-553., o discurso no começo do século XX de que a mulher deveria ficar em casa, resguardada e se ocupando dos afazeres domésticos se ligava a um estereótipo calcado nos valores da elite colonial, “e muitas vezes espelhado nos relatos de viajantes europeus, que servia como instrumento ideológico para marcar a distinção entre as burguesas e as pobres” (p. 517). Sueli Carneiro (2013) destaca que quando se trata da fragilidade feminina, que justificou a proteção paternalista às mulheres por parte dos homens, está se falando de um contingente de mulheres que não inclui as negras. Estas trabalharam durante séculos nas lavouras, como vendedoras, quituteiras, prostitutas e que por conta disso, não foram alcançadas e incluídas quando as feministas brancas diziam que as mulheres deveriam ganhar as ruas e trabalhar, uma vez que já faziam isso. Segundo a autora
As mulheres negras tiveram uma experiência histórica diferenciada que o discurso clássico sobre a opressão da mulher não tem reconhecido, assim como não tem dado conta da diferença qualitativa que o efeito da opressão sofrida teve e ainda tem na identidade feminina das mulheres negras. (...) Quando falamos em garantir as mesmas oportunidades para homens e mulheres no mercado de trabalho, estamos garantindo emprego para que tipo de mulher? Fazemos parte de um contingente de mulheres para as quais os anúncios de emprego destacam a frase: “Exige-se boa aparência” (CARNEIRO, 2003CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: ASHOKA EMPREENDEDORES SOCIAIS; TAKANO CIDADANIA (org.). Racismos contemporâneos. Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003. p. 50-57., p. 51)
Margareth Rago (2018)RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 578-606. destaca que muitas mulheres e crianças pobres atuavam como força de trabalho nas indústrias brasileiras no início do século XX e que o contingente feminino se concentrava nas indústrias de fiação e tecelagem8 8 A autora destaca que em 1901, 72,74% das pessoas que trabalhavam nas indústrias têxteis, no estado de São Paulo, eram mulheres e crianças. No recenseamento de 1920, foram inspecionadas 247 indústrias têxteis e 17.747 (50,96%) eram mulheres, ante 14.352 (41,21%) homens. , que possuíam escassa mecanização; elas estavam em número menor nos setores de metalurgia e mobiliário, por exemplo. Muitas dessas mulheres estavam inseridas no movimento operário e lideravam greves e mobilizações políticas contra a exploração do trabalho no interior das fábricas, mas os discursos produzidos em torno delas, produzidos por homens, as retratavam como
[...] mocinhas infelizes e frágeis. Apareciam desprotegidas e emocionalmente vulneráveis aos olhos da sociedade, e por isso podiam ser presas da ambição masculina. (...) Frágeis e infelizes para os jornalistas, perigosas e “indesejáveis” para os patrões, passivas e inconscientes para os militantes políticos, perdidas e “degeneradas” para os médicos e juristas, as trabalhadoras eram percebidas de vários modos. (p.578-579)
Os cursos de Biblioteconomia surgidos nos anos 1930, como o do Colégio Mackenzie, em São Paulo, já traziam a vertente mais técnica inspirada nos modelos estadunidenses em seu currículo. Com projeto racional, linear e positivista, o curso do Mackenzie pretendeu formar bibliotecárias/os que fossem aptos a executar todas as rotinas técnicas necessárias à circulação do conhecimento e da informação (SILVEIRA, 2007SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.), onde o “saber fazer” era mais importante que o “pensar”. César Castro (2000)CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p. destaca que o Colégio Mackenzie desde a sua fundação no Brasil, em 1870, carregava consigo ideias “revolucionárias” em comparação ao que era praticado na maioria das escolas do país, como a liberdade de ensino religioso, a adoção de salas mistas, “a eliminação de castigos físicos, como o uso da palmatória, esporte para mulheres e ensino centrado na compreensão, quando nas demais escolas predominava a decoração” (p. 64).
A fundação do curso de Biblioteconomia no modelo estadunidense reflete também a influência de discursos que faziam a relação entre o que vinha dos EUA com uma modernidade e diante disso, havia a necessidade de se criar bibliotecas modernas no país. Além disso, profissionais de bibliotecas de toda a América Latina foram incentivados a irem até os EUA para conhecerem as bibliotecas e para realização de cursos no país. Foi num desses intercâmbios que a bibliotecária Adelpha Rodrigues, bibliotecária efetiva do colégio Mackenzie, foi realizar curso preparatório em um curso destinado a mulheres latino-americanas pela American Association of University Women. Castro (2000)CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p. destaca ainda que havia grande interesse dos EUA na Biblioteconomia latino-americana e que a influência se dava também pelo apoio financeiro dado por diversos organismos e a realização de conferências no Brasil, em Cuba, no Chile e na Argentina, como a Pan American Conference of Municipalities, realizada em Cuba em 1938 “com a finalidade de favorecer o desenvolvimento de bibliotecas nas três Américas e estimular o gosto pela leitura” (p. 67) e a já citada American Association of University Women que concedia bolsas a bibliotecárias latino-americanas para estudarem nos EUA.
A profissão bibliotecária nos EUA já se consolidava, no fim do século XIX e início do século XX como uma profissão feminilizada. Quando o teórico Mevil Dewey fundou o curso na universidade de Columbia, em 1896, dezessete das vinte pessoas matriculadas no curso eram mulheres e Dewey foi um dos primeiros a contratar mulheres para a função de bibliotecária na universidade (GIACOMETTI; VELLOSO, 1987GIACOMETTI, Maria Marta; VELLOSO, Maria de Fátima. Bibliotecária: uma profissão feminina. Boletim ABDF Nova Série, Brasília, v.10, n.1, p.15-16, jan./mar. 1987.). Kathleen Wiebel e Kathleen Heim (1979DEWEY, Melvil. Women in libraries: how they are a handicapped. In: WEIBEL, Kathleen; HEIM, Kathleen M. The role of women in Librarianship 1876-1976: the entry, advancement, and struggle for equalization in one profession. Londres: Oryx Press, 1979. p.10-12.) recuperam artigo do próprio Melvil Dewey (1886), escrito no fim do século XIX em que ele buscava explicar sua visão dos motivos pelos quais as mulheres recebiam salários menores do que seus pares homens. Em sua exposição de motivos, Dewey desconsiderou os aspectos sociais envolvidos nas desigualdades entre homens e mulheres na sociedade desenvolvendo as mesmas profissões e considerou que com a formação de um maior número de profissionais, os salários naturalmente aumentariam, pois haveria aumento da concorrência pelas vagas. Tal argumento revela uma contradição lógica, uma vez que se considerarmos uma maior oferta de pessoas por vagas, isso levaria também a uma maior disputa por vagas e a consequente diminuição dos salários e não o contrário. Além disso, ele se coloca como um benfeitor e ressalta que sua preferência por contratar mulheres para a profissão bibliotecária se dava porque a formatura no curso podia ser considerada como um prêmio dado pela sua perseverança em estudar e dado o baixo número de mulheres com cursos superiores, as bibliotecárias formadas representavam o melhor do corpo técnico disponível no país.
Anita Schiller (1970)SCHILLER, Anita R. The disadvantaged majority: women employed in libraries. American Libraries, Chicago, v. 1, n.4, abr. 1970. p. 345-349., no entanto, ressalta as reais intenções do teórico e destaca que, na verdade, ao contratar mulheres para a função de bibliotecária, Dewey não buscou dar maior oportunidade a elas ou promover maior igualdade salarial entre os sexos, mas considerou aspectos ligados à economia dos recursos das bibliotecas, uma vez que ao se contratar mulheres, poderia se pagar menores salários para as mesmas e, assim, economizar recursos para setores considerados mais importantes.
A Biblioteconomia enquanto prática profissional nos EUA, desta forma, carregou desde o início de seus cursos formadores aspectos de discursos generificados. A maior tecnicidade dos currículos dos cursos e da profissão, pode ser considerada como uma das estratégias utilizadas para que a profissão bibliotecária se tornasse de menor complexidade e que, dentro do contexto da divisão sexual do trabalho, fosse “destinada a mulheres”. Ao patrocinar a ida de profissionais latino-americanas para estudarem nos EUA, há a difusão no Brasil, após a volta desses profissionais, de que a Biblioteconomia deveria ser mais técnica e menos erudita e que seus currículos deveriam ser mais voltados para aspectos técnicos da profissão.
O número de pessoas matriculadas levantados por Castro (2000)CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p. evidencia que na década de 1940, a Biblioteconomia já passava a atrair um número maior de mulheres para seus bancos. Entre 1940 e 1943, dos 795 estudantes matriculados no curso, 715 (ou 89,93%) do total era mulheres e ainda que houvesse grande desistência durante os dois anos de curso, ao fim, 68 mulheres se formaram bibliotecária ante somente 06 homens. O mesmo fenômeno ocorria também em São Paulo, no curso do Departamento de Cultura da Prefeitura, onde segundo Ana Laura Xavier (2020)XAVIER, Ana Laura Silva. A presença do feminino na Biblioteconomia brasileira: aspectos históricos. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2020., das/os 59 alunas/os formadas/os no curso, 43 eram mulheres.
Elisabeth Martucci (1996)MARTUCCI, Elisabeth Márcia. A feminização e a profissionalização do Magistério e da Biblioteconomia: uma aproximação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.1, n.2, p.225-244, jul./dez. 1996. levanta a hipótese de que a aproximação crescente da Biblioteconomia com a área da Educação pode ser considerada como uma das razões para um maior ingresso das mulheres no curso, uma vez que o magistério já era uma profissão majoritariamente ocupada por mulheres e a biblioteca passou a ser vista como uma extensão da sala de aula e por conta disso, também deveria ser ocupada por elas. A expansão educacional observada durante a Primeira República e a partir da década de 1940 levou a um aumento da criação de bibliotecas no país. Dados de Sonia Gomes (1983)9 9 GOMES, Sonia de Conti. Bibliotecas e sociedade na primeira república. São Paulo: Pioneira, Brasília: INL, Fundação Pró-Memória, 1983. 90p. citados por Martucci (1996)MARTUCCI, Elisabeth Márcia. A feminização e a profissionalização do Magistério e da Biblioteconomia: uma aproximação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.1, n.2, p.225-244, jul./dez. 1996. demonstram que entre 1889 e 1930, 58,2% das bibliotecas criadas no país estavam ligadas a escolas, especialmente em São Paulo e Minas Gerais e que tais bibliotecas visavam o oferecimento de obras importantes para estudo das disciplinas estudadas e estas bibliotecas eram cuidadas por professores/as e não por bibliotecários/as.
Do fim do Estado Novo em 1945 até 1968, já no período do Regime Militar, o número de escolas de ensino superior no país aumenta exponencialmente e somente entre 1960 e 1968, mais escolas surgiram do que em todo o período de 1900 até 1945. Tal aumento se deve a grande expansão do mercado privado em educação, que viu no aumento da demanda por Ensino Superior no país, uma oportunidade de aumento de lucros (SAMPAIO, 1991). Neste período também, cresceu cerca de 200% o número de pessoas empregadas em funções técnicas e administrativas, o que levou às classes médias a redefinirem o papel da mulher no mundo do trabalho, mas sem alterar sua função doméstica, destinando-as para os cargos de professora, bancárias, para atuarem em escritórios, comércios etc. (CUNHA, 1983CUNHA, Luiz Antônio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 260 p.). Esta expansão educacional também fez com que aumentasse o número dos cursos de Biblioteconomia e de bibliotecas, que nasciam muitas vezes ligadas aos colégios e universidades.
As mulheres neste período passaram a ocupar postos de trabalho externos ao lar e que estavam ligados, em sua grande maioria, aos discursos que refletiam a divisão sexual do trabalho, que associava as tarefas desempenhadas por mulheres às noções de zelo, presteza, cuidado, extensões do trabalho doméstico, privado. Os trabalhos de professora e enfermeira, por exemplo, já se encaixavam dentro destas profissões e com o aumento do número de estabelecimentos, as bibliotecas por carregarem características associadas às noções de cuidado, foram consideradas locais que não “ameaçavam” as tarefas exercidas pelas mulheres dentro de casa. Claudia Alvarenga e Cláudia Vianna (2012)ALVARENGA, Claudia Faria; VIANNA, Cláudia Pereira. Relações sociais de gênero e divisão sexual do trabalho: desafios para a compreensão do uso do tempo no trabalho docente. Laboreal, v. 8, n. 1, 2012. p. 1-26. destacam que as relações sociais entre os gêneros - calcadas em relações de poder - e a divisão sexual do trabalho são indissociáveis, mas a divisão sexual do trabalho é apenas um dos aspectos das relações de gênero, onde a esfera produtiva é destinada aos homens, sendo mais valorizada e associada a postos de prestígio, enquanto a esfera reprodutiva é associada às mulheres e ao mundo privado.
Desta forma, Helena Hirata (2017)HIRATA, Helena. Conhecimento e ação política: divisão sexual do trabalho e teorias da interseccionalidade. In: RAMOS, Marcelo Maciel; NICOLI, Pedro Augusto Gravatá; ALKMIN, Gabriela Campos (org.). Gênero, sexualidade e direitos humanos: perspectivas multidisciplinares. Belo Horizonte: Initia Via, p. 97-111. 2017. cita Daniéle Kergoat (2005)10 10 KERGOAT, Danièle. Rapports sociaux et division du travail entre les sexes. In: MARUANI, M. (org.). Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, Paris: La découverte, 2005. e ressalta que a divisão sexual do trabalho se organiza embasada em dois princípios: o da separação, que está relacionado à divisão do que se configura como o que é trabalho feminino e o que é trabalho masculino na sociedade; e o da hierarquia, onde se define que o trabalho masculino é superior e possui maior valor do que o trabalho feminino.
Pode-se observar também com o aumento do contingente feminino na profissão bibliotecária, um deslocamento da imagem que a sociedade passa a ter da informação e dos estereótipos que passam a caracterizar a profissão. Se 1) na Antiguidade os bibliotecários gozavam de certo prestígio pois se tornavam bibliotecários por complemento a uma atividade que já exerciam e pela necessidade de realizar investigações dentro do seu campo de atuação; 2) e se com o passar do tempo e com o surgimento de uma sociedade pautada no conhecimento e na informação, eles passam a ser vistos como guardadores e guardiões do conhecimento (ROGGAU, 2006ROGGAU, Zunilda. Los bibliotecarios, el estereotipo y la comunidad. Informacíon, cultura y sociedad, Buenos Aires, n. 15, dez. 2006. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402006000200002&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 13 dez. 2021.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?scri...
), 3) no século XX, com o aumento da feminização, há a associação da profissional bibliotecário a uma mulher idosa e,
[...] especialmente, com dois adereços principais, como uma espécie de marca registrada, que são os indefectíveis óculos e o famigerado coque nos cabelos, além de uma postura geralmente antagônica e pouco receptiva para os usuários, provavelmente em gesto que indiquem um enfático pedido de silêncio (WALTER, BAPTISTA, 2007WALTER, Maria Tereza Machado Teles; BAPTISTA, Sofia Galvão. A força dos estereótipos na construção da imagem profissional dos bibliotecários. Informação & Sociedade, João Pessoa, v.17, n.3, p. 27-38, dez. 2007., p. 30).
Ainda que refletindo sobre o contexto estadunidense, Marie Radford e Gary Radford (1997)RADFORD, Marie L.; RADFORD, Gary P. Power, knowledge, and fear: feminism, Foucault, and the stereotype for the female librarian. Library Quarterly, [s.l.], v. 67, n. 3, p. 250-266, jul. 1997. consideram que o estereótipo da bibliotecária solteirona prevaleceu e apareceu em um grande número de formas culturais, como histórias, romances, cartuns, jornais, revistas etc. Para os autores, o estereótipo das bibliotecárias mistura as visões que a sociedade possui das bibliotecas, vistas como lugares de controle do conhecimento e da verdade, que com seus indexadores, vocabulários controlados e sistemas de recuperação da informação gerenciam os perigos de um discurso incontrolado. A bibliotecária terrível, sisuda, séria e obsessiva com a organização pode ser vista como uma estratégia para o manejo/administração do medo que se perca o controle sobre os discursos. Entretanto, ao ser observada de perto, ela não pode ser considerada tão amedrontadora assim, afinal trata-se apenas de uma mulher.
Paula Chies (2010)CHIES, Paula Viviane. Identidade de gênero e identidade profissional no campo de trabalho. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, SC, v. 18, n. 2, p. 507-528, maio/ago. 2010. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2010000200013/13664. Acesso em: 13 dez. 2021.
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref...
destaca que os estereótipos acerca das profissões femininas são gerados por questões básicas como ‘o que se espera de uma mulher’ e ‘o que se espera de um homem’. Nesse sentido, as profissões ligadas à noção de cuidado e às atividades desenvolvidas em âmbito privado são desvalorizadas. Maria Tereza Walter e Sofia Baptista (2007) ressaltam que a associação da profissão bibliotecária às mulheres agregou estereótipos ligados ao sexo feminino, onde as mulheres são associadas a profissões não competitivas, com baixos salários e que tenham comportamentos dóceis, discursos estes que também se ligaram à profissão bibliotecária.
Cabe destacar que os estereótipos também são associados aos homens que se tornam bibliotecários e, segundo Beatriz Sousa (2014)SOUSA, Beatriz Alves de. O gênero na Biblioteconomia: percepção de bibliotecárias/os. 2014. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014., muitos deles se relacionam, sobretudo às questões de orientação sexual e muitos bibliotecários demonstram receio em serem confundidos com homossexuais. Um dos entrevistados pela autora ressalta que em todos os locais a que vai, necessita afirmar que não é gay (SOUSA, 2014SOUSA, Beatriz Alves de. O gênero na Biblioteconomia: percepção de bibliotecárias/os. 2014. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.). Ambos as visões associadas a quem exerce a profissão, mulheres ou homens, possuem a mesma matriz, que é a desvalorização do que pode ser associado ao feminino, advinda das relações de poder desiguais entre os gêneros dentro da sociedade patriarcal, ao mesmo tempo em que demonstram a importância que é dada pelos homens não-homossexuais ao gesto de informar que não são gays, como se ser gay fosse um demérito.
4 O CURRÍCULO ENQUANTO ELEMENTO DE GENERIFICAÇÃO DA PROFISSÃO BIBLIOTECÁRIA
O currículo, conforme explicitado anteriormente, é um artefato que carrega consigo e faz difundir discursos e relações de poder, e desta forma, pode ser considerado como um dos elementos que colaboraram para a feminização da profissão bibliotecária. Considera-se aqui que ele é um dos nós da rede de relações de poder que influenciam a profissão e que penetra nos corpos influenciando gestos, atitudes e comportamentos. O currículo universitário é entendido aqui não só como uma representação do poder do Estado, que exerce dominação sobre determinados setores e impõe certos discursos em detrimento de outros, mas uma amálgama de outros diversos discursos dispersos (ou não) que influenciam nas formações dadas, no perfil de profissional que se almeja e em como esse profissional deve se portar, se apresentar e quais habilidades deve possuir.
O discurso do mercado de trabalho, neste sentido, pode ser citado como exemplo de grande influência no delineamento do “tipo” de profissional que os cursos devem formar. No campo da Biblioteconomia, o aumento da tecnicidade está ligado à aproximação do campo com a Biblioteconomia feita nos EUA, mas não só a ele. Há também uma mudança, sobretudo nas décadas de 1960 e 1970, a respeito de quais as expectativas do mercado em torno da profissão.
Os discursos da área em torno do bibliotecário como um agente de organização informacional, sobretudo científica - e que se cristalizou com a fundação do IBBD na década de 1950, por exemplo - buscou formar profissionais que pudessem lidar com o aumento da produção de informação técnico-científica. Discursos que valorizavam as bibliotecas especializadas e o trabalho que estas realizam passaram a se fazerem presentes nas discussões da Biblioteconomia, dando menor importância às bibliotecas mais gerais, como as públicas e as escolares. A imagem do moderno profissional da informação seguia alinhada ao modelo estadunidense, onde este deveria ser especializado, conhecendo as principais fontes das áreas em que atua, suas terminologias e o modo como estas áreas se estruturam e assim se aproximar do pesquisador, sendo a/o bibliotecária/o um auxiliar de pesquisas e colaborando para o progresso da ciência nos centros de informação científica, onde a “erudição do bibliotecário cedia espaço à especialização” (CASTRO, 2000CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira. Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p., p. 122).
Nesse sentido, o currículo mínimo estabelecido em 1962 pode ser considerado um marco para maior tecnicidade da profissão, uma vez que este buscou uma padronização do ensino ministrado em Biblioteconomia pelo país, mas foi marcado pela supervalorização dos conteúdos das disciplinas técnicas em detrimento das disciplinas de vertente cultural. Segundo Antônio Lemos (1973)LEMOS, Antônio Agenor Briquet de. Estado atual do ensino da Biblioteconomia no Brasil e a questão da Ciência da Informação. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 1, n. 1, 1973. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/74801. Acesso em: 13 dez. 2022.
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapc...
, o currículo de 1962 visou conciliar as duas formações - humanista e técnica - generalizando a experiência de ensino do período entre 1929 e 1944, além de admitir as influências da Documentação no campo da Biblioteconomia e tornar obrigatória a disciplina de Paleografia. Após análise de uma proposta inicial com 17 disciplinas elaborada por uma Comissão de Especialistas em Biblioteconomia, o Conselho Federal de Educação11
11
O Currículo Mínimo de Biblioteconomia foi estabelecido em Resolução de 16/11/1962, após parecer Nº 326/62 elaborado por José Montello.
determinou que os cursos teriam duração de 3 anos e fixou 10 disciplinas obrigatórias para as 14 escolas de Biblioteconomia brasileiras.
Segundo Fabrício Silveira (2007)SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.,
[...] ao pretender formar uma mão-de-obra capaz de contribuir para o projeto de um país independente, a Biblioteconomia que aqui se institui reforçou, em suas primeiras décadas de atividade, a tese de que a biblioteca é um organismo de extrema importância para a construção das muitas paisagens históricas. No entanto, a base de seu argumento era que tal condição só seria alcançada através da difusão de rígidos padrões técnicos em torno da execução das rotinas de captação, organização, preservação e disseminação da informação (p.141).
As críticas ao currículo mais técnico de 1962 foram muitas. Laura Russo (1966)RUSSO, Laura Garcia Moreno. A Biblioteconomia brasileira, 1915- 1965. Rio de Janeiro: INL, 1966., por exemplo, creditava a maior tecnicidade dos currículos o rebaixamento do nível do bibliotecário, que fora “reduzido a produzir fichas e ordenar livros nas estantes, sem participar das responsabilidades de direção das bibliotecas que estão a reclamar, em escala crescente, a orientação de pessoas tecnicamente habilitadas. (p.23)”. Lemos (1973)LEMOS, Antônio Agenor Briquet de. Estado atual do ensino da Biblioteconomia no Brasil e a questão da Ciência da Informação. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 1, n. 1, 1973. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/74801. Acesso em: 13 dez. 2022.
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapc...
considerava que em termos de conteúdo, o que ocorreu foi um superdimensionamento das disciplinas de caráter técnico para que se alcançasse as 2025 horas estipuladas para os cursos, o que fazia com que as disciplinas culturais fossem apresentadas como “apanhados pretensamente enciclopédicos de temas que certamente poderiam ser abordados em função das atividades profissionais do bibliotecário” (p.53).
A partir desse momento, a feminização da área já se dava de forma mais concreta. Os dados levantados por Hugo Pires (2016)PIRES, Hugo Avelar Cardoso; DUMONT, Lígia Maria Moreira. Relações de género e a profissão bibliotecária no Brasil. Cadernos BAD, Lisboa, n. 1, p. 157-171, 2016. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/68033. Acesso em: 25 fev. 2022.
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapc...
evidenciam que a partir da década de 1960 há uma maior procura das mulheres pelos cursos de Biblioteconomia. No curso da Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, 106 mulheres se tornaram bibliotecárias na década de 1950 e 194 mulheres ao fim de 1960, representando 98,97% do número de pessoas formadas. No mesmo período, 25 homens se formaram em Biblioteconomia na UFPE. O mesmo ocorreu no curso da Universidade Federal de Minas Gerais onde entre 1950 e 1960, 4 homens e 294 mulheres se formaram em Biblioteconomia.
Cabe destacar também que, no mesmo período, há também uma crescente inserção da biblioteca (sobretudo a escolar) dentro de um discurso onde a biblioteca é um lugar de zelo, de cuidado e a/o profissional de Biblioteconomia possui presteza e dedicação - e esta característica pode ser visualizada quando se afirmava a necessidade da/o bibliotecária/o atuar junto aos cientistas. O currículo mínimo, ao dar uma formação técnica para as/os estudantes, em detrimento de uma formação humanista e “pensadora”, colaborava para tal visão preconceituosa acerca das mulheres e para a inserção da atividade bibliotecária no rol de profissões notadamente marcadas pela divisão sexual do trabalho, onde as profissões ocupadas por mulheres se relacionam às características maternais, sendo consideradas extensões do mundo privado e que demonstram, segundo Helena Hirata e Daniele Kergoat (2003), as relações desiguais de poder existentes entre homens e mulheres.
As discussões em torno de currículo técnico versus currículo humanista irão permear a trajetória da Biblioteconomia brasileira nos anos subsequentes e um novo currículo mínimo foi estabelecido em 1982, que tentava equilibrar as vertentes técnicas e culturais e segundo Silveira (2007)SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007., adotou a interdisciplinaridade como proposição básica. Para Francisco Souza (2009)SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p., o currículo mínimo de 1982 ainda mantinha a crise de pouca relação entre o que era ministrado e a realidade do país.
Este currículo sofreu alterações nos anos seguintes, sobretudo na questão da adição de disciplinas de cunho tecnológico, uma vez que a internet e as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) se desenvolviam e um novo perfil profissional era requerido pelo mercado. Há também neste período uma aproximação maior da Biblioteconomia com a Ciência da Informação e áreas como a Administração e Computação, por exemplo, áreas estas notadamente “masculinas”. Para Souza (2009)SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p. os discursos em torno do “moderno profissional da informação” que ganharam força a partir dos anos 1990, denotavam uma desqualificação da Biblioteconomia e da figura da/o bibliotecária/o e se associavam a uma lógica neoliberal12 12 Souza (2009) destaca que o foco neoliberal “era a defesa da ideia de que o mercado privado era mais eficiente de que as ações econômicas de produção do estado - verifica-se que essa fenomenologia se transportou para todos os demais âmbitos, inclusive o profissional” (p. 145) que penetrou não só o âmbito político econômico do país, mas também o profissional. Para o autor
Nos anos da década de 1990, ficou mais uma vez evidente que o ensino de Biblioteconomia no Brasil continuava carente de rumos que pudessem orientá-lo para atender aos interesses do Brasil, que, de outro lado, estava a buscar um porto seguro no mundo econômico (p. 145)
A aproximação da Biblioteconomia com as outras áreas supracitadas e o surgimento desse novo perfil de profissional da informação coincide com uma maior entrada de homens nos cursos de Biblioteconomia, além de uma consolidação da profissão enquanto empregadora. Ou seja, a partir da década de 1990, os currículos buscam uma suposta valorização profissional e uma modificação da visão que a sociedade tem da profissão bibliotecária em atendimento a uma demanda do mercado de trabalho. A estrutura curricular dos cursos passou a privilegiar disciplinas técnicas com foco nas atividades de coleta, gestão, preservação e disseminação dos recursos informacionais (SILVEIRA, 2007SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.), e a formação dada buscava formar um profissional que atendesse a lógica mercadológica neoliberal, em que o mercado de trabalho exigia profissionais dinâmicos, habilitados, criativos e competentes, que mostrassem produtividade e que estivessem em constante atualização.
Dentro desta intenção de valorização profissional, Anízia Nascimento, Etienny Figueiredo e Georgete Freitas (2003)NASCIMENTO, A. M. C.; FIGUEIREDO, E. K. P.; FREITAS, G. L. Redimensionamento do profissional da informação no mercado de trabalho. Infociência, v. 3, n. 1, 2003. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/60766. Acesso em: 13 dez. 2021.
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapc...
em artigo escrito no começo do século XXI, por exemplo, destacavam a necessidade da Biblioteconomia de mostrar que a biblioteca não era o único lugar de atuação do bibliotecário e que este não era mais visto como guardião, mas como disseminador da informação, que deve atuar como estruturador, planejador ou administrador de informações. Para Mary Ferreira (2003)FERREIRA, Maria Mary. O profissional da informação no mundo do trabalho e as relações de gênero. Transinformação, Campinas, v.15, n.2, p. 189-201, maio/ago. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/tinf/v15n2/07.pdf Acesso em: 13 dez. 2021.
https://www.scielo.br/pdf/tinf/v15n2/07....
, a utilização do termo “profissional da informação” se dava por acreditar que o espaço de trabalho evoluiu e que a informação era vital para as empresas. Nas palavras da autora, “o profissional da informação é o protótipo hoje do trabalhador do conhecimento de amanhã” (p. 43)
Souza (2009)SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p., no entanto, critica esta visão dentro da lógica neoliberal e empresarial da profissão e destaca que o termo “moderno profissional da informação” é utilizado como desqualificador da Biblioteconomia e da profissão bibliotecária, uma vez que focada na gestão da informação, as escolas formadoras deveriam preparar profissionais modernos, eficientes e competentes. Segundo o autor
Isto posto em muitos textos, palestras etc. adensava um discurso que trazia como mensagem subliminar a extinção do bibliotecário, como carreira e cargo profissional, em total contraste com os discursos profissionais na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo. (p. 146)
Cabe destacar que é no mesmo período em que o perfil do “novo profissional da informação” surge e (talvez por conta deste) que o contingente masculino nos cursos aumenta consideravelmente. Segundo Pires (2016)PIRES, Hugo Avelar Cardoso; DUMONT, Lígia Maria Moreira. Relações de género e a profissão bibliotecária no Brasil. Cadernos BAD, Lisboa, n. 1, p. 157-171, 2016. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/68033. Acesso em: 25 fev. 2022.
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapc...
, na Universidade Federal de Goiás (UFG), por exemplo, houve aumento de 675% no número de graduados em Biblioteconomia entre as décadas de 1990 e 2000. O mesmo fenômeno pode ser observado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde no curso diurno o número de homens graduados nas décadas de 1990 e 2000 praticamente dobra se comparados às décadas anteriores, enquanto no curso noturno, criado no início dos anos 2000, eles representavam 41% dos graduados em Biblioteconomia ao fim da década.
Ou seja, a partir da maior entrada de homens na profissão, houve um delineamento dos currículos formadores e dos discursos em torno do papel profissional para mudança da visão que a sociedade possuía do bibliotecário. Ainda que durante o período a consolidação da profissão enquanto empregadora e com salários razoáveis, é notório que para se afastar o quanto antes da visão tradicional da bibliotecária, a estratégia foi a de criar um perfil mais mercadológico, supostamente mais racional, equilibrado, um verdadeiro gestor.
A mudança de nome das escolas e de cursos, muito presentes no fim da década de 1990 e início dos anos 2000, vieram no mesmo direcionamento de tentar deixá-los cada vez mais “atrativos” para o grande público. Em artigo que justifica a alteração do nome da Escola de Biblioteconomia da UFMG para Escola de Ciência da Informação da UFMG, por exemplo, Ricardo Barbosa, Beatriz Cendón, Paulo Caldeira e Marcelo Bax (2000)BARBOSA, R. R.; CENDóN, B. V.; CALDEIRA, P. T.; BAX, M. P. Novo nome e novo paradigma: da biblioteconomia à ciência da informação. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 5, 2000. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/35621. Acesso em: 13 dez. 2021.
http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapc...
destacavam que a alteração do nome do curso também seria uma “evolução natural das mudanças curriculares ora em curso” (p. 82), uma vez que o termo Biblioteconomia remetia “a uma imagem inadequada de seu objeto de estudo e de sua relação com o mercado de trabalho, não destacando o quão importante é um nome como símbolo de determinada instituição” (p. 88). O nome do curso - e consequentemente a profissão de bibliotecário - carregava consigo aspectos que proporcionavam pouca valorização profissional ligadas a seu nome e por conta disso “a manutenção da denominação Biblioteconomia para as unidades acadêmicas tem contribuído, sem dúvida, para dificultar a visibilidade e absorção pelo mercado dos profissionais delas egressos” (p.88; grifo dos autores).
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
As relações de poder presentes na sociedade permeiam os mais diferentes âmbitos das nossas vidas, moldando corpos, incentivando ou desencorajando comportamentos, ações e pensamentos. Dentro da lógica do poder, as relações de gênero atuam como importantes instrumentos na (con)formação dos corpos, na criação de subjetividades e da determinação de espaços que mulheres e homens vão ocupar na sociedade, convertendo-os em ideias introjetadas desde muito cedo nas crianças. Ao brincarem de “boneca” ou “de casinha”, as meninas associam essas atividades ao feminino e tem as suas próprias identidades associadas a tarefas domésticas, mecânicas e de menor prestígio social, o que não ocorre com meninos, incentivados na maioria das vezes a desenvolver atividades que estimulam a intelectualidade e a criatividade, por exemplo.
Logo, as relações desiguais de gênero e a noção de divisão sexual do trabalho são desde cedo absorvidas por mulheres e homens e ao adentrarem no mundo do trabalho, tais noções influenciam as profissões ocupadas pelas pessoas. Assim, as mulheres se destinam (e são destinadas pelos discursos difundidos em torno delas) a profissões ligadas às noções de cuidado, zelo e presteza, como as profissões de enfermeira, professora e bibliotecária, por exemplo. Em um mundo marcado pelas relações desiguais de gênero, estas profissões também possuem menor prestígio social, fato bem diferente de profissões “masculinas”, como médico, advogado ou engenheiro.
O molde dos corpos e das subjetividades se apoia na difusão de discursos, sendo esses instrumentos para que o poder possa agir nos indivíduos. Os currículos podem ser considerados como importantes mecanismos para difusão destes discursos, permitindo que as relações de poder penetrem nos corpos e se difundam, desde a infância. No ambiente universitário, eles instauram regimes de verdade, definem o que é verdadeiro e falso e o que deve ou não ser ensinado. Também difundem discursos generificados, que colaboram para criação e manutenção de espaços “femininos” e “masculinos” nas profissões.
A profissão bibliotecária foi notadamente marcada pelas relações de gênero ao longo do tempo e se tornou feminilizada com o passar dos anos. Quando ocupada majoritariamente por homens, era considerada uma profissão erudita e os currículos formadores dos primeiros cursos carregavam consigo a ideia de que o bibliotecário deveria ser uma pessoa culta, que entendesse de artes, tivesse conhecimento de literatura, vasta cultura geral etc. Após os anos 1930, há um novo direcionamento dos currículos formadores para uma formação mais técnica e menos erudita. Coincidentemente (ou não), neste período a profissão passa a ser associada às noções de zelo e cuidado, a ser ocupada por mulheres, se inserindo na lógica da divisão sexual do trabalho.
Os currículos mais técnicos passam a difundir - com seu superdimensionamento das disciplinas técnicas - os discursos de que a Biblioteconomia (e a bibliotecária) não precisam mais ter conhecimento erudito, mas de “saber fazer”, de aplicar somente as técnicas da Biblioteconomia, com pouco espaço para questionamentos. Após os anos 1980, com a aproximação com outras áreas como a Administração e a Computação, há um aumento do contingente masculino nos cursos e uma busca por mudar a visão da sociedade do profissional bibliotecário, que deveria ser visto como um gestor da informação, sem ligação direta com a biblioteca.
Destarte, entende-se e buscou-se evidenciar neste trabalho, como o currículo foi utilizado como dispositivo para difusão de certos discursos em relação à profissão bibliotecária e como este colaborou para a feminização da profissão bibliotecária. Quando, ao passar a ser ocupada por mulheres, os currículos das escolas buscam uma formação mais técnica, focada mais no “saber fazer”, eles se alinharam a discursos generificados e diretamente ligados à divisão sexual do trabalho, onde as profissões feminilizadas “valem” menos e requerem menos esforço intelectual para serem realizadas. Ao mesmo tempo, quando há uma mudança (ainda que discreta) do número de homens e mulheres dentro da profissão, estes currículos também passam a adotar novos discursos e a buscarem criar uma nova imagem da profissão, pretensamente moderna e onde o bibliotecário deveria ser visto não só como o profissional que atua nas bibliotecas, mas como um sujeito moderno, um/a verdadeiro gestor da informação.
-
1
Optou-se por se apresentar sempre o primeiro nome de um/a autor/a quando este/a for citado/a de forma indireta pela primeira vez, destacando e dando visibilidade para autoras e autores que serviram de embasamento bibliográfico para a construção deste trabalho.
-
2
Em estudos posteriores, sobretudo os realizados na década de 1980, Foucault fez uma revisão do seu conceito de regime de verdade, afastando-o da noção de saber-poder e atrelando-o a formação do sujeito e como este é levado a manifestar a verdade. Neste trabalho, utilizar-se-á o conceito de regime de verdade atrelado a questão do saber-poder e dos discursos, por acreditarmos que ele se adequa aos objetivos.
-
3
Cabe destacar que a verdade é entendida aqui como “um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a circulação e o funcionamento dos enunciados” e que “está circularmente ligada a sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela induz e que a reproduzem. ‘Regime’ da verdade” (FOUCAULT, 2007FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto (Org). Microfísica do poder. 23 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 1-14 p., p.14)
-
4
Como ações, pode-se citar a publicação de regras de catalogação feitas pelo Museu Britânico, em 1841; a criação de cursos formais de Biblioteconomia, como o da École Nationale de Chartes em 1821 e o da Universidade de Columbia, nos EUA, criado por Melvil Dewey. No Brasil, pode-se citar a publicação em 1880 da “Bibliografia da língua Tupi ou Guarani também chamada de língua geral do Brasil”, de Alfredo do Vale Cabral e o início da publicação do “Boletim Bibliográfico da Biblioteca Nacional”, em 1886 (SOUZA, 2009SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p.).
-
5
Decreto nº 8.835, de 11 de Julho de 1911.
-
6
A disciplina de corografia se referia ao estudo de regiões geográficas específicas de determinado país.
-
7
Em 1929, passava de 7 mil o número de alunas no curso pedagógico e menos de 10% do contingente total, era de homens.
-
8
A autora destaca que em 1901, 72,74% das pessoas que trabalhavam nas indústrias têxteis, no estado de São Paulo, eram mulheres e crianças. No recenseamento de 1920, foram inspecionadas 247 indústrias têxteis e 17.747 (50,96%) eram mulheres, ante 14.352 (41,21%) homens.
-
9
GOMES, Sonia de Conti. Bibliotecas e sociedade na primeira república. São Paulo: Pioneira, Brasília: INL, Fundação Pró-Memória, 1983. 90p.
-
10
KERGOAT, Danièle. Rapports sociaux et division du travail entre les sexes. In: MARUANI, M. (org.). Femmes, genre et sociétés, l’état des savoirs, Paris: La découverte, 2005.
-
11
O Currículo Mínimo de Biblioteconomia foi estabelecido em Resolução de 16/11/1962, após parecer Nº 326/62 elaborado por José Montello.
-
12
Souza (2009)SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p. destaca que o foco neoliberal “era a defesa da ideia de que o mercado privado era mais eficiente de que as ações econômicas de produção do estado - verifica-se que essa fenomenologia se transportou para todos os demais âmbitos, inclusive o profissional” (p. 145)
-
Disponibilidade de dados e material:
Não é aplicável. -
Financiamento: Não é aplicável.
REFERÊNCIAS
- ALVARENGA, Claudia Faria; VIANNA, Cláudia Pereira. Relações sociais de gênero e divisão sexual do trabalho: desafios para a compreensão do uso do tempo no trabalho docente. Laboreal, v. 8, n. 1, 2012. p. 1-26.
- APPLE, Michael W. Ideologia e currículo 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 288 p.
- BARBOSA, R. R.; CENDóN, B. V.; CALDEIRA, P. T.; BAX, M. P. Novo nome e novo paradigma: da biblioteconomia à ciência da informação. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 5, 2000. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/35621 Acesso em: 13 dez. 2021.
» http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/35621 - CARNEIRO, Sueli. Enegrecer o feminismo: a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero. In: ASHOKA EMPREENDEDORES SOCIAIS; TAKANO CIDADANIA (org.). Racismos contemporâneos Rio de Janeiro: Takano Editora, 2003. p. 50-57.
- CASTRO, César. História da Biblioteconomia brasileira Brasília: Thesaurus, 2000, 287 p.
- CHIES, Paula Viviane. Identidade de gênero e identidade profissional no campo de trabalho. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, SC, v. 18, n. 2, p. 507-528, maio/ago. 2010. Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2010000200013/13664 Acesso em: 13 dez. 2021.
» https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2010000200013/13664 - COLLAZO, Mercedes. El currículo universitario como escenario de tensiones sociales y académicas. Didáskomai, Montevideo, nº 1: p. 5-23, 2010.
- CORAZZA, S. M. O que faz gaguejar a linguagem da escola. In: ENDIPE. (org.). Linguagens, espaços e tempos no ensinar e aprender Rio de Janeiro: DP&A, 2000, p. 89-103.
- CRUZ, Ederson da. Gênero e currículo: problematizando essa relação nos cursos de formação inicial de docentes. 2015.(Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo, 2015.
- CUNHA, Luiz Antônio. A universidade crítica: o ensino superior na República Populista. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 260 p.
- DAL’IGNA, Maria Cláudia; KLEIN, Carin, MEYER, Dagmar Estermann. Generificação das práticas curriculares: uma abordagem feminista pós-estruturalista. Currículo sem Fronteiras, v. 16, n. 3, p. 468-487, set./dez. 2016.
- DEWEY, Melvil. Women in libraries: how they are a handicapped. In: WEIBEL, Kathleen; HEIM, Kathleen M. The role of women in Librarianship 1876-1976: the entry, advancement, and struggle for equalization in one profession. Londres: Oryx Press, 1979. p.10-12.
- FERREIRA, Maria Mary. O profissional da informação no mundo do trabalho e as relações de gênero. Transinformação, Campinas, v.15, n.2, p. 189-201, maio/ago. 2003. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/tinf/v15n2/07.pdf Acesso em: 13 dez. 2021.
» https://www.scielo.br/pdf/tinf/v15n2/07.pdf - FONSECA, Cláudia. Ser mulher, mãe e pobre. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil 10. ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 510-553.
- FOUCAULT, Michel. História da sexualidade, volume I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2013.171p.
- FOUCAULT, Michel. Poder e saber. In: FOUCAULT, Michel; MOTTA, Manoel Barros da Motta (org.). Estratégia, poder-saber Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2003. p. 223-240. (Ditos & Escritos, v. 4).
- FOUCAULT, Michel. Verdade e poder. In: FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto (Org). Microfísica do poder 23 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 1-14 p.
- GIACOMETTI, Maria Marta; VELLOSO, Maria de Fátima. Bibliotecária: uma profissão feminina. Boletim ABDF Nova Série, Brasília, v.10, n.1, p.15-16, jan./mar. 1987.
- GOODSON, Ivor. Etimologias, epistemologias e o emergir do currículo. In: GOODSON, Ivor. Currículo: teoria e história. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 29-43.
- HIRATA, Helena. Conhecimento e ação política: divisão sexual do trabalho e teorias da interseccionalidade. In: RAMOS, Marcelo Maciel; NICOLI, Pedro Augusto Gravatá; ALKMIN, Gabriela Campos (org.). Gênero, sexualidade e direitos humanos: perspectivas multidisciplinares. Belo Horizonte: Initia Via, p. 97-111. 2017.
- LARROSA, Jorge. Tecnologias do eu e educação. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 35-86.
- LEMOS, Antônio Agenor Briquet de. Estado atual do ensino da Biblioteconomia no Brasil e a questão da Ciência da Informação. Revista de Biblioteconomia de Brasília, v. 1, n. 1, 1973. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/74801 Acesso em: 13 dez. 2022.
» http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/74801 - LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 184 p.
- MACHADO, Roberto. Introdução. In: FOUCAULT, Michel; MACHADO, Roberto (org). Microfísica do poder 23 ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 295 p.
- MARTUCCI, Elisabeth Márcia. A feminização e a profissionalização do Magistério e da Biblioteconomia: uma aproximação. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.1, n.2, p.225-244, jul./dez. 1996.
- NASCIMENTO, A. M. C.; FIGUEIREDO, E. K. P.; FREITAS, G. L. Redimensionamento do profissional da informação no mercado de trabalho. Infociência, v. 3, n. 1, 2003. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/60766 Acesso em: 13 dez. 2021.
» http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/60766 - OLIVEIRA, Glaurea Nádia Borges de; NEIRA, Marcos Garcia. Contribuições foucaultianas para o debate curricular da Educação Física. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 35, 2019. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/edur/v35/1982-6621-edur-35-e198117.pdf Acesso em: 13 dez. 2021.
» https://www.scielo.br/pdf/edur/v35/1982-6621-edur-35-e198117.pdf - OLIVEIRA, Jane Cordeiro. Conhecimento, currículo e poder: um diálogo com Michel Foucault. Revista Espaço Pedagógico, v. 23, n. 2, 21, nov. 2016.
- PARAÍSO, Marlucy Alves. Currículo e relações de gênero: entre o que se ensina e o que se pode aprender. Linhas Florianópolis, v. 17, n. 33, p. 206-237, jan./abr. 2016. Disponível em: http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723817332016206/pdf_102 Acesso em: 13 dez. 2021.
» http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas/article/view/1984723817332016206/pdf_102 - PIRES, Hugo Avelar Cardoso; DUMONT, Lígia Maria Moreira. Relações de género e a profissão bibliotecária no Brasil. Cadernos BAD, Lisboa, n. 1, p. 157-171, 2016. Disponível em: http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/68033 Acesso em: 25 fev. 2022.
» http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/68033 - POPKEWITZ, Thomas S. História do currículo, regulação social e poder. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 173-210.
- RADFORD, Marie L.; RADFORD, Gary P. Power, knowledge, and fear: feminism, Foucault, and the stereotype for the female librarian. Library Quarterly, [s.l.], v. 67, n. 3, p. 250-266, jul. 1997.
- RAGO, Margareth. Trabalho feminino e sexualidade. In: PRIORE, Mary Del (org.). História das mulheres no Brasil 10. ed. São Paulo: Contexto, 2018. p. 578-606.
- ROGGAU, Zunilda. Los bibliotecarios, el estereotipo y la comunidad. Informacíon, cultura y sociedad, Buenos Aires, n. 15, dez. 2006. Disponível em: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402006000200002&lng=es&nrm=iso Acesso em: 13 dez. 2021.
» http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402006000200002&lng=es&nrm=iso - RUSSO, Laura Garcia Moreno. A Biblioteconomia brasileira, 1915- 1965 Rio de Janeiro: INL, 1966.
- SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2013.
- SAMPAIO, Helena. O setor privado de ensino superior no Brasil: continuidades e transformações. Ensino Superior Unicamp, v. 2, p. 28-43, 2011.
- SCHILLER, Anita R. The disadvantaged majority: women employed in libraries. American Libraries, Chicago, v. 1, n.4, abr. 1970. p. 345-349.
- SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução as teorias do currículo. 2 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. 154 p.
- SILVEIRA, Fabrício José Nascimento da. Biblioteca como lugar de práticas culturais: uma discussão a partir dos currículos de Biblioteconomia no Brasil. 2007. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007.
- SOUSA, Beatriz Alves de. O gênero na Biblioteconomia: percepção de bibliotecárias/os. 2014. Tese (Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014.
- SOUZA, Francisco das Chagas de. O ensino da Biblioteconomia no contexto brasileiro: século XX. Florianópolis: UFSC, 2009. 189p.
- VARELA, Julia. O estatuto do saber pedagógico. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 87-96.
- VEREA, Cristina Palomar. La política de género en la educación superior. La ventana, Guadalajara, v. 3, n. 21, p. 7-43, 2005. Disponível em: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362005000100007&lng=es&nrm=iso Acesso em: 13 dez. 2021.
» http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-94362005000100007&lng=es&nrm=iso - WALTER, Maria Tereza Machado Teles; BAPTISTA, Sofia Galvão. A força dos estereótipos na construção da imagem profissional dos bibliotecários. Informação & Sociedade, João Pessoa, v.17, n.3, p. 27-38, dez. 2007.
- XAVIER, Ana Laura Silva. A presença do feminino na Biblioteconomia brasileira: aspectos históricos. 2020. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2020.
Disponibilidade de dados
Não é aplicável.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
23 Jan 2023 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
11 Jan 2022 -
Aceito
18 Fev 2022 -
Publicado
12 Mar 2022