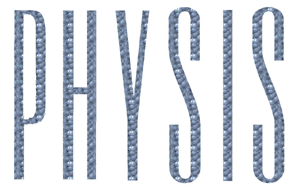ENTREVISTA
Cérebro, self e sociedade: uma conversa com Nikolas Rose1 1 Entrevista realizada por Mary Jane P. Spink no BIOS Centre em 19 de novembro de 2008, como parte do projeto de pesquisa sobre novos desenvolvimentos em saúde promocional, que conta com o apoio do CNPq. Gostaríamos de agradecer a Peter Spink pela ajuda na gravação desse encontro e pela revisão da tradução. A transcrição foi revisada por Nikolas Rose antes de ser traduzida para o português. Endereço eletrônico: mjspink@pucsp.br
MJ: Meu primeiro contato com seu trabalho foi por meio de capítulo de um livro editado por John Shotter e Kenneth Gergen, publicado em 1992.2 2 ROSE, N. Individualizing Psychology. In: Shotter, J.; GERGEN, K.J. (Eds). Texts of Identity. London, Sage, 1992. Usei algumas de suas reflexões sobre o papel da psicologia na individualização de selves em uma palestra proferida no Conselho Regional de Psicologia em 1993.3 3 SPINK, M.J.P. O psicólogo e a saúde mental. In: ______. Psicologia Social e saúde: práticas, saberes e sentidos. Petrópolis: Vozes, 2003. Seu livro, Inventing ourselves, é referência para o grupo de pesquisa por mim coordenado, sobretudo devido à fundamentação foucaultiana de muitas das ideias nele discutidas. Mais recentemente, o artigo de sua autoria, Politics of life itself,4 4 ROSE, N. The politics of life itself. Theory, Culture & Society, v. 18, n. 6, p. 1-30, 2001. trouxe uma contribuição importante, por focalizar desenvolvimentos recentes na biomedicina e pela possibilidade de atualizar algumas ideias foucaultianas sobre governamentalidade. E, também, as ideias discutidas no livro sobre política da vida,5 5 ROSE, N. The politics of life itself: biomedicine, power and subjectivity in the twentieth-first century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. publicado em 2007, foram valiosas para aqueles, entre nós, que vêm refletindo sobre as implicações da biomedicina contemporânea para as posições de pessoa (ou pessoalidades) atuais. Nesse contexto, há dois aspectos sobre os quais gostaria de conversar. O primeiro concerne a sua trajetória de pesquisa: o que o levou de uma perspectiva mais histórica (focalizada, por exemplo, na psicologia e em outras tecnologias disciplinares) à genômica contemporânea e à neuroquímica do cérebro? O segundo é mera curiosidade: quando cursou biologia na Universidade de Sussex? Em termos mais preciso, essa decisão está de alguma forma relacionada à mudança de uma perspectiva arqueológica para questões relacionadas com a biomedicina contemporânea? Como se deu essa transição? E o que teve que fazer de modo a poder entender o DNA, neurônios, etc., que não são exatamente temas estudados na sociologia?
NR: Embora eu seja sociólogo, no Departamento de Sociologia mais antigo da Inglaterra e que ocupa a cátedra de sociologia mais antiga da Grã-Bretanha, eu não cursei sociologia. Inicialmente, fui para a universidade para estudar biologia. Cursei biologia durante dois anos e depois me transferi para o curso de psicologia. Mas, nesse período, pude adquirir conhecimentos básicos em ciências biológicas. Após esses dois anos, me transferi para disciplinas do curso de psicologia e, ao graduar, tornei-me um historiador crítico da psicologia. Eu estava insatisfeito com a maneira como a crítica radical da psicologia era então escrita isso foi no final dos anos 60 e eu estava buscando uma nova forma de entender o papel social da psicologia. Fiz isso por uns dez anos. E depois, em parte como consequência desta experiência, comecei a argumentar que poderíamos aprender com a psicologia e com outras especialidades menores semelhantes. Que poderíamos aprender algo de fundamental sobre como as sociedades contemporâneas emergiram e como as formas de autocompreensão que eram a elas centrais vieram a existir. Esses eram aspectos que não haviam atraído a atenção de teóricos e historiadores políticos que estavam então mais interessados em grandes eventos ou nas microdesonestidades que ocorrem entre políticos.
Depois, trabalhei por cerca de dez anos, em parte com meu colega Peter Miller e em parte com outros membros da rede de "historiadores do presente" que havíamos formado, argumentando que, para entender como as sociedades contemporâneas eram governadas, e mesmo como sociedades de épocas anteriores eram governadas, precisávamos levar em consideração as microtecnologias humanas decorrentes de formas de expertise. Peter e eu fizemos diversos trabalhos empíricos sobre o papel exercido por expertises sociais e psicológicas. Usamos a Tavistock Clinic e o Tavistock Institute of Human Relations, e outras instituições semelhantes, como sítios empíricos de investigação. Esses trabalhos acabaram de ser publicados no livro Governing the Present.6 6 MILLER, P.; ROSE, N. Governing the present: administering economic, social and personal life. Cambridge, UK: Polity Press, 2008.
Fiz isso durante uns dez anos. Peter, agora, é Professor Titular de Contabilidade e chefe do Departamento de Contabilidade aqui no London School of Economics, LSE. Nesse meio tempo, ficamos satisfeitos que essa linha de trabalho se tornou bastante popular; entretanto, ficamos também desencorajados, pois grande parte se tornou um tanto quanto rotinizado. Nesse período, eu era o editor principal da revista Economy and Society, e recebíamos muitos, muitos e muitos artigos sobre governar qualquer coisa alguns dos quais eram muito bons, outros tantos bastante rotineiros, e outros ainda um tanto quanto mecânicos. Governar isso, governar aquilo, governar o outro. "Governamentalidade" havia se tornado uma espécie de máquina para produzir análises empíricas com um enquadre teórico. Era possível analisar qualquer coisa e usar a linguagem da governamentalidade. Não que eu não achasse que essa abordagem pudesse ser usada de maneira criativa; ela ainda me impactava como ferramenta analítica poderosa para entender como o presente era moldado e para examinar tecnologias humanas e formas de subjetivação e daí por diante. Mas, provavelmente, no final da década de 1990, eu havia dito tudo que eu poderia dizer sobre isso. Eu ficava feliz por poder encorajar outros, especialmente pessoas jovens que queriam fazer mais disso, mas eu não achava que poderia dizer nada de novo a não ser que eu adentrasse novos sítios empíricos.
Nesse momento, decidi que queria voltar e escrever mais e trabalhar mais sobre a psiquiatria contemporânea, porque eu sempre estive envolvido com a política psiquiátrica e com psiquiatria de diferentes maneiras desde os tempos de universidade. Nos meus dias como biólogo, e depois como psicólogo, estudamos psicologia do anormal. E foi nesse contexto que li Ronnie Laing.7 7 LAING, R.D. The divided self: an existential study in sanity and madness. Harmondsworth: Penguin, 1960. Minha primeira introdução a Foucault foi a leitura de Madness and Civilization. Como estudante na Universidade de Sussex, fomos visitar os hospitais psiquiátricos locais e observávamos as maneiras como os pacientes psiquiátricos eram "demonstrados" para nós. À moda Laingiana, procurei dar sentido às palavras dos pacientes sobre coisas que eram entendidas meramente como sintomas. E desde então e isso foi há mais de 40 anos sempre tive muitos amigos que são, como os denominamos na Grã-Bretanha, "usuários e sobreviventes" do sistema psiquiátrico. Um de meus primeiros livros, a bem dizer, o primeiro livro que escrevi com Peter Miller, publicado em 1986,8 8 MILLER, P.; ROSE, N. The power of psychiatry. Cambridge, UK: Polity Press, 1986. intitulava-se The Power of Psychiatry. Naquela época, fomos muito influenciados pelo trabalho detalhista sobre história da psiquiatria que estava sendo desenvolvido por uma das pessoas que participava do grupo de Foucault em Paris, Robert Castel.9 9 CASTEL, R. A gestão dos riscos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. Ele fez trabalhos fantásticos sobre a história da psiquiatria. Aliás, eu conheci Peter por meio de uma resenha que ele escreveu em 1981 sobre o livro de Castel, La Société Psychiatrique Avancée escrito em coautoria com Francoise Castel e Anne Lovell que publicamos numa revista que eu havia criado nos idos de 1977, chamada Ideology and Consciousness.
De qualquer modo, no final da década de 1990, voltei a trabalhar seriamente sobre psiquiatria e comecei a pensar sobre como poderíamos escrever uma genealogia da psiquiatria contemporânea; como dar sentido ao que havia ocorrido na psiquiatria no século XX não havia muito escrito sobre isso na época para além das histórias disciplinares standard sobre progresso etc. Rapidamente, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que eu estava correndo o risco de escrever a história da psiquiatria de forma mais ou menos semelhante ao que eu havia feito com a psicologia, com a mesma estrutura conceitual, as mesmas ferramentas. E isso, para mim, não era tremendamente estimulante. Não que não fosse útil fazer; simplesmente não era muito interessante para mim. E, em segundo lugar, o que me pareceu ser a coisa mais interessante que estava ocorrendo na psiquiatria era a reativação da psiquiatria biológica. Então comecei a fazer algum trabalho sobre isso. Como você sabe, a psiquiatria biológica envolve muitos debates sobre genética; envolve muitos debates sobre como os organismos vivos foram moldados pela evolução; envolve uma série de debates que, em certa medida, estavam imbricados nos desenvolvimentos no âmbito das ciências da vida e na biomedicina de modo mais geral, e na molecularização contemporânea das explicações nas ciências da vida e na biomedicina. E em pouco tempo ficou claro para mim que eu não poderia apenas mergulhar no estudo da psiquiatria biológica; eu precisava entender, de maneira mais geral, essas transformações nas ciências da vida e na biomedicina e como elas estavam modificando a maneira como entendíamos seres vivos. Isso me levou à minha antiga biologia e, mais especificamente, a meus interesses em biologia do desenvolvimento no trabalho de Jacob e Monod e nos debates anteriores sobre a regulação da expressão do gene. Meu professor em Sussex foi John Maynard Smith, que era um eminente geneticista, e trabalhávamos com genética da drosófila (fruit fly). Talvez seja esta a razão pela qual, na década de 1960, me afastei da biologia de modo a analisar seres humanos, primeiro individualmente, via psicologia, e depois coletivamente, via o Marxismo. De qualquer modo, nessa época, nos anos 90, eu estava no Goldsmith College, onde havia várias pessoas que também estavam interessadas em questões das ciências da vida. Então fiz algo que gosto de fazer: trabalhar com um grupo de pessoas, não pessoas que estejam fazendo comentários de alto nível sobre coisas, mas pessoas que estavam de fato fazendo pesquisa. Criei uma rede eletrônica, denominada Bios nomeada a partir de uma das palavras gregas para vida. Sem tentar ser muito preciso, consideramos que se refere ao simples fato de viver, enquanto bios se referia mais ao modo de viver. Então começamos a juntar pessoas e organizar seminários e workshops. Comecei a escrever sobre isso como parte de minhas tentativas de dar sentido ao que estava ocorrendo nas ciências da vida. Isso levou a cerca de quatro anos de trabalho sobre as mudanças que vinham ocorrendo nas ciências da vida. E, nessa época, paralelamente, eu continuava a fazer alguns trabalhos sobre a psiquiatria. [Interrompendo] É esse tipo de coisa que você quer que eu fale?
MJ: Sim, é o que chamo de "contexto", sem o qual seria difícil entender o resto.
NR: Eu estava trabalhando com alguns colegas e estávamos interessados particularmente no papel poderoso que as drogas psiquiátricas tiveram na emergência desse campo de psiquiatria biológica. Como no trabalho sobre a Tavistock, onde havíamos escolhido um local específico para estudar algo mais geral, escolhemos isso como o sítio que analisaríamos. Mais especificamente, o sítio que escolhemos para análise foi a serotonina, porque era a molécula da moda naqueles dias. Aí desenvolvemos esse projeto eu estava trabalhando com minha colega Marian Fraser, que ainda está no Goldsmiths desenvolvemos o projeto intitulado "A idade da serotonina" (The Age of Serotonin), financiado pelo Wellcome Trust, para analisar os modos em que a pesquisa sobre esse sistema neurotransmissor específico estava relacionado com a ascensão dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Poderíamos tomar isso como um sítio de pesquisa, de modo a analisar a molecularização e anatomização do cérebro no nível molecular a engenharia reversa do cérebro e a crença de que seria possível intervir no cérebro de modo a transformá-lo por meio da compreensão exata de como esses processos moleculares funcionam.
Então eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo: uma era o trabalho mais genérico sobre as transformações nas ciências da vida, que acabou, de diferentes maneiras, resultando no livro The Politics of Life Itself. E a outra, o trabalho mais específico sobre as neurociências. Nesse trabalho todo, seria errado dizer que eu não estava fazendo uso de nenhuma das ferramentas conceituais que havia usado anteriormente; mas eu estava tentando fazê-lo de forma mais leve, para ver se eu poderia pensar as coisas de maneira diferente. E suponho que a diferença-chave era se as mesmas ferramentas poderiam ser usadas para estudar algo que ainda estava em processo de construção; que estava acontecendo no aqui-e-agora; que estávamos bem no meio disso que era a molecularização da vida, da vitalidade. Se as mesmas ferramentas históricas ferramentas do tipo "história do presente", ferramentas genealógicas seriam apropriadas para tentar entender o caráter dessa situação e desempacotar o caráter dessa situação. Esta é uma maneira muito, muito longa de responder à sua pergunta.
MJ: Seria possível falar um pouco mais sobre as ferramentas conceituais? O tipo de abordagem de "história do presente" que você usava... foi abandonado ou reinterpretado?
NR: Bem, a versão clichê de "história do presente" é tomar algo que parece ser estável e necessário e demonstrar os caminhos contingentes por meio dos quais foi formatado. Ao fazê-lo, se demonstra que é menos necessário do que parecia ser e mais aberto à transformação do que se pensaria. Esse projeto de desestabilização do que é dado, mostrando que historicamente as coisas foram diferentes, foi central para a história do presente: retomando as linhas contingentes, ao invés de ver o presente como resultado de algum processo histórico necessário; retomando as linhas de força divergentes que criam o presente. Assim, em grande parte, a desestabilização do presente ou o reconhecimento da contingência do presente, e a fragilidade do presente fizeram parte do etos daquele trabalho anterior. Enquanto que, se você estiver trabalhando nessas áreas de rápido desenvolvimento, como as ciências da vida, a biomedicina, as neurociências e daí por diante, tudo é muito instável. Ninguém sabe o que está ocorrendo; ninguém sabe se alguma dessas terapias vai dar certo. Tomando como exemplo a terapia gênica: funcionaria? Enormes esperanças foram nela investidas não, não funcionou. Com esse futuro incerto, todos têm que operar com expectativas presentificadas, trazendo o futuro para o presente e fazendo cálculos sobre o mesmo, tentando produzir futuros que falham tão frequentemente quanto sucedem. Então, desestabilizar o presente não parecia ser assim tão radical. A bem dizer, talvez o gesto mais radical, paradoxalmente, seria mostrar que as coisas não eram assim tão diferentes; que não estávamos de fato nessa maravilhosa nova época; tudo não estava completamente mudado, muitas coisas continuariam a ser da mesma maneira. Não estávamos de repente à beira de alguma transformação maravilhosa em nossa habilidade de viver vidas mais longas, nem de morrer de doenças terríveis e tudo o mais que é tão frequentemente prometido. Portanto, a questão concernia aos tipos de ferramentas que poderíamos usar para mapear isso. E eu não tenho um kit de ferramentas. Esse é o aspecto desencorajador do destino do trabalho com governamentalidade e, até certo ponto, do trabalho que havia feito anteriormente sobre história da psicologia aqueles entre nós que estavam fazendo esse tipo de trabalho estavam mais ou menos criando as ferramentas no caminho e emprestando coisas daqui, dali e de todo lugar: um pouco dos estudos sociais de ciência, um pouco de teoria de contabilidade, um pouco do trabalho sobre epistemologia da história, um pouco do trabalho sobre ontologia e daí por diante construíamos nosso kit de ferramentas no caminho para dar conta de nossas necessidades específicas. O que era um tanto desanimador, como eu disse, sobre o que ocorreu mais tarde; foi que as pessoas pegavam essas ferramentas e pensavam, aqui está o conceito, aqui está a ferramenta que devemos usar, ao invés de fazer o trabalho de cortar, de se engajar de alguma forma com os materiais empíricos. Estavam apenas fazendo um tipo de trabalho decorativo fazendo com que uma realidade desordenada parecesse lisa e inteligível.
De todo jeito, quanto às ferramentas que tenho usado agora, eu teria dificuldade de descrever um kit de ferramentas. Trabalhei bastante com antropólogos, especialmente com meu amigo Paul Rabinow, de Berkeley, e claro, os antropólogos têm o método etnográfico, o tipo de método descritivo. Meu problema com isso é que [esse método] está sempre muito localizado em um sítio específico e, conceitualmente, é bastante leve, porque se você é um antropólogo, você não quer se distanciar muito dos materiais empíricos apresentados. Eu queria encontrar uma maneira de capturar as formas de pensamento, os estilos de pensamento que estavam sendo formatados, mas eu não queria ficar enredado pelo imperativo etnográfico. Uma das coisas que usei, e que meus colegas nessa pesquisa usaram, foi a ideia de Ludwig Fleck sobre estilos de pensamento. Fizemos muito uso disso. Alguns de meus orientandos, assistentes de pesquisa e colegas pesquisadores foram bastante influenciados pelo tipo de ideias da teoria ator-rede (ANT): como são feitas as alianças, como são feitas as translações, como as coisas são montadas (assembled) e estabilizadas. Mas procuramos fazer isso de uma maneira light seguindo o objeto e vendo como certos argumentos florescem e algumas coisas passam a ser presumidas, e outras linhas de argumento não florescem; vendo as maneiras path-dependent em que se desenvolvem os programas de pesquisa. Nesse tipo de área psico/neuro/fármaco, uma coisa que nos interessava era a hipótese serotonínica de depressão. De que, de alguma forma ou outra, alguns tipos de psicopatologias, como a depressão e a ansiedade, estão relacionados com os níveis de serotonina na sinapse são déficits e anomalias do sistema de serotonina. Este foi um dispositivo heurístico muito potente para a psicofarmacologia e depois para a psiquiatria, mas quase certamente se não estiver completamente equivocado está bastante equivocado. Porém, num certo tipo de estilo de pensamento e de pesquisa psiquiátrica, isso possibilitou uma porta de entrada e um modelo para a compreensão de uma série de outras coisas que estavam ocorrendo na transmissão entre neurônios.
Outra coisa de grande interesse para nós foi olhar para a importância das tecnologias referindo-me aqui à tecnologia no senso estrito, por exemplo, à emergência de técnicas imagéticas. E mais uma vez, como cientista social, você pode fazer muitas coisas com tecnologias de imagem: pode mostrar o quanto essas imagens são socialmente construídas; pode mostrar como elas produzem um certo tipo de "imaginação" como "ver o que está ocorrendo no cérebro vivo" se tornou um tipo poderoso de metáfora, porque é uma metáfora que produz toda uma série de resultados que depois assumem vida própria.
Sei que não se trata de conceitos, apenas de técnicas de investigação. Tentei elaborar alguns conceitos, conceitos bastante light, no livro The politics of Life Itself conceitos tais como molecularização e otimização, mas lido com eles de forma light.
MJ: Há um aspecto muito interessante nisto que você diz. Por exemplo, a ANT é muito útil, ou o próprio Latour, se você quer entender um programa de pesquisa. Mas quando você quer entender as consequências do ponto de vista da produção de subjetividades... Por exemplo, no caso das tecnologias de imagem se pensarmos nas clínicas de pré-natal, o que as tecnologias de imagem produziram em termos da maneira como conceituamos bebês e a relação entre mães e bebês e até mesmo sobre aborto e outras questões? Então, talvez a ANT não seja tão útil quanto as teorias foucaultianas. O que você acha?
NR: Sim, creio que você tem razão uma coisa é dizer como tudo isso é montado (assembled), e outra é falar sobre as implicações de pensarmos sobre nós mesmos dessa maneira. Pensar o que podemos fazer a nós mesmos dessa maneira. No meu trabalho atual, isso coloca questões sobre os métodos que usamos. Que tipo de método usar para isso, se pensarmos no surgimento de ideias neuroquímicas de psicopatologia, por exemplo. Que métodos usar para traçar as transformações e as formas de subjetividade a elas associadas, por exemplo. Podemos usar métodos semelhantes aos métodos históricos; olhar para o papel dos discursos especializados, de tecnologias especializadas e a maneira como estes produzem um tipo de olhar a partir do modo especializado de tornar problemas de conduta humana inteligíveis para intervir sobre eles. E, como você disse, os conceitos que usamos, os métodos que usamos não são muito distintos daqueles que usávamos anteriormente ao fazer história. Porém, com uma enorme exceção. Enquanto que, se olharmos historicamente, o tempo fez seu trabalho e há um número limitado de documentos que podemos analisar, se olharmos para o que ocorre hoje, digamos nas novas ciências do cérebro, as coisas são um pouco diferentes. Uma de minhas assistentes de pesquisa, Joelle Ab-Rached, fez algumas pesquisas a esse respeito. Há cerca de 350 a 400 revistas sobre as novas ciências do cérebro que você teria que examinar se quisesse traçar o que está ocorrendo no discurso especialista e, apenas em 2008, mais de 26.000 artigos foram publicados nessas revistas. Mesmo se quisesse verificar se há algo como um estilo de pensamento nas novas ciências do cérebro, encontraria dificuldade para mapear isso. E encontraria coisas surpreendentes: por exemplo, que mesmo na área da genética e da psiquiatria, há pelo menos dois campos opostos quanto ao que se pensa sobre o papel da genética. Há a psiquiatria genética e a genética comportamental; elas têm histórias distintas, vão a conferências distintas, publicam em revistas distintas; usam distintas formas de evidência e daí por diante. Portanto, até se apenas quisermos traçar os estilos de pensamento especializado e de intervenções especializadas, é mais difícil no presente do que seria numa perspectiva histórica. E se quisermos então perguntar que formas de subjetividade, que tipo de relações consigo mesmo são tornadas possíveis por essas novas formas de pensamento, mais uma vez isso coloca uma questão metodológica difícil. Certamente poderíamos usar o tipo de métodos textuais que usei historicamente para tentar entender isso: olhar para como as pessoas escrevem sobre si mesmas e como escrevem sobre os outros, as narrativas que contam sobre si mesmos e daí por diante. Mas isso é apenas uma parte. Sabemos, por exemplo, na área de psicopatologia, que nos últimos dez anos foram escritas, por pessoas mais ou menos conhecidas, narrativas onde a estória é mais ou menos essa: eles caíram em depressão, exacerbada por amigos que tentavam convencê-los a usar meios psicoterapêuticos para compreender o que se passava; esses não ajudaram, ficaram piores, e a resolução, no final, é sempre que aceitaram a visão de seus psiquiatras de que se tratava de uma desordem biológica e eles tomaram medicamentos e ficaram melhor. Há muitas estórias como essa. Mas se quiser olhar de forma mais geral, me parece que seríamos tentados a usar mais uma vez métodos etnográficos. Não sei se você conhece o maravilhoso livro de Emily Martin, Bipolar Expeditions.
MJ: Bipolar Expeditions, não. Conheço oFlexible Bodies, que é lindo!
NR: Então, Emily Martin,10 10 MARTIN, E. Flexible bodies: tracking immunity in American culture from the days of polio to the age of Aids. Boston: Beacon Press, 1994. MARTIN, E. Bipolar expeditions: mania and depression in American Culture. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007. de quem sou grande admirador de certo modo, trabalhamos de forma bem próxima nessas questões. Ela fez seis anos, creio, de trabalho etnográfico com pessoas que vivem com esta descrição de desordem afetiva bipolar. Ela frequentou grupos de apoio, acompanhou entrevistas diagnósticas; conviveu com a comunidade bipolar. E desenvolveu uma compreensão etnográfica bastante profunda e penetrante sobre as formas de pessoalidade que estavam sendo encorajadas e prescritas e produzidas nesse novo campo. E foi bastante revelador, embora o quanto pode ser generalizado, não sabemos. Ela disse que todos os que estavam envolvidos nesses grupos bipolares em diversos locais nos Estados Unidos tomavam por certo que sua desordem afetiva bipolar era um tipo de coisa do cérebro; todos achavam que o lócus da desordem era o cérebro; de alguma forma, era uma coisa do cérebro talvez uma coisa dos genes; talvez uma coisa de neurotransmissor. Ninguém falava sobre isso, era um pressuposto. Mas, apesar de acharem que era coisa do cérebro, as pessoas com quem ela conversou não se consideravam títeres de seus cérebros. Consideravam-se pessoas com cérebros, pessoas que podiam fazer coisas com seus cérebros, trabalhar seus cérebros especialmente por meio de drogas psiquiátricas. Portanto, o principal tópico de conversação entre as pessoas com quem ela estava falando eram drogas: o gerenciamento das drogas e o poder encorporado nas drogas. E, além do livro, ela escreveu um bonito texto sobre isso, Pharmaceutical Person, que publicamos na revista que edito, Biosocieties. Então, se lermos a descrição dos especialistas, podemos ser levados a crer que os especialistas pensam que os seres humanos são meramente produtos de sua neuroquímica ou sua neurobiologia; mas se conversássemos com clínicos, perceberíamos que eles consideram seus pacientes como pessoas com uma neurobiologia. Há uma psicologia sustentada pela neurobiologia. E se falarmos com os sujeitos, eles também pensam a si mesmos como pessoas com uma neurobiologia e não apenas cérebros sobre pernas. Eles não consideram que suas mentes são o que seu cérebro faz, mas, o que não é surpresa, pensam que são mais que isso.
Portanto, mais uma vez, trata-se do que estamos procurando explicar. Suponho que estou procurando explicar a emergência de uma maneira específica de pensar que torna certas intervenções possíveis; que possibilita que problemas sejam entendidos de certa maneira e serem gerenciados de certa maneira. Nessa direção, de certo modo, tudo volta a ser uma questão de governança. Recentemente, escrevi um texto sobre o cérebro social que apresentarei numa conferência na Dinamarca daqui a algumas semanas, que versa sobre a emergência desta ideia do cérebro como sendo social, ou formatado socialmente de um lado, mas também, de outro lado, do cérebro como um recurso social muito importante. No Reino Unido, a soma dessa ideia é a de capital mental, e o argumento é que as sociedades e os políticos têm que maximizar o capital mental de suas populações, encorajando as pessoas a maximizar seu bem-estar por meio da compreensão de todo tipo de problemas sociais quer sejam problemas de práticas educativas na infância, ou problemas de agressão em termos de coisas do cérebro; procurando agir sobre, por meio do cérebro governar pelo cérebro.
MJ: Portanto, o conceito de governamentalidade ainda está ativo; ainda faz sentido?
NR: Sim, é triste! Eu quero fugir dele! É triste.. Mas certamente se lemos os documentos de diretrizes políticas, não se pode evitar. Atualmente estou trabalhando num projeto (Professorial Research Fellowship) intitulado Brain, Self and Society in the 21st Century, que o SSRC11 11 SSRC Social Science Research Council. bondosamente me agraciou por três anos. E a hipótese desse projeto, ou a questão que lhe dá sustento, é: "se as neurociências farão, para o século XXI, o que as ciências psicológicas fizeram para o século XX". E o que as ciências psicológicas fizeram para o século XX, como sabemos, foi fornecer linguagens para compreender a nós mesmos; fornecer a base de certos tipos de competências para gerenciamento de nossos selves; proporcionar uma diversidade de maneiras de tornar problemas sócio-políticos inteligíveis e tornar possíveis programas para intervir neles; fornecer uma linguagem por meio da qual podemos nos imaginar e tornar nossas dificuldades inteligíveis, etc., etc., etc. Então a psicologia se tornou parte da máquina de governança, no sentido mais amplo de governança. E isso estaria ocorrendo com a biologização do psi neste século XXI? E em que medida ou de que maneiras esses modos psicológicos de pensar estão sendo suplantados ou sustentados por essas maneiras neurobiológicas de pensar? E certamente podemos ver empreendedores tanto morais como financeiros querendo encorajar isso. Por exemplo, os projetos para intervenção precoce de modo a dar apoio a crianças que estão em risco e prevenir problemas posteriores costumavam ser expressos em linguagem psicológica, em repertórios sobre interação entre mãe e criança e daí por diante. Agora, os mesmos argumentos estão sendo reenquadrados em termos das implicações da interação mãe-criança, desde a concepção e durante a infância, para o desenvolvimento do cérebro da criança. O meu primeiro emprego foi na National Society for the Prevention of Cruelty for Children e havia todos aqueles filmes que assistíamos sobre boas mães e as más mães, e a boa mãe era aquela que segurava a criança no colo e a fitava nos olhos e balbuciava e repetia para a criança suas fala e gestos, e isso criava uma certa intersubjetividade psicológica. A mãe má também procurava confortar a criança mas frequentemente a segurava com a face voltada para a frente, meio que dependurando-a, estimulando, segurando coisas em frente a ela etc., mas não fazendo aquele negócio intersubjetivo. Bem, agora vemos exatamente os mesmos filmes agora em cores e não mais em branco e preto! mas o que está ocorrendo entre mãe e criança é o espelhamento, que está formatando o sistema neural de espelho no cérebro, e é o sistema neural de espelho que cria a capacidade de empatia e de sentimentos de cuidado para com o outro e todos aqueles sentimentos sociais que são tão essenciais para ser um ser humano adaptado no mundo social. E desordens como o autismo e a esquizofrenia e muitas outras são agora concebidas como desordens do cérebro social, geradas por alguma anomalia genética ou pelo tipo de interação que a criança tem com outros que a circundam em sua tenra idade. Mais uma vez, mas de maneira diversa, o argumento enfatiza interações precoces de modo a procurar diminuir esse dano. Portanto, certamente vemos os argumentos das neurociências serem absorvidos por uma diversidade de áreas. Obviamente na psiquiatria na psiquiatria infantil, no caso de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade , mas também em outras áreas. É uma questão aberta: se todo esse entusiasmo neuroeconomia, neuromercado, trabalho neurosocial, neuropsiquiatria e todos empenhos que agora adotaram o prefixo "neuro" onde e como e em que medida se fixarão, encontrarão uma base de apoio, ou se será menos transformativo do que argumentam seus proponentes. Pode-se tomar como exemplo a medicina genética onde, há dez anos, todos pensavam, certo, vamos entender desordens complexas comuns; vamos encontrar a base genética de desordens complexas comuns e vamos então poder moldar os fármacos de modo a focalizar a base genética dessas desordens complexas comuns e isso será uma enorme revolução na prática biomédica. E não ocorreu, porque acontece que o genoma é um pouco mais complicado do que isso. E é possível que algo parecido aconteça ao regime neurobiológico; que sistemas e mecanismos sejam mais complicados do que se supõe e essas tentativas de simplificá-los falharão.
MJ: Há outros problemas. Pensando, por exemplo, em poderes pastorais, como lidar com as pessoas de modo preventivo quando se trata do cérebro, do novo cérebro neuroquímico? O que é promoção da saúde nesse contexto? Uma vez que seu filho tem um problema, posso entender como pode ser tratado; mas como lidar com o lado preventivo, o lado promocional?
NR: Bem, de um lado, o que vemos emergir aqui, tal como em tantas outras áreas, é o que chamo de "triar (screen) e intervir" e não mais "disciplinar e punir". Portanto, screen, screen, screen, screen, screen. Nosso Primeiro Ministro disse que o Sistema Nacional de Saúde sempre foi voltado às doenças; mas deveria ser um serviço de saúde. Um serviço de saúde, nesse sentido, implica screen suscetibilidades para doenças, identificar condições cedo, antes de se manifestarem, e então intervir de modo a prevenir que se manifestem. E quem pode objetar a isso? A não ser pelo fato de que tudo que sabemos sobre screening significa que screening amplia a rede e estreita a malha, diminui o limiar de intervenção e daí por diante. E se estivermos screening crianças para detectar problemas comportamentais futuros e intervindo cedo, temos uma grande quantidade de argumentos sociológicos, psicossociais bastante convencionais a respeito do que podem ser as implicações para a gurizada. Acrescente-se a isso o fato de que estamos em um mundo de precaução; iremos superalargar nossa rede ao invés de restringir nossa rede. E, em resposta à sua pergunta, como interviremos, bem, podem-se retreinar as mães em geral são as mães! ou pode-se intervir com fármacos.
MJ: Uma vez que tivermos screened.
NR: Uma vez que tivermos screened. Com relação à promoção do cérebro saudável, bem você poderá ler o relatório intitulado Mental Capital and Wellbeing,12 12 Os resultados finais do projeto do Foresight sobre Capital Mental e Bem-Estar (Mental Capital and Wellbeing) foram apresentados em 22 de outubro de 2008. www.foresight.gov.uk. recém-produzido pelo escritório Foresight do governo do Reino Unido...
MJ: Como se chama?
NR: Acho que se chama Mental Capital and Wellbeing. Foi publicado há uns dois meses, talvez seis semanas atrás, por uma das equipes Forsight que temos aqui no Reino Unido. Em parte, o que vemos é a reciclagem ou reenquadramento, em termos neurobiológicos, do que havíamos visto no movimento de higiene mental. Deveríamos ter locais de trabalho saudáveis que encorajam as pessoas a usar bem seus cérebros, e deveríamos ter famílias saudáveis que encorajam as pessoas a usar bem seus cérebros, e deveríamos ter uma espécie de neuro-higiene, que é um pouco parecida com higiene mental, porque temos que promover o bem-estar, o que significa um cérebro saudável. E então, à medida que as pessoas envelhecem, devemos promover o uso do cérebro ativo um conjunto de técnicas como ginástica cerebral e coisas semelhantes para assegurar que o cérebro permaneça estimulado, porque sabemos que a estimulação do cérebro pode ser neuroprotetora em alguma medida. Deveríamos aconselhar as pessoas a evitar tudo que sempre aconselhamos evitar, como drogas, fumo e coisas semelhantes, porque serão danosas. Portanto vemos, sim, tentativas de produzir promoção da saúde de tipo neuroprotetora. Mas concordo que uma das vantagens do psicológico sempre foi de que o psicológico é maleável; porém o que estamos vendo nas ciências biológicas e biomédicas e da vida e até certo ponto nas neurobiológicas é o argumento de que o cérebro e o corpo são maleáveis. Que biologia não é destino, e dizer que algo é biológico é abrir-se à possibilidade de intervenção e transformação. De não dizer "está em sua biologia, você está frito". Vemos isso em genética, especialmente com a substituição do determinismo por suscetibilidade, quando o diagnóstico de suscetibilidade não significa mais dizer que está predestinado mas dizer "podemos fazer algo sobre isso, podemos intervir"; é enquadrado em termos do uso do conhecimento biológico de modo a intervir.
MJ: Se for esse o título do documento, que maravilha... Capital Mental?
NR: Capital Mental.
MJ: Portanto, biopolítica. Aliás, bioeconomia.
NR: Sim, é bioeconomia. Eu sou coordenador de algo chamado European Neuroscience and Society Network, e em nosso primeiro encontro, cerca de um ano atrás, tivemos uma excelente palestrante do European Brain Council. Ela argumentou, como faz muita gente da saúde pública nessa área, que "desordens do cérebro" (como ela as denominou) não diagnosticadas e não tratadas que inclui tudo, desde desordens da ansiedade até demências essas desordens do cérebro contabilizam um enorme custo econômico em toda a Europa. E, portanto, os governos deveriam intervir por meio dessas modalidades de capital mental ou bem-estar mental, de forma a minimizar esses custos. Os que assim pensam argumentam que os custos de intervir para promover o bem-estar mental seriam compensados, em muito, pela redução de dias de trabalho perdidos e em depressão etc., etc., etc. E ela foi bastante explícita a respeito de uma parcela disso, que significa dizer que os serviços de psiquiatria têm sido mal apoiados em termos orçamentários, e se quisermos que políticos invistam dinheiro nesses serviços, teremos que demonstrar a eles que há um enorme custo aí envolvido que eles podem, de certo modo, minimizar financiando esses serviços.Portanto, até certo ponto é estratégico ao tentar conseguir dinheiro para serviços que pensamos poder trazer algum benefício para o mundo. Até certo ponto, isso faz parte da lógica da saúde pública. Porém, envolve codificar todas essas condições, sejam elas depressões leves a moderadas ou as ansiedades, não apenas como desordens mentais, mas como desordens do cérebro.
MJ: E o que seria um cérebro normal? Quem define normalidade nesse contexto?
NR: Bem, muitos tomam esses dados como exagerados e a maioria dos psiquiatras praticantes os toma com cautela. Mas, se olharmos as estimativas feitas tanto nos Estados Unidos como na Europa, referindo-me aqui à população geral, que não está em contato com serviços psiquiátricos, temos dados que indicam que cerca de 25% da população geral, não restrita aos serviços psiquiátricos, sofrerão de alguma desordem diagnosticável pelo DSM-IV no curso de quaisquer 12 meses. E 50% no curso da vida. Isso levanta a questão do que vem a ser normalidade. Ontem mesmo eu estava falando com alguém sobre desordens da personalidade, porque o Wellcome Trust está fazendo algo a esse respeito, e desencavei a estatística de que 14,1% de norte-americanos adultos, em um survey conduzido três ou qautro anos atrás, foram considerados como sofrendo de alguma desordem de personalidade transtorno obsessivo compulsivo, personalidade histérica. Claro, essas estimativas são feitas usando o critério do DSM-IV, transformando-os em listas de itens e telefonando para as pessoas perguntando "nos últimos 12 meses você sentiu isso, sentiu aquilo ou aquilo outro" simplesmente lendo os critérios definidos no DSM. Geram esses dados superinflacionados, porque levam as pessoas a recodificar suas experiências e doenças nesses termos.
MJ: Verdade! E um pouco preocupante porque isso leva a outra questão, novamente no aspecto conceitual, porque há uma questão ética a esse respeito. Se avaliamos e intervimos, e alguém define quais são os limiares, obviamente há preocupações éticas graves. Que não podem ser e mais uma vez concordo com você deixadas apenas para os comitês de bioética, que são meramente listagens de problemas com as pesquisas ou intervenções.
NR: Quero dizer algo em defesa de alguns comitês de bioética! Sou membro do Nuffield Council on Bioethics, que produziu algumas avaliações muito cuidadosas dessas situações que não são exatamente éticas ou filosóficas, mas estão tentando lidar com essas questões. Creio que deveríamos iniciar a partir da posição que de fato fazemos juízos sobre o valor de tipos diversos de vida. Por razões que agora não recordo, escrevi um tempo atrás um pequeno texto sobre o valor da vida. E foi um desses textos que, sabe, temos que produzir um tanto quanto rapidamente. Então, de forma um pouco patética, fiz uma pesquisa no Google sobre "valor da vida" e a primeira coisa que apareceu foi o falecido Papa João Paulo II, que havia emitido uma encíclica argumentando fortemente que toda vida tinha valor igual. Que qualquer esforço de diferenciar o valor da vida violava o princípio teológico básico de que toda vida tem o mesmo valor. E prosseguia criticando os médicos que faziam diagnósticos genéticos pré-implante ou coisas semelhantes, ou aborto. Porém, sabemos que, não obstante quão convincente isso possa ser enquanto princípio abstrato absoluto, toda vez que uma família ou uma mulher escolhe fazer uma amniocentese, trata-se de uma decisão que implica que uma tipo de vida é pelo menos potencialmente mais valiosa que outro tipo de vida. Decerto, toda vez que vamos à academia e praticamos exercícios, estamos fazendo um julgamento de que o valor de uma vida saudável é maior que o valor de uma vida menos saudável. Toda vez que fazemos algo para nos manter em forma e ativos ou toda vez que ingerimos um fármaco na esperança de que poderemos mudar um estado desesperado de miséria para uma infelicidade comum, estamos fazendo uma decisão a respeito de que vidas têm mais valor que outras. Portanto, é interessante que consideramos tão difícil aceitar e articular isso. No entanto, está incorporado em tantas práticas distintas; é a premissa, premissa não verbalizada, de tantos tipos diversos de práticas. E acho que é uma característica intrigante de nossa sociedade que isso está tão presente e não se pode falar a respeito. O fato de que valorizamos diferentemente tipos distintos de vida não pode ser dito. E, é claro, isso tem consequências em relação a screening e daí por diante.Tem consequências no final da vida. Não consigo lembrar os números, mas algo como um terço das despesas dos serviços de saúde com um indivíduo qualquer será gasto nos últimos seis meses de sua vida. E, no entanto, argumentar que esse dinheiro não deveria ser gasto, que deveríamos permitir que um indivíduo morra, para ao bem de todos que de algum modo precisam desse dinheiro digamos, as crianças é algo tremendamente difícil. Talvez você conheça Mary Warnock, que presidiu o Warnock Committee,o famoso comitê britânico que formulou a regra dos 14 dias que permitiu fazer experimentos com material reprodutivo humano até 14 dias da formação da linha primitiva (primitive streak) e isso foi muito importante para a embriologia e, mais tarde, para o desenvolvimento da pesquisa com células-tronco e coisas tais no Reino Unido. Então, essa mulher brilhante e sábia ela agora está com 80 e tantos anos gerou manchetes chocantes e horríficas no outono de 2008, porque foi citada como tendo afirmado que deveríamos deixar morrer pessoas nos estágios avançados de demência e até mesmo ajudá-las a morrer, ou até mesmo que elas tinham o dever de morrer, não apenas para amenizar o fardo colocado sobre as pessoas amadas e as que cuidavam delas, mas também pelo peso colocado nos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Porque o custo de mantê-las vivas ela estava se referindo especificamente às pessoas com demência era um custo a ser suportado por outros.13 13 TELEGRAPH, 18 Sep 2008. Baroness Warnock: Dementia sufferers may have a "duty to die". Elderly people suffering from dementia should consider ending their lives because they are a burden on the NHS and their families, according to the influential medical ethics expert Baroness Warnock. http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2983652/Baroness-Warnock-Dementia-sufferers-may-have-a-duty-to-die.html Obviamente, a ideia de uma vida que não vale a pena ser vivida nos remete aos debates na Alemanha no começo do século XX. É uma frase assustadora "vidas que não merecem serem vividas". Nesse texto sobre o valor da vida, também examinei alguns casos não sei você os conhece de nascimentos injustos e de vidas injustas nos quais as crianças e suas famílias processam seus médicos, ou, às vezes, as crianças processam seus pais e seus médicos, por não terem feito os testes de screenning que teriam possibilitado terminar a vida da criança. Crianças que processam seus pais por terem dado à luz, reivindicando que sua vida não era merecedora de vida. Há vários casos desse tipo, alguns na Europa. Claro, a razão subjacente em todos esses casos é extrair compensação de companhias de seguro, portanto não são assim tão chocantes como parecem ser. Mas colocam os juízes numa posição horrível; vemos alguns debates angustiantes entre juízes que são forçados a declarar se deveria ou não ter sido melhor para essa criança ter sido no melhor interesse da criança não ter nascido. E, por conseguinte, a criança deveria ser compensada de alguma maneira pelo fato de ter nascido.
MJ: Muito complicado! Por sinal, eu não estava me posicionando contrariamente aos comitês de ética. Mas no Brasil eles se tornaram bastante burocráticos. Tudo tem que passar por um comitê de ética em pesquisa; isso, de certo modo, paralisa a reflexão crítica sobre as questões éticas envolvidas na pesquisa.
NR: Concordo que aquele comitês de ética que requerem simplesmente que se preencha páginas e páginas e páginas são barreiras para a reflexão ética. Há muitos argumentos interessantes e importantes sobre as razões de sua emergência. Mas a maneira em que operam tem pouco a ver com assegurar a probidade ética da pesquisa. Tem muito a ver com a proteção de todos que estão envolvidos hospitais, médicos, pesquisadores de litígios futuros.
MJ: A questão é: quem define o valor da vida? Isso nos remete ao screening e a quem decide. Por exemplo, vocês tiveram um caso recente de alguém que queria terminar sua vida por causa de uma doença degenerativa. Ela estava com pleno controle de sua capacidade mental para tomar decisões. Mas isso não é permitido na Inglaterra.
NR: Bem, penso que há também alguns casos muito interessantes. E esses casos, de modo algo paradoxal, vão na contramão do individualismo que muitos imaginam que caracteriza esse tipo de área. Porque muitas vezes o argumento é e houve casos que receberam muita publicidade que, sim, esse indivíduo específico tem capacidade mental plena e se fossem fisicamente capazes de dar fim à sua própria vida porque o suicídio é legalizado seriam permitidos fazê-lo. Mas o argumento prossegue, o que aconteceria se permitíssemos que outros dessem fim à vida de pessoas nessas condições, quando essas o requisitassem? Enquanto que, para algumas pessoas, isso poderia ser totalmente apropriado e realmente baseado em seus desejos, haveria consequências para outras tantas pessoas, que poderiam se sentir pressionadas por suas famílias e parentes, ou seja lá quem, a pedir para dar fim a suas vidas. Portanto, essa pessoa específica, com capacidade mental plena, que solicitou à corte permissão para que alguém desse fim à sua vida porque sente que seu sofrimento faz com que sua vida não valha à pena teve seu pedido indeferido. De certo modo, o sofrimento desse indivíduo a quem não foi permitido o suicídio assistido por médico tem como efeito proteger todas aquelas pessoas desconhecidas que, se o suicídio assistido fosse permitido, se sentiriam pressionadas a pedir a alguém para ajudá-los a morrer; que diriam, "eu sou um fardo para minha família, quero dar um fim à minha vida". Mesmo que não sentissem isso. Usualmente, não sou um admirador do raciocínio legalista, mas as formas de raciocínio legal usadas nesses casos assaz difíceis são bastante sofisticados. No Reino Unido, já há muitos anos, estamos envolvidos nesses debates sobre suicídio assistidos por médicos debates angustiantes. O mais recente foi o de uma mulher que queria garantia do [equivalente ao] Ministério Público de que seu parceiro não seria processado se a ajudasse a morrer quando sua condição [física] se deteriorasse, e não conseguiu tal garantia.14 14 THE WEEK, n. 729, 22 de agosto de 2009. De acordo com notícia que foi foco de debate sobre a opção por terminar a vida, Debbie Purdy, com quadro de esclerose múltipla, argumenta que é uma quebra de seus direitos humanos não saber ao certo se seu marido seria condenado juridicamente se a ajudasse a cometer suicídio.
MJ: Sim, são casos muito complicados.
NJ: Minha colega, Emily Jackson, que está envolvida em nosso centro de pesquisa, ganhou bastante publicidade recentemente ao argumentar que algumas formas de vida não valem à pena serem vividas. E, a não ser que tivéssemos um compromisso teológico absoluto quanto ao valor de qualquer vida, era totalmente possível afirmar que algumas formas de existência eram piores que não existir.15 15 JACKSON, E. Secularism, Sanctity and the Wrongness of Killing. Biosocieties, v.3, n.2, June 2008, p 125-145., E ela argumentava de maneira clara e convincente que isso deveria ser aceito pela lei e, a partir disso, regulamentado; portanto, os advogados, a despeito das dificuldades, precisavam tentar encontrar maneiras de enquadrar os regulamentos que possibilitariam tal reconhecimento. Porque, como penso que ela diz embora não tenha colocado dessa maneira , em torno de três quartos de nós teremos nossas vidas terminadas por médicos. Quero dizer, morreremos num hospital ou em outro tipo de instituição médica como uma casa de repouso. E morremos apesar de que alguma outra intervenção poderia ter prolongado nossa vida em uma hora, um dia, uma semana, um mês. Alguém um médico tomará essa decisão, ou não-decisão, o que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que dizer que três quartos de nós seremos mortos por nossos médicos, mas é esse contexto médico que precisa ser entendido. Em resposta à sua pergunta, quem toma a decisão... Bem, de maneira meio tradicional, sempre fui de certa maneira um defensor dos médicos nessas situações. Nas décadas de 1970 e 1980, os cientistas sociais dedicaram muita energia para criticar os médicos por tomarem decisões morais. "Que direito tem você, que tem apenas um treinamento médico, de tomar essa decisão moral de permitir que meu avô morra, durante a noite, por exemplo, tirando o travesseiro e assim tornando a morte por insuficiência respiratória mais provável?" Em certo sentido, o médico, em sua pessoa, integrava uma série inteira de outras considerações: o treinamento médico, sua experiência na assistência a muitos outros nessa mesma situação, o conhecimento que tinha sobre esse indivíduo, o conhecimento que tinha sobre a família, o conhecimento a respeito do prognóstico e daí por diante. E o médico tinha a responsabilidade e assumia a responsabilidade.
MJ: Mas é um contexto negociado. Ele não assume a responsabilidade sozinho.
NR: Concordo. Recentemente, é a equipe [que assume responsabilidade] e não apenas o médico. Mas agora o médico está circundado por todos esses bioeticistas e regulamentadores, e a sombra da lei cai pesadamente...
MJ: Agora ele será processado se
NR: Portanto, os médicos não podem tomar tal decisão na surdina, profissionalmente, e carregar o fardo profissional e pessoal disso, não creio que isso nos coloque numa situação melhor.
MJ: Posso perguntar, para finalizar, pois já estamos avançando no tempo, o que é essa sua nova pesquisa sobre o cérebro social. O que planeja fazer, quais são os objetivos?
NR: Bem, essa nova pesquisa visa a fazer a pergunta que mencionei anteriormente: será que as neurociências farão pra o século XXI o que as ciências psi fizeram para o século XX? Trata-se de uma pergunta fácil, mas tremendamente difícil de responder. Especialmente porque o século XXI ainda não tem nem dez anos, e quem sabe como será quando estivermos bem no meio dele. Portanto, estou procurando traçar a emergência desses novos estilos de pensamento sobre o cérebro. E a coisa interessante sobre esses novos estilos de pensamento sobre o cérebro é que eles retratam o cérebro como muitíssimo aberto, sumamente maleável, sumamente plástico, passível de ser transformado e de transformar interações sociais de todos os tipos. É, talvez, o mais maleável dos órgãos o cérebro é um órgão, mas é eminentemente maleável, um órgão aberto. Portanto, de diversas maneiras o que estamos vendo é algo parecido como o que vimos quando a genética se transformou em genômica e pós-genômica. Ao invés de ser um tipo de complemento fixo que determinava os seres humanos de modo fatalista, o biológico, seja lá o que for isso, é muito mais dinâmico, aberto, passível de transformação. E para todos que trabalham nessa área não, não para todos, mas para os mais interessantes entre aqueles que trabalham nessa área isso torna essas novas ciências do cérebro tremendamente otimistas. No passado, quando éramos todos,voltando aos meus dias como um radical na universidade, leitor de Ronnie Laing e tipos semelhantes de autores, a pior coisa que podíamos pensar era que alguém pudesse argumentar que a esquizofrenia era uma desordem do cérebro, porque isso significava que era provavelmente genético, inscrito de alguma forma de modo imutável num órgão e que era completamente fatalista e nada poderia ser feito a não ser colocar pessoas numa camisa de força química, sabe, cassetetes químicos e coisas semelhantes. Ao passo que, agora, o argumento é que essas desordens tão incapacitantes são mediadas por, arraigadas em, organizadas por, calcadas no não sabemos o que nenhuma dessas metáforas significa cérebro, na biologia. Tal argumento não é um argumento de fatalidade. Claro, ninguém sabe o que essas frases calcada em, mediada por, formatada pelo cérebro , o que essas metáforas significam. E vemos as pessoas lutando para tentar lhes dar sentido. Então estou procurando meramente cartografar essas lutas, essas maneiras de pensar: como vieram a ser e quais suas implicações. De um lado, olhando um pouco para trás, algo que é óbvio mas eu não sabia, o termo neurociência foi inventado apenas na década de 1960, como um projeto para juntar o psicológico, o biofísico, o genético, o estatístico e toda uma série de disciplinas. As pessoas começaram a dizer, vamos juntar todas essas coisas e chamá-las de neurociência. A partir de então, vimos esse campo decolar. Então, em parte, o que estou procurando fazer é um pouco arqueológico. Mas tem também um ímpeto genealógico, porque visa a perguntar em que sítios institucionais, em relação a que problemas essa neurociência tomou forma. E como difere das ciências psicológicas, o argumento é que foram formatadas em volta de sítios problemáticos muito específicos no exército, hospital, escola e daí por diante. Não creio que se possa afirmar o mesmo em relação às neurociências. Portanto [a pesquisa] é, em parte, histórica; depois procura ver como alguns pesquisadores, especialmente na psicologia social, abraçam essa virada "neuro" tão entusiasticamente. Eles pensam algo como "finalmente temos o substrato objetivo de todas essas coisas sobre as quais estamos falando há tanto tempo", e agora finalmente pode ser uma ciência de fato. E, em parte, estou olhando para o lado tecnológico as tecnologias de imagem foram absolutamente cruciais para essa virada "neuro" na psicologia social e em outras [disciplinas]. Em parte estou procurando ver onde esses argumentos estão sendo incorporados e como estão sendo transformados na medida em que saem da clínica e do laboratório e chegam à sociedade. E, é claro, também estou olhando na outra direção como os problemas estão sendo transportados das práticas sociopolíticas específicas para o laboratório. No Reino Unido, nesse momento, há um grande programa de pesquisa neurobiológica sobre Desordens de Personalidade Antissocial. Isso está relacionado ao argumento do cérebro social retoma um aspecto que você mencionou anteriormente se o cérebro é formatado socialmente, então se reorganizarmos o input social, podemos reformatar o cérebro. Assim, temos um programa que pode ser operacionalizado de modo a tornar cérebros mais saudáveis.
MJ: Portanto, você não vai focalizar apenas os discursos especializados; vai focalizar também os contextos institucionais?
NR: Sim, tenho uma pequena equipe de pesquisa aqui. Então, alguém irá aos sítios institucionais onde há unidades voltadas a personalidades perigosas e severas para ver o que está ocorrendo nesses lugares. Estou trabalhando principalmente em psiquiatria e saúde mental, nessa área. Minha assistente de pesquisa, Joelle Abi Rached, além de dar um maravilhoso apoio a tudo, está trabalhando especificamente sobre memória e sobre a ideia de memória e as transformações que estão ocorrendo na ideia de memória é claro, memória e pessoalidade estão intrinsecamente relacionadas. Minha colega, Ilina Sing e eu estamos trabalhando um pouco na ideia de marcadores biológicos, e screening e intervenções.16 16 SINGH, I. A.; ROSE, N. Biomarkers in Psychiatry, Nature, v. 406, p. 202-207, 2009. Ela está trabalhando com marcadores em crianças para transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de personalidade, e estou fazendo um pouco de pesquisa sobre marcadores biológicos para demência sobre a emergência dessa categoria classificatória de marcador de desvantagem cognitiva e da sugestão de que tal marcador é um precursor do desenvolvimento de Alzheimer, e sobre tentativas de desenvolver formas de screening para marcadores de desvantagem cognitiva visando a formas de intervenção... Uma área cheia de controvérsias. Então, é aí que estamos nesse momento.
MJ: Muitíssimo obrigada. Foi fascinante conversar com você sobre essas questões.
Publicações selecionadas:
Notas
Nikolas Rose ocupa a catédra James Martin White de sociologia no London School of Economics and Political Science (LSE) e é diretor do BIOS - Centre for the Study of Bioscience, Biotechnology and Society. Suas publicações são numerosas e versam sobre a história social e política das ciências humanas, e sobre as transformações nas racionalidades e técnicas de poder político.
- ROSE, N. Inventing ourselves: psychology, power and personhood New York: Cambridge University Press, 1996.
- ROSE, N. Governando a alma: a formação do eu privado. In: SILVA, Tomaz T. da (Org.). Liberdades reguladas Petrópolis: Vozes, 1998. p. 30-45.
- ROSE, N. Inventando nossos eus. In: SILVA, T. T. D. (Org.). Nunca fomos humanos: nos rastros dos sujeitos. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. p.137-204.
- ROSE, N. Como se deve fazer a história do eu? Educação & Realidade. Porto Alegre, v. 26, n. 1, p. 34-57, jan./jun.2001.
- ROSE, N. The Politics of life itself: biomedicine, power and subjectivity in the twentieth-first century. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2007.
- MILLER, P.; ROSE, N. Governing the present: administering economic, social and personal life. Cambridge, UK: Polity, 2008.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
21 Maio 2010 -
Data do Fascículo
2010