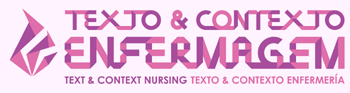RESUMO:
Objetivo:
analisar as implicações da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Método:
trata-se de um estudo de reflexão pautado nas políticas e literatura recente relacionada ao tema.
Resultados:
as mudanças estruturais alteram o fluxo de atendimentos, bem como apontam competências para os profissionais que atuam nos pontos de atenção. Considera-se a articulação desses pontos de atenção como princípio para que o sistema funcione integrado, de forma a assegurar a integralidade do cuidado às pessoas com deficiência. Em contrapartida, nos campos de prática, ainda se observa a persistente desarticulação desses componentes por se limitarem a prestar cuidados às pessoas com deficiência isoladamente em seus espaços de atuação. Pautou-se na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, norteadora das ações de reabilitação institucional e domiciliar, que assegura a essas pessoas acesso a cuidados e assistência integral, interdisciplinar e intersetorial, essenciais ao processo de reabilitação e inclusão social.
Conclusão:
conclui-se que essa reflexão representa uma contribuição para que os profissionais que atuam na área sejam melhor orientados sobre suas competências, responsabilidades e ações fundamentais junto aos usuários da rede.
DESCRITORES:
Atenção primária à saúde; Pessoas com deficiência; Serviços de reabilitação; Políticas públicas de saúde; Cuidados de enfermagem
RESUMEN
Objetivo
analizar las implicaciones de la Red de Cuidados de la Persona con discapacidad en el ámbito del Sistema Único de Salud.
Método
se trata de un estudio de reflexión pautado en las políticas y literatura reciente relacionada al tema.
Resultados
los cambios estructurales alteran el flujo de atención, así como apuntan competencias para los profesionales que actúan en los puntos de atención. Se considera la articulación de esos puntos de atención como principio para que el sistema funcione integrado, a fin de asegurar la integralidad del cuidado a las personas con discapacidad. En cambio, en los campos de práctica, aún se observa la persistente desarticulación de esos componentes por limitarse a prestar cuidados a las personas con discapacidad aisladamente en sus espacios de actuación. Se basó en la Política Nacional de Salud de la persona con discapacidad, orientadora de las acciones de rehabilitación institucional y domiciliar, que asegura a esas personas acceso a cuidados y asistencia integral, interdisciplinaria e intersectorial, esenciales al proceso de rehabilitación e inclusión social.
Conclusión
se concluye que esa reflexión representa una contribución para que los profesionales que actúan en el área sean mejor orientados sobre sus competencias, responsabilidades y acciones fundamentales junto a los usuarios de la red.
DESCRIPTORES
Atención primaria de salud; Personas con discapacidad; Servicios de rehabilitación; Políticas públicas de salud; Cuidados de enfermería
ABSTRACT
Objective:
to analyze the implications of the Care Network for the Disabled Person with Disabilities within the Unified Health System.
Method:
it is a reflection study based on recent policies and literature related to the theme.
Results:
the structural changes change the care flow, as well as point out abilities for the professionals who work in the care points. The articulation of these care points is considered the principle for the system to function in an integrated way, in order to ensure the comprehensiveness of the care provided for people with disabilities. On the other hand, in the fields of practice, the persistent disarticulation of these components is still observed because they are limited to caring for people with disabilities in their own areas of activity. It was based on the National Policy on the Health of People with Disabilities, guiding the institutional and home rehabilitation actions, which assures these people access to comprehensive, interdisciplinary and intersectoral care and assistance, essential to the process of rehabilitation and social inclusion.
Conclusion:
it is concluded that this reflection represents a contribution so that the professionals who work in the area are better guided regarding their competencies, responsibilities and fundamental actions with the users of the network.
DESCRIPTORS:
Primary health care; Disabled people; Rehabilitation services; Public health policies; Nursing care
INTRODUÇÃO
No Brasil, em 2010, registrava-se maior incidência de todos os tipos de deficiência na população de 65 anos ou mais, demonstrando estreita relação entre o processo de envelhecimento e a consequente perda de funcionalidade. Essa situação requer implementação e subsequente ampliação da rede de serviços de reabilitação para atender a crescente demanda da população brasileira, tanto de idosos quanto de pessoas com algum tipo de deficiência.11 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico: Resultados preliminares da amostra. [Internet]. 2010 Ago [cited 2016 Jul 21]; Available from: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminaresamostra/default_resultados_preliminares_amostra.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/...
Diante desse panorama, 23,9% possuem pelo menos uma das deficiências: visual, auditiva, motora, mental ou intelectual, sendo em primeiro lugar a deficiência visual afetando 18,6%; em segundo lugar está a deficiência motora, ocorrendo em 7,0%, seguida da deficiência auditiva, em 5,10% e da deficiência mental ou intelectual, em 1,40%.22 Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 2010. [Internet]. 2012 Set [cited 2016 Jul 21]; Available from: http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20051111_485.pdf
http://www.mte.gov.br/legislacao/portari...
A reabilitação é a área responsável por possibilitar o treino de novas habilidades às pessoas que delas se utilizam, tornando possível o enfrentamento dos obstáculos cotidianos. É reabilitar e habilitar alguém novamente de algo que foi perdido e, para tanto, é fundamental o trabalho de uma equipe multidisciplinar, envolvendo profissões das mais diversas áreas -humanas, biológicas e exatas.33 Silva GA, Schoeller SD, Gelbcke FL, Carvalho ZMF, Silva EMJP. Functional assessment of people with spinal cord injury: use of the functional independence measure - FIM. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2012 Dez [cited 2016 Out 08]; 21(4):929-36. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072012000400025.
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072012...
Na realidade brasileira, os serviços públicos de saúde de reabilitação ainda se caracterizam pela fragmentação e descontinuidade assistencial. Em decorrência de fragilidades na articulação entre as instâncias gestoras do sistema, a gerência dos serviços e as equipes profissionais que atuam na ponta,44 Oliveira MAC, Pereira IC. Primary Health Care essential attributes and the Family Health Strategy. Rev Bras Enferm [Internet]. 2013 Sep [cited 2016 Oct 08]; 66(spe):158-64. Available from:. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700020
http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013...
faz mister considerar a premência na organização, planejamento e execução de intervenções pautadas nas diretrizes da rede de cuidados.
Realidade adversa ao apregoado nas políticas públicas brasileiras de saúde, considerando o papel da Atenção Básica à Saúde (ABS) como porta de entrada do sistema em rede, coordenando intervenções do primeiro nível de atenção e procedendo respectivos encaminhamentos para demais pontos de atenção da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Integração que favorecerá a gestão coordenada do cuidado, promovendo a integralidade aos seus usuários, a articulação de ações de promoção da saúde e prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos.55 Alencar MN de, Coimbra LC, Morais APP, Silva AAM da, Pinheiro SRA, Queiroz RCS. Evaluation of the family focus and community orientation in the Family Health Strategy. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2014 Fev [cited 2016 Out 08]; 19(2):353-64. Avaiable from: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014192.08522012.
http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320141...
Buscando reverter esse quadro de fragmentação e descontinuidade do cuidado e assistência da população, a reorientação do modelo de atenção à saúde no Brasil tem como principal estratégia a estruturação de uma rede primária de atenção baseada na Estratégia da Saúde da Família (ESF) e que dê cobertura às necessidades de saúde da população.66 Costa JSD, Pattussi MP, Morimoto T, Arruda JS, Bratkowski GR, Sopelsa M, et al. Tendência das internações por condição sensível à atenção primária e fatores associados em Porto Alegre, RS, Brasil. Ciênc Saúde Coletiva[Internet]. 2016 [cited 2017 Out 08]; 21(4):1289-96. Available from: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000401289
http://www.scielosp.org/scielo.php?scrip...
De acordo com a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, a assistência a essas pessoas deve se pautar no pressuposto de que, além da necessidade de atenção à saúde específica da sua própria condição, esses indivíduos também podem ser acometidos por doenças e agravos comuns aos demais, necessitando, portanto, de outros tipos de serviços além daqueles estritamente ligados à sua deficiência. Nesse sentido, a assistência à saúde da pessoa com deficiência não poderá ocorrer somente nas instituições específicas de reabilitação, devendo ser a ela assegurado o atendimento em toda a rede de serviços no âmbito do (SUS).77 Machado WCA, Figueiredo NMA, Barbosa LA, Machado MCI, Shubert CO, Miranda RS. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. In: Figueiredo NMA, Machado WCA, organizadores. Tratado de Cuidados de Enfermagem. São Paulo (SP): Editora Roca; 2012. v. 2, p. 2502-39.
Estudo realizado nos Estados Unidos88 Bailey J, Dijkers MP, Gassaway J, Thomas J, Lingefelt P, Kreider SED, Whiteneck G.. Relationship of nursing education and care management inpatient rehabilitation interventions and patient characteristics to outcomes following spinal cord injury: the SCIRehab project. J Spinal Cord Med [serial on the Internet] 2012 Nov [cited 2015 Nov 26]; 35(6): [about 7 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3522899/?report=classic
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...
apontou orientações prestadas por enfermeiros, aos pacientes com lesão medular e seus familiares, sobre cuidados domiciliares, com enfoque na gradativa autonomia funcional para o autocuidado e superação dos desafios para vida independente.
A busca de conhecimento sobre a complexidade que envolve o cuidado e assistência integral da pessoa com deficiência tem sido registrada em diversos países. Na Alemanha,99 Rollnik JD, Janosch U. Current trends in the length of stay in neurological early rehabilitation. Dtsch Arztebl Int [serial on the Internet] 2010 Apr [cited 2015 Nov 30], 107(16): [about 6 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868985/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...
foi realizado estudo para o aprimoramento dos instrumentos de avaliação do tempo de permanência dos pacientes com lesão neurológica incapacitante, internados em hospitais especializados, com vistas no encaminhamento para serviços especializados de reabilitação. Da mesma forma, estudo voltado para identificação de melhores ações interprofissionais das equipes de reabilitação, realizado no Canadá,1010 Mazer B, Kairy D, Guindon A, Girard M, Swaine B, Kehayia E, Labbé D. Rehabilitation Living Lab in the Mall Community of Practice: Learning Together to Improve Rehabilitation, Participation and Social Inclusion for People Living with Disabilities. Sabariego C, Cieza A, Bickenbach JE. Int J Environ Res Public Health [serial on the Internet] 2015 Apr [cited 2015 Dec 14];12(4): [about 21 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410257/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...
ou estudo objetivando avaliação da qualidade dos serviços de saúde e cuidados primários, realizado em cinco regiões da Itália,1111 Manzoli L, Flacco ME, De Vito C, Arcà S, Carle F, Capasso L, Marzuillo C, Muraglia A, Samani F, Villari P. AHRQ prevention quality indicators to assess the quality of primary care of local providers: a pilot study from Italy. Eur J Public Health [serial on the Internet] 2014 Oct [cited 2015 Dec 14]; 24(5): [about 5 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4168043/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...
corroboram com a necessidade de ampliar conhecimentos sobre a demanda de cuidados e reabilitação de pessoas com lesão neurológica incapacitante. São exemplos de estudos que confirmam investigações de temas similares na comunidade acadêmica internacional, focados no cuidado, assistência, reabilitação e inclusão social de pessoas com deficiência, decorrentes de lesões neurológicas incapacitantes.
Este artigo objetiva refletir sobre as implicações da implementação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde, considerando as mudanças estruturais que alteram o fluxo de atendimentos e as competências dos profissionais que atuam nos pontos de atenção1212 Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
que são: Barreiras para implantação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência; A (des)articulação das equipes da Atenção Básica de Saúde com a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência; Barreiras no âmbito da gestão da rede hospitalar e reflexos na (des)continuidade do cuidado da pessoa com deficiência. Assim, descreveremos abaixo cada uma delas:
Barreiras para implantação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência
Entre as diretrizes definidas no Artigo 2º da portaria 793/2012, destaca-se o inciso IV, onde se asseguram garantias de acesso e de qualidade dos serviços, ofertando cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar. São frequentes os debates entre as equipes da Atenção Básica sobre as competências profissionais necessárias para que as pessoas com deficiência possam ver garantidos seus direitos de acesso a esses serviços com qualidade, sobretudo, no que se refere à interface interdisciplinar.1212 Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Mesmo aprovadas após longas discussões e acordos entre gestores e seus representantes nas Comissões Intergestores Municipais, pouca repercussão pode ser constatada nas equipes profissionais que atuam nos pontos de atenção da rede. Apesar da determinação de assistência integral à pessoa com deficiência, a não delimitação das competências profissionais para isso e a não realização do trabalho multiprofissional implica na sua não realização. Com isso os maiores prejudicados serão, inevitavelmente, as pessoas com deficiência que sequer conseguem agendamento nos processos de triagem e as usuárias dos programas de reabilitação. A integralidade do cuidado e a assistência multiprofissional acabam limitadas à perspectiva teórico-idealista-legal.1313 PEREIRA, Juarez de Souza e MACHADO, Wiliam César Alves. Referência e contrarreferência entre os serviços de reabilitação física da pessoa com deficiência: a (des)articulação na microrregião Centro-Sul Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Physis [online]. 2016, vol.26, n.3 [citado 2016-11-21], pp.1033-1051. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312016000301033&lng=p&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
É desafiador o apontado no inciso III, do Artigo 3º da portaria 793/2012, que define os objetivos gerais da rede, dando garantias de articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco. Numa simples visita aos pontos de atenção disponíveis, seja na condição de usuário em busca de atendimento ou de observador de associações comunitárias, pode-se perceber que suas equipes atuam (des)articuladas, e sequer tomam conhecimento da existência da rede ou de outros pontos de atenção.1313 PEREIRA, Juarez de Souza e MACHADO, Wiliam César Alves. Referência e contrarreferência entre os serviços de reabilitação física da pessoa com deficiência: a (des)articulação na microrregião Centro-Sul Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Physis [online]. 2016, vol.26, n.3 [citado 2016-11-21], pp.1033-1051. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312016000301033&lng=p&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Nesse ritmo, a articulação integrada dos pontos de atenção das redes de saúde da mesma área, na conjuntura do SUS, definitivamente, não acontece, muito provavelmente devido às mesmas dificuldades antes apontadas. Cada ponto de atenção atua exclusivamente em seu espaço, como limitado e isolado dos demais. Ainda, os profissionais de saúde que compõem suas equipes, por sua vez, não interagem com as demais equipes para atender à população alvo (pessoas com deficiência), no que dependa de aspectos que fujam ao habitualmente condicionado pelas rotinas dos setores/serviços onde atuam.1313 PEREIRA, Juarez de Souza e MACHADO, Wiliam César Alves. Referência e contrarreferência entre os serviços de reabilitação física da pessoa com deficiência: a (des)articulação na microrregião Centro-Sul Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Physis [online]. 2016, vol.26, n.3 [citado 2016-11-21], pp.1033-1051. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312016000301033&lng=p&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
A expectativa dos gestores públicos deve estar focada na meta de que se possa estruturar um grupo voltado ao cuidado da pessoa com deficiência, para estudo do território, envolvendo profissionais de saúde, lideranças e moradores locais. O convite deve ser feito pela explicitação da intenção de conhecer o lugar para melhor elaborar as ações de saúde, e sua participação certamente trará mais acuidade, adequação e força às futuras ações.1414 Fernandes JM, Rios TA, Sanches VS, Santos MLM. NASF’s tools and practices in health of physical therapists. Fisioter. mov. [online]. 2016, vol.29, n.4 [cited 2017-05-18], pp.741-750. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502016000400741
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
A (des)articulação das equipes da Atenção Básica de Saúde com a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência
Outro ponto que carece maior reflexão é o contido nos incisos I e II, do Art. 11, da Portaria 793/12, dispondo sobre como a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência deve ser organizada no âmbito da Atenção Básica, da Atenção Especializada em Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual, Visual, Ostomia e em Múltiplas Deficiências, e da Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência.1212 Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
A Portaria 4.279/2010 estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS, e reconhece como inegáveis e representativos os avanços alcançados pelo SUS nos últimos anos. Contudo, torna-se cada vez mais evidente a dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no contexto atual. Nessa Portaria, a RAS é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado.1515 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2010 [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Para tanto, é importante salientar que a organização da RAS exige a definição da região de saúde, o que implica na demarcação dos limites geográficos e de sua população, bem como no estabelecimento do conjunto de ações e serviços que serão ofertados na região de saúde. As competências e responsabilidades dos pontos de atenção no cuidado integral estão correlacionadas com abrangência de base populacional, acessibilidade e escala para conformação de serviços. A definição adequada da abrangência das regiões é essencial para fundamentar as estratégias de organização da RAS, devendo ser observadas as pactuações entre o Estado e o município para o processo de regionalização e parâmetros de escala e acesso.1515 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2010 [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Além disso, a Portaria 4.279/2010 discorre sobre a orientação comunitária, recomendando que a Atenção Básica de Saúde utilize habilidades clínicas, epidemiológicas, sociais e avaliativas, de forma complementar para ajustar os programas para que atendam às necessidades específicas de saúde de uma população definida. Para tanto, faz-se necessário definir e caracterizar a comunidade, identificar seus problemas de saúde, modificar programas para abordar esses problemas, e monitorar a efetividade das modificações do programa.1515 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2010 [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
-1616 Castro RCL de, Knauth DR, Harzheim E, Hauser L, Duncan BB. Avaliação da qualidade da atenção primária pelos profissionais de saúde: comparação entre diferentes tipos de serviços. Cad Saúde Pública. [Internet]. 2012 Set [citado 2016 Out 08]; 28(9):1772-84. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000900015.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012...
Nesse ponto de vista, é importante destacar que a atenção básica surgiu para responder à visão ampliada das necessidades em saúde. Todos os problemas e desafios éticos emanam dos processos de trabalho e da organização do sistema de resposta a essas necessidades em determinado território e ambiente.1717 Junges JR, Barbiani R. Interfaces entre território, ambiente e saúde na atenção primária: uma leitura bioética. Rev Bioét [Internet]. 2013 Ago [cited 2016 Out 08]; 21(2):207-17. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013000200003.
http://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013...
Na conjuntura da Organização Pan-Americana da Saúde, a ABS é uma estratégia para organizar os Sistemas de Saúde, de maneira a possibilitar o acesso universal aos serviços e a atenção integral, sistemática e articulada ao longo do tempo. Nesse ponto, o acesso universal aos serviços deve ser compreendido como garantia de que as pessoas com deficiências contarão com ampla cobertura, inclusive, de atenção integral em suas necessidades de cuidados e assistência de longo prazo, previsíveis nos programas de reabilitação.1616 Castro RCL de, Knauth DR, Harzheim E, Hauser L, Duncan BB. Avaliação da qualidade da atenção primária pelos profissionais de saúde: comparação entre diferentes tipos de serviços. Cad Saúde Pública. [Internet]. 2012 Set [citado 2016 Out 08]; 28(9):1772-84. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000900015.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012...
A premissa da Portaria 4.279/2010 atribuiu ênfase à orientação comunitária, no entanto, ela não contempla detalhamentos para que as ações e serviços da ABS prestem valiosos esclarecimentos sobre acessibilidade, adequações dos ambientes, programas de reabilitação, protetização, entre outras informações relevantes para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de suas regiões de saúde específicas. Perde-se, portanto, imensa oportunidade de fortalecer a RAS para além da dimensão teórica, ao menos, no que concernem às temáticas da tecnologia assistiva e de grande interesse para esse grupo da população.1515 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2010 [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
16 Castro RCL de, Knauth DR, Harzheim E, Hauser L, Duncan BB. Avaliação da qualidade da atenção primária pelos profissionais de saúde: comparação entre diferentes tipos de serviços. Cad Saúde Pública. [Internet]. 2012 Set [citado 2016 Out 08]; 28(9):1772-84. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000900015.
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012...
17 Junges JR, Barbiani R. Interfaces entre território, ambiente e saúde na atenção primária: uma leitura bioética. Rev Bioét [Internet]. 2013 Ago [cited 2016 Out 08]; 21(2):207-17. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013000200003.
http://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013...
-1818 Brasil VP, Costa JSD. Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária em Florianópolis, Santa Catarina - estudo ecológico de 2001 a 2011. Epidemiol Serv Saúde [Internet]. 2016 [cited 2017 May 18]; 25(1):75-84. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222016000100075
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Por outro lado, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), de acordo com a Portaria 2.488/2011, foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.1919 Ministério da Saúde (BR), Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011: aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), [Internet]. 2011. [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Sabe-se que o NASF, em tese, tem sido considerado componente fundamental para potencializar a integralidade do cuidado, a resolubilidade da atenção primária à saúde e também do SUS, intervindo na cultura dos encaminhamentos desnecessários, promovendo a discussão da formação dos profissionais de saúde. O NASF também deveria contribuir para evidenciar os gargalos do sistema de saúde. Há contestação, pois, nos pontos de atenção, suas equipes, raramente, se mostram integradas às equipes de saúde da família, além de não se integrar com as demais equipes que compõem as Redes de Cuidados.2020 Silva ATC, Aguiar ME, Winck K, Rodrigues KGW, Sato ME, Grisi SJFE. et al. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: desafios e potencialidades na visão dos profissionais da Atenção Primária do Município de São Paulo, Brasil. Cad Saúde Pública [Internet]. 2012 Nov [cited 2016 Out 08]; 28(11):2076-84. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2012001100007&lng=pt.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Realidade distorcida, pois que aos profissionais do NASF efetivamente caberiam a discussão de casos, o atendimento conjunto ou não, a interconsulta, a construção conjunta de projetos terapêuticos, a educação permanente, as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade. Um conjunto de ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes, entre outras funções. Todas as atividades podem se desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, academias da saúde ou em outros pontos do território.1919 Ministério da Saúde (BR), Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011: aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), [Internet]. 2011. [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
20 Silva ATC, Aguiar ME, Winck K, Rodrigues KGW, Sato ME, Grisi SJFE. et al. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: desafios e potencialidades na visão dos profissionais da Atenção Primária do Município de São Paulo, Brasil. Cad Saúde Pública [Internet]. 2012 Nov [cited 2016 Out 08]; 28(11):2076-84. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2012001100007&lng=pt.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
-2121 Jimenez L. Psicologia na Atenção Básica à Saúde: demanda, território e integralidade. Florianópolis. Psicol Soc [Internet]. 2011 [cited 2016 Jul 26]; 23(Spe):129-39. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000400016&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Sob esta ótica, uma simples supervisão dos gestores para elaboração de relatórios de produção nos pontos de atenção da rede da Atenção Básica, tomando como referência as atividades desenvolvidas pelas equipes do NASF, pode ser suficiente para revelar a pouca objetividade, falta de sistematização, registros, documentação e arquivos dos casos atendidos pelo NASF, bem como do respectivo encaminhamento para outras equipes da rede possam dar continuidade ao cuidado e assistência integral às pessoas na comunidade. Sugere-se que membros dessas equipes, ainda não compreenderam exatamente o que lhes compete na conjuntura da Atenção Básica, tamanha distância entre as diretrizes oficiais e as demandas apresentadas pelas pessoas nas comunidades, por mais evidente que se apresente a necessidade de inclusão dessas pessoas na sua área de abrangência.
Há quem recomende a necessidade de mais estudos sobre essa realidade para o aperfeiçoamento da formação acadêmica e da atuação profissional na área, contribuindo para a implementação dos NASF. Da mesma forma relevante, há quem defenda a tese de que a fragmentação dos processos de trabalho, a fragmentação das relações entre as diferentes formações e profissionais, e a precária formação das diversas categorias profissionais, geralmente distantes do debate e da formulação da política de saúde, como problemas extensivos às diversas áreas da saúde pública brasileira.1414 Fernandes JM, Rios TA, Sanches VS, Santos MLM. NASF’s tools and practices in health of physical therapists. Fisioter. mov. [online]. 2016, vol.29, n.4 [cited 2017-05-18], pp.741-750. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502016000400741
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
,2121 Jimenez L. Psicologia na Atenção Básica à Saúde: demanda, território e integralidade. Florianópolis. Psicol Soc [Internet]. 2011 [cited 2016 Jul 26]; 23(Spe):129-39. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000400016&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
-2222 Aguiar CB, Costa NMSC. Formação e atuação de nutricionistas dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Rev Nutr [Internet]. 2015 Abr [cited 2016 Out 08]; 28(2):207-16. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732015000200207&lng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Não há como fugir da compreensão da reabilitação como um processo singular, que visa desenvolver as potencialidades das pessoas e conduzi-las a uma vida com saúde, bem-estar e melhor nível de autonomia. Entretanto, essa visão abrangente, que busca unir reabilitação e qualidade de vida, é relativamente recente dentro dos serviços públicos de saúde. Por muito tempo, reabilitação e fisioterapia, para clientes e gestores, foram consideradas sinônimas e isso contribuiu para a não disponibilização de outros recursos e intervenções terapêuticas. Hoje, uma visão mais totalizadora do usuário dos programas de reabilitação, associada a um trabalho interdisciplinar harmonioso, abre caminhos para uma resposta terapêutica mais abrangente e favorável no tratamento dessas pessoas.2323 Ministério da Saúde (BR). Atenção Domiciliar: manual instrutivo [Internet]. 2013 [cited 2016 Jul 26]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_melhor_casa_seguranca_hospital.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoe...
O enfrentamento das sequelas impostas às pessoas com deficiência adquirida requer superações de diversos aspectos, a começar por questões emocionais, sociais, culturais, de autoestima, sexualidade, imagem corporal, entre outras, fazendo com que a pessoa se submeta a reflexão sobre o verdadeiro sentido da própria existência. Momentos decisivos para que equipes de reabilitação implementem ações terapêuticas extramuros institucionais, tendo em vista se tratar de pessoa para cuidados de longo prazo, domiciliar.2424 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.600 de 7 de julho de 2011: reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2011 Jul [cited 2016 Out 04]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Da mesma forma relevante para a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, cabe destacar os incisos I e II, do Artigo 1º, da Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, que definem abrangência da Atenção Domiciliar no âmbito do SUS, através dos quais é possível formar ideia sobre essa nova modalidade de atuação profissional. Segundo disposto no inciso I, a atenção domiciliar deve ser concebida como nova modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes, caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e integrada às redes de atenção à saúde.2525 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 963 de 27 de maio de 2013: redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2013 [cited 2016 Set 29]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963_27_05_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Ademais, o enunciado do inciso II, da Portaria nº 963/2013,2525 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 963 de 27 de maio de 2013: redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2013 [cited 2016 Set 29]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963_27_05_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
esclarece que o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) figura como serviço substitutivo ou complementar à internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP), sendo o EMAD classificados em dois tipos: tipo 1, que são aquelas que compõem o SAD nos municípios >40 mil habitantes; e a tipo 2, como aquelas que compõem o SAD nos municípios com população entre 20 mil e 40 mil habitantes.2323 Ministério da Saúde (BR). Atenção Domiciliar: manual instrutivo [Internet]. 2013 [cited 2016 Jul 26]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_melhor_casa_seguranca_hospital.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoe...
Vale lembrar ainda que a Atenção Domiciliar não se encontra explicitamente como um componente da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência na Portaria 793/2012, visto que essa modalidade de serviço complementar ou substitutiva se enquadra como um componente de atenção da Rede de Atenção às Urgências e Emergências definido no Art. 4º da Portaria nº 1.600 de 07 de julho de 2011.2424 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.600 de 7 de julho de 2011: reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2011 Jul [cited 2016 Out 04]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
No entanto, o Art. 3º da Portaria 963/2013 define que a Atenção Domiciliar tem como objetivo reorganizar os trabalhos das equipes responsáveis nos cuidados domiciliares sejam eles da atenção básica, ambulatorial e nos serviços de urgência/emergência e hospitalar. O Art. 5º dessa mesma portaria estabelece ainda que esses serviços devam ser estruturados na perspectiva das redes de atenção à saúde, tendo a atenção básica como ordenadora do cuidado e da ação territorial.2525 Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 963 de 27 de maio de 2013: redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2013 [cited 2016 Set 29]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963_27_05_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Ainda sobre as ações da Atenção Básica para as pessoas com deficiência, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde do SUS aponta que cabe a este nível de atenção, mais especificamente sobre as ações a serem desenvolvidas em nível da Atenção Domiciliar, ações e responsabilidades que se caracterizem em promover a adaptação do paciente ao uso de órteses/próteses, de sondas e ostomias. Além de promover a reabilitação de pessoas com deficiência permanente, transitória ou contínua, até que estas apresentem condições de frequentar serviços de reabilitação.1212 Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
,2626 Aavarez AB, Teixeira MLO, Castelo Branco EMS, Machado WCA. The feelings of paraplegic clients with spinal cord lesion and their caregivers: implications to the nursing care. Ciênc Cuid Saúde [Internet]. 2013 Out-Dez [cited 2016 Jul 26]; 12(4):654-61. Available from: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/18107/pdf_65
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/C...
Barreiras no âmbito da gestão da rede hospitalar e reflexos na (des)continuidade do cuidado da pessoa com deficiência
A propósito, a Atenção Hospitalar e de Urgência e Emergência, como componente da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, precisa se enquadrar e demonstrar aderência a esse programa, considerando a importância do seu papel articulador com demais pontos de atenção dessa Rede, priorizando a intervenção precoce de pessoas com lesão neurológica incapacitante nos Centros Especializados de Reabilitação, conforme demarcado pelo Art. 22, da Portaria 793/2012.1212 Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
Nessa sintonia, destaca-se relevante contribuição de estudo realizado com gestores médicos e enfermeiros que atuam em hospital de grande porte da Zona da Mata Mineira, em 2015, que identificou o grau de desconhecimento dos mesmos sobre a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, dificultando o preparo de alta de clientes com lesão neurológica incapacitante, e seu respectivo encaminhamento para intervenções precoces em Centros Especializados de Reabilitação. 2727 Machado WCA, Silva VM, Silva RA, Ramos RL, Figueiredo NMA, Branco EMSC, Rezende LK, Carreiro MA. Hospital discharge of patients with disabling neurological injury: necessary referrals to rehabilitation. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2016 Out [citado 2017 Out 21]; 21(10):3161-70. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001003161&lng=pt&nrm=iso&tlng=en.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Responsabilidades e competências para assumir questões do acolhimento, da classificação de risco e cuidado nas situações de urgência e emergência que envolve pessoas com deficiência. Instituindo equipes de referência em reabilitação em ambientes hospitalares de urgência e emergência vinculadas à ação pré-deficiência, além de ampliar o acesso e qualificar a atenção à saúde para pessoa com deficiência em leitos de reabilitação hospitalar.88 Bailey J, Dijkers MP, Gassaway J, Thomas J, Lingefelt P, Kreider SED, Whiteneck G.. Relationship of nursing education and care management inpatient rehabilitation interventions and patient characteristics to outcomes following spinal cord injury: the SCIRehab project. J Spinal Cord Med [serial on the Internet] 2012 Nov [cited 2015 Nov 26]; 35(6): [about 7 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3522899/?report=classic
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles...
A díade hospitalização/reabilitação concretiza-se na medida em que os profissionais que estruturam e operacionalizam o cuidado ao paciente com lesão neurológica incapacitante transcendem os aspectos biomédicos e sinalizam uma prática orientada para o modelo de atenção à saúde, que tenta sua consolidação. Esse modelo preconiza a implementação da cadeia do cuidado complexo e a visão da clínica ampliada no alcance da cura ou no convívio com algum tipo de limitação.2828 Weber KT, Guimarães VA, Pontes Neto OM, Leite JP, Takayanagui OM, Santos-Pontelli TEG. Predictors of quality of life after moderate to severe traumatic brain injury. Arq. Neuro-Psiquiatr [Internet]. 2016 May [cited 2017 May 18]; 74(5):409-15. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2016000500409
Com a implantação da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência e a complexidade que envolve a necessidade de cuidados das pessoas com sequelas neurológicas incapacitantes, por exemplo, a díade hospitalização/reabilitação deve cada vez mais se afinar para a materialização do seu mais nobre objetivo, qual seja, primar pela integralidade do cuidado dessas pessoas, tanto em seus ambientes quanto naqueles extramuros institucionais.2727 Machado WCA, Silva VM, Silva RA, Ramos RL, Figueiredo NMA, Branco EMSC, Rezende LK, Carreiro MA. Hospital discharge of patients with disabling neurological injury: necessary referrals to rehabilitation. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2016 Out [citado 2017 Out 21]; 21(10):3161-70. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001003161&lng=pt&nrm=iso&tlng=en.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Muitos são os fatores que podem influenciar a qualidade de vida após o trauma, como a qualidade do atendimento oferecido pelo sistema de saúde, tipo e gravidade das lesões, número de intervenções cirúrgicas, grau de sequelas, dor, acesso à reabilitação e condição socioeconômica, entre outros. Por isso é que o preparo da alta hospitalar de pessoas com lesões neurológicas incapacitantes precisa ser mais elaborado, planejado, de forma que essas pessoas e seus familiares possam ser adequadamente orientados para a continuidade do tratamento de reabilitação, de acordo com a complexidade exigida por cada caso específico, nos diversos pontos de atenção disponíveis na rede.2727 Machado WCA, Silva VM, Silva RA, Ramos RL, Figueiredo NMA, Branco EMSC, Rezende LK, Carreiro MA. Hospital discharge of patients with disabling neurological injury: necessary referrals to rehabilitation. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2016 Out [citado 2017 Out 21]; 21(10):3161-70. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001003161&lng=pt&nrm=iso&tlng=en.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
-2828 Weber KT, Guimarães VA, Pontes Neto OM, Leite JP, Takayanagui OM, Santos-Pontelli TEG. Predictors of quality of life after moderate to severe traumatic brain injury. Arq. Neuro-Psiquiatr [Internet]. 2016 May [cited 2017 May 18]; 74(5):409-15. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2016000500409
Por mais elementar que se possa representar, raros são os hospitais que oferecem programas de orientação e treinamento de familiares de pessoas com lesões neurológicas incapacitantes, ainda que se trate de graves limitações funcionais, ou de incidência de lesão por pressão que a pessoa tenha adquirido no período de internação nessas instituições. A maioria sequer institui roteiros com planejamento de alta hospitalar. Assim, muitas pessoas recebem alta hospitalar e são entregues às famílias sem orientações básicas acerca de como lidar com as necessidades de cuidados domiciliares, tampouco que se considere a inalienável continuidade do tratamento de reabilitação a curto, médio ou longo prazos, a ser executado por equipes que compõem as redes de cuidados, extramuros hospitalares.2727 Machado WCA, Silva VM, Silva RA, Ramos RL, Figueiredo NMA, Branco EMSC, Rezende LK, Carreiro MA. Hospital discharge of patients with disabling neurological injury: necessary referrals to rehabilitation. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2016 Out [citado 2017 Out 21]; 21(10):3161-70. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001003161&lng=pt&nrm=iso&tlng=en.
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
A propósito, os processos de transformação no âmbito de recursos humanos são complexos e também conflituosos, e podem necessitar de um longo tempo de construção. Contudo, é fundamental que os profissionais de saúde percebam o quanto suas atividades (des)articuladas comprometem o processo de reabilitação das pessoas e assumam compromissos éticos de exercer suas funções em sintonia com os demais serviços e pontos de atenção da rede, priorizando metas satisfatórias para seus clientes, familiares e a comunidade. Ainda, a incidência de lesão por pressão em pessoas com sequelas neurológicas, internadas na rede hospitalar em geral, aumenta em ritmo acelerado, causando atraso no ingresso desses indivíduos em Programas de Reabilitação Física, além de impor aos núcleos familiares despesas imprevistas para arcar com o tratamento e avaliação domiciliar dessas lesões, dificuldade de acesso ao suporte técnico, materiais e orientações específicas.1313 PEREIRA, Juarez de Souza e MACHADO, Wiliam César Alves. Referência e contrarreferência entre os serviços de reabilitação física da pessoa com deficiência: a (des)articulação na microrregião Centro-Sul Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Physis [online]. 2016, vol.26, n.3 [citado 2016-11-21], pp.1033-1051. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312016000301033&lng=p&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Contudo, a Atenção Básica, mais especificamente, as equipes do SAD e NASF, deveriam desenvolver função importante no acompanhamento dessas pessoas com deficiência física tanto na prevenção de lesão por pressão, como também o tratamento dos agravos2323 Ministério da Saúde (BR). Atenção Domiciliar: manual instrutivo [Internet]. 2013 [cited 2016 Jul 26]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_melhor_casa_seguranca_hospital.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoe...
considerando a necessidade de minimizar as complicações decorrentes desses comprometimentos.
Outro aspecto preocupante, questionável pelo que representa na prática, reporta ao descrito no Art. 20, da Portaria 793/2012, uma vez que o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) é compreendido como estabelecimento de saúde que oferta atendimento especializado odontológico. Destaque para o seu Art. 21, que determina que os CEOs deverão ampliar e qualificar o cuidado às especificidades da pessoa com deficiência que necessite de atendimento odontológico.1212 Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis...
É importante frisar que no dia a dia muitas são as dificuldades para que as equipes dos CEOs atendam de forma satisfatória às pessoas com deficiência, em especial àquelas com sequelas neurológicas severas, que precisam de tratamento odontológico sob efeito de anestesia geral. Neste interim, crianças, adolescentes e adultos com lesão decorrente de paralisia cerebral, sofrem em sua maioria de infecção bucal e doenças gengivais, comprometendo a dentição e a saúde bucal de forma grave, haja vista a não disposição de estrutura e acesso adequados para a prestação do serviço a essa população específica.2929 Machado WCA. O cotidiano na perspectiva da pessoa com deficiência. Curitiba (PR):CRV Editora; 2017. Sendo assim, uma vez que a estrutura do CEO não dispõe de equipamentos de alta complexidade para atender tal demanda, o mais indicado é que se proceda ao encaminhamento para equipes da Atenção Hospitalar, visando a resolução em nível intersetorial, como recomendam as portarias do Ministério da Saúde.2929 Machado WCA. O cotidiano na perspectiva da pessoa com deficiência. Curitiba (PR):CRV Editora; 2017.
Nesse sentido, a carência de materiais, equipamentos e estrutura para realização de intervenções cirúrgicas, bem como de profissionais de odontologia habilitados para atender a esse tipo de intervenção, faz com que poucas unidades e equipes dos Centros de Especialidade Odontológica ofereçam atendimentos de alta complexidade. Tais carências resultam em frustração para as famílias, equipes das Redes de Cuidados, além de muitos desgastes das pessoas com deficiência, pois impõem exaustivo ir e vir sem conseguir fazer o tratamento odontológico que tanto necessitam.2929 Machado WCA. O cotidiano na perspectiva da pessoa com deficiência. Curitiba (PR):CRV Editora; 2017.
Exemplo de outras condições que carece de maior atenção à saúde de pessoas com deficiência, é o estudo realizado em hospitais públicos da Grande Florianópolis, o qual analisa a assistência prestada pelos profissionais de saúde em todo o processo de amputação. Este aponta que o processo de reabilitação é potencializado com a atuação da equipe multidisciplinar, no qual a aquisição da prótese e o respectivo encaminhamento para pontos de atenção, deveriam funcionar articulados em rede, sendo padrão no atendimento e no caminho a ser percorrido.3030 Marques AMFB, Vargas MAO, Schoeller SD, Kinoshita EY, Ramos FRS, Trombetta AP. Health care for people with amputation: analysis from the perspective of bioethics. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2014 Dec [cited 2017 May 23]; 23(4):898-906. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072014000400898&lng=e&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
Também em estudo realizado em um hospital de ensino público da região Sul do Brasil, o atendimento multiprofissional às pessoas amputadas,3030 Marques AMFB, Vargas MAO, Schoeller SD, Kinoshita EY, Ramos FRS, Trombetta AP. Health care for people with amputation: analysis from the perspective of bioethics. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2014 Dec [cited 2017 May 23]; 23(4):898-906. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072014000400898&lng=e&lng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
-3131 Rezende LK, Pimenta CAM, Machado WCA, Ancelotti Júnior AC, Carneiro GRT. The perception of transtibial amputees regarding the use of prostheses. Inter J Humanities Social Science Invent [Internet]. 2015 [cited 2017 May 19]; 4(5):81-7. May. Available from: http://www.ijhssi.org/v4i5%28version%202%29.html
http://www.ijhssi.org/v4i5%28version%202...
no processo de reabilitação da pessoa ostomizada, destacam-se as contribuições com o objetivo de conhecer o cuidado de enfermagem às pessoas hospitalizadas, submetidas à cirurgia de estomia intestinal, o qual concluiu que a formação profissional de enfermagem para o cuidado às pessoas com estomia intestinal ocorre de forma ampla, restrita à teoria. Sendo assim, recomendam o envolvimento da família nos cuidados de enfermagem, recebendo orientações, apoio e instrumentalização para os cuidados de longo prazo que serão exercidos no domicílio.3232 Ardigo FS, Amante LN. Knowledge of the professional about nursing care of people with ostomies and their families. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2013 [cited 2017 May 23]; 22(4):1064-71. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072013000400024&lng=p&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=s...
CONCLUSÃO
A Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência constitui política pública instituída no ano de 2012, assim, é compreensível que sua proposta de integração entre as equipes que atuam nos diversos pontos de atenção, ainda não esteja de fato articulada, o que revela uma política ainda carente de atenção e investimentos, tanto da parte estrutural, no sentido de melhor dispor de tecnologias para prover o atendimento adequado a essa população alvo, quanto na instrumentalização dos profissionais de cuidado em dispor de capacitações e conhecimentos acerca dessas incapacidades.
Nesse sentido, sugere-se maior investimento em estratégias de divulgação sistemática envolvendo os gestores públicos de saúde, bem como as esferas de gestão hospitalar, para afinar discurso, buscar cooperação, articulação e consenso, de forma que as ações terapêuticas voltadas para clientes com deficiência possam ser efetivos elementos de transformação da realidade. Realidade que carece de profissionais e equipes envolvidas, capazes de implementar instrumentos que possam assegurar acesso a cuidados e assistência integral, interdisciplinar e intersetorial, essenciais ao processo de reabilitação e inclusão social, para milhões de brasileiros que deles necessitam.
REFERÊNCIAS
-
1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Demográfico: Resultados preliminares da amostra. [Internet]. 2010 Ago [cited 2016 Jul 21]; Available from: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminaresamostra/default_resultados_preliminares_amostra.shtm
» http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminaresamostra/default_resultados_preliminares_amostra.shtm -
2Brasil. Presidência da República. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Coordenação-Geral do Sistema de Informações sobre a Pessoa com Deficiência. Cartilha do Censo 2010. [Internet]. 2012 Set [cited 2016 Jul 21]; Available from: http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20051111_485.pdf
» http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20051111_485.pdf -
3Silva GA, Schoeller SD, Gelbcke FL, Carvalho ZMF, Silva EMJP. Functional assessment of people with spinal cord injury: use of the functional independence measure - FIM. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2012 Dez [cited 2016 Out 08]; 21(4):929-36. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072012000400025
» http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072012000400025 -
4Oliveira MAC, Pereira IC. Primary Health Care essential attributes and the Family Health Strategy. Rev Bras Enferm [Internet]. 2013 Sep [cited 2016 Oct 08]; 66(spe):158-64. Available from:. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700020
» http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71672013000700020 -
5Alencar MN de, Coimbra LC, Morais APP, Silva AAM da, Pinheiro SRA, Queiroz RCS. Evaluation of the family focus and community orientation in the Family Health Strategy. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2014 Fev [cited 2016 Out 08]; 19(2):353-64. Avaiable from: http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014192.08522012
» http://dx.doi.org/10.1590/1413-81232014192.08522012 -
6Costa JSD, Pattussi MP, Morimoto T, Arruda JS, Bratkowski GR, Sopelsa M, et al. Tendência das internações por condição sensível à atenção primária e fatores associados em Porto Alegre, RS, Brasil. Ciênc Saúde Coletiva[Internet]. 2016 [cited 2017 Out 08]; 21(4):1289-96. Available from: http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000401289
» http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232016000401289 -
7Machado WCA, Figueiredo NMA, Barbosa LA, Machado MCI, Shubert CO, Miranda RS. Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. In: Figueiredo NMA, Machado WCA, organizadores. Tratado de Cuidados de Enfermagem. São Paulo (SP): Editora Roca; 2012. v. 2, p. 2502-39.
-
8Bailey J, Dijkers MP, Gassaway J, Thomas J, Lingefelt P, Kreider SED, Whiteneck G.. Relationship of nursing education and care management inpatient rehabilitation interventions and patient characteristics to outcomes following spinal cord injury: the SCIRehab project. J Spinal Cord Med [serial on the Internet] 2012 Nov [cited 2015 Nov 26]; 35(6): [about 7 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3522899/?report=classic
» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3522899/?report=classic -
9Rollnik JD, Janosch U. Current trends in the length of stay in neurological early rehabilitation. Dtsch Arztebl Int [serial on the Internet] 2010 Apr [cited 2015 Nov 30], 107(16): [about 6 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868985/
» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2868985/ -
10Mazer B, Kairy D, Guindon A, Girard M, Swaine B, Kehayia E, Labbé D. Rehabilitation Living Lab in the Mall Community of Practice: Learning Together to Improve Rehabilitation, Participation and Social Inclusion for People Living with Disabilities. Sabariego C, Cieza A, Bickenbach JE. Int J Environ Res Public Health [serial on the Internet] 2015 Apr [cited 2015 Dec 14];12(4): [about 21 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410257/
» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4410257/ -
11Manzoli L, Flacco ME, De Vito C, Arcà S, Carle F, Capasso L, Marzuillo C, Muraglia A, Samani F, Villari P. AHRQ prevention quality indicators to assess the quality of primary care of local providers: a pilot study from Italy. Eur J Public Health [serial on the Internet] 2014 Oct [cited 2015 Dec 14]; 24(5): [about 5 p.]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4168043/
» http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4168043/ -
12Ministério da Saúde (Brasil). Portaria no. 793, de 24 de abril de 2012. Institui a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde. 2012. [Internet]. 2012 Abr [cited 2016 Set 25]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt0793_24_04_2012.html -
13PEREIRA, Juarez de Souza e MACHADO, Wiliam César Alves. Referência e contrarreferência entre os serviços de reabilitação física da pessoa com deficiência: a (des)articulação na microrregião Centro-Sul Fluminense, Rio de Janeiro, Brasil. Physis [online]. 2016, vol.26, n.3 [citado 2016-11-21], pp.1033-1051. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312016000301033&lng=p&nrm=iso
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010373312016000301033&lng=p&nrm=iso -
14Fernandes JM, Rios TA, Sanches VS, Santos MLM. NASF’s tools and practices in health of physical therapists. Fisioter. mov. [online]. 2016, vol.29, n.4 [cited 2017-05-18], pp.741-750. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502016000400741
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-51502016000400741 -
15Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2010 [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html -
16Castro RCL de, Knauth DR, Harzheim E, Hauser L, Duncan BB. Avaliação da qualidade da atenção primária pelos profissionais de saúde: comparação entre diferentes tipos de serviços. Cad Saúde Pública. [Internet]. 2012 Set [citado 2016 Out 08]; 28(9):1772-84. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000900015
» http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2012000900015 -
17Junges JR, Barbiani R. Interfaces entre território, ambiente e saúde na atenção primária: uma leitura bioética. Rev Bioét [Internet]. 2013 Ago [cited 2016 Out 08]; 21(2):207-17. Available from: http://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013000200003
» http://dx.doi.org/10.1590/S1983-80422013000200003 -
18Brasil VP, Costa JSD. Hospitalizações por condições sensíveis à atenção primária em Florianópolis, Santa Catarina - estudo ecológico de 2001 a 2011. Epidemiol Serv Saúde [Internet]. 2016 [cited 2017 May 18]; 25(1):75-84. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222016000100075
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222016000100075 -
19Ministério da Saúde (BR), Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011: aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), [Internet]. 2011. [cited 2016 Set 30]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html -
20Silva ATC, Aguiar ME, Winck K, Rodrigues KGW, Sato ME, Grisi SJFE. et al. Núcleos de Apoio à Saúde da Família: desafios e potencialidades na visão dos profissionais da Atenção Primária do Município de São Paulo, Brasil. Cad Saúde Pública [Internet]. 2012 Nov [cited 2016 Out 08]; 28(11):2076-84. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2012001100007&lng=pt
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2012001100007&lng=pt -
21Jimenez L. Psicologia na Atenção Básica à Saúde: demanda, território e integralidade. Florianópolis. Psicol Soc [Internet]. 2011 [cited 2016 Jul 26]; 23(Spe):129-39. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000400016&lng=pt&nrm=iso
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822011000400016&lng=pt&nrm=iso -
22Aguiar CB, Costa NMSC. Formação e atuação de nutricionistas dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Rev Nutr [Internet]. 2015 Abr [cited 2016 Out 08]; 28(2):207-16. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732015000200207&lng=pt
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-52732015000200207&lng=pt -
23Ministério da Saúde (BR). Atenção Domiciliar: manual instrutivo [Internet]. 2013 [cited 2016 Jul 26]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_melhor_casa_seguranca_hospital.pdf
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_melhor_casa_seguranca_hospital.pdf -
24Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 1.600 de 7 de julho de 2011: reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2011 Jul [cited 2016 Out 04]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt1600_07_07_2011.html -
25Ministério da Saúde (BR). Portaria nº 963 de 27 de maio de 2013: redefine a atenção domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. 2013 [cited 2016 Set 29]; Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963_27_05_2013.html
» http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0963_27_05_2013.html -
26Aavarez AB, Teixeira MLO, Castelo Branco EMS, Machado WCA. The feelings of paraplegic clients with spinal cord lesion and their caregivers: implications to the nursing care. Ciênc Cuid Saúde [Internet]. 2013 Out-Dez [cited 2016 Jul 26]; 12(4):654-61. Available from: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/18107/pdf_65
» http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/18107/pdf_65 -
27Machado WCA, Silva VM, Silva RA, Ramos RL, Figueiredo NMA, Branco EMSC, Rezende LK, Carreiro MA. Hospital discharge of patients with disabling neurological injury: necessary referrals to rehabilitation. Ciênc Saúde Coletiva [Internet]. 2016 Out [citado 2017 Out 21]; 21(10):3161-70. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001003161&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232016001003161&lng=pt&nrm=iso&tlng=en -
28Weber KT, Guimarães VA, Pontes Neto OM, Leite JP, Takayanagui OM, Santos-Pontelli TEG. Predictors of quality of life after moderate to severe traumatic brain injury. Arq. Neuro-Psiquiatr [Internet]. 2016 May [cited 2017 May 18]; 74(5):409-15. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2016000500409
-
29Machado WCA. O cotidiano na perspectiva da pessoa com deficiência. Curitiba (PR):CRV Editora; 2017.
-
30Marques AMFB, Vargas MAO, Schoeller SD, Kinoshita EY, Ramos FRS, Trombetta AP. Health care for people with amputation: analysis from the perspective of bioethics. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2014 Dec [cited 2017 May 23]; 23(4):898-906. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072014000400898&lng=e&lng=en
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072014000400898&lng=e&lng=en -
31Rezende LK, Pimenta CAM, Machado WCA, Ancelotti Júnior AC, Carneiro GRT. The perception of transtibial amputees regarding the use of prostheses. Inter J Humanities Social Science Invent [Internet]. 2015 [cited 2017 May 19]; 4(5):81-7. May. Available from: http://www.ijhssi.org/v4i5%28version%202%29.html
» http://www.ijhssi.org/v4i5%28version%202%29.html -
32Ardigo FS, Amante LN. Knowledge of the professional about nursing care of people with ostomies and their families. Texto Contexto Enferm [Internet]. 2013 [cited 2017 May 23]; 22(4):1064-71. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072013000400024&lng=p&nrm=iso&tlng=en
» http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010407072013000400024&lng=p&nrm=iso&tlng=en
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
27 Ago 2018 -
Data do Fascículo
2018
Histórico
-
Recebido
21 Ago 2016 -
Aceito
27 Jul 2017