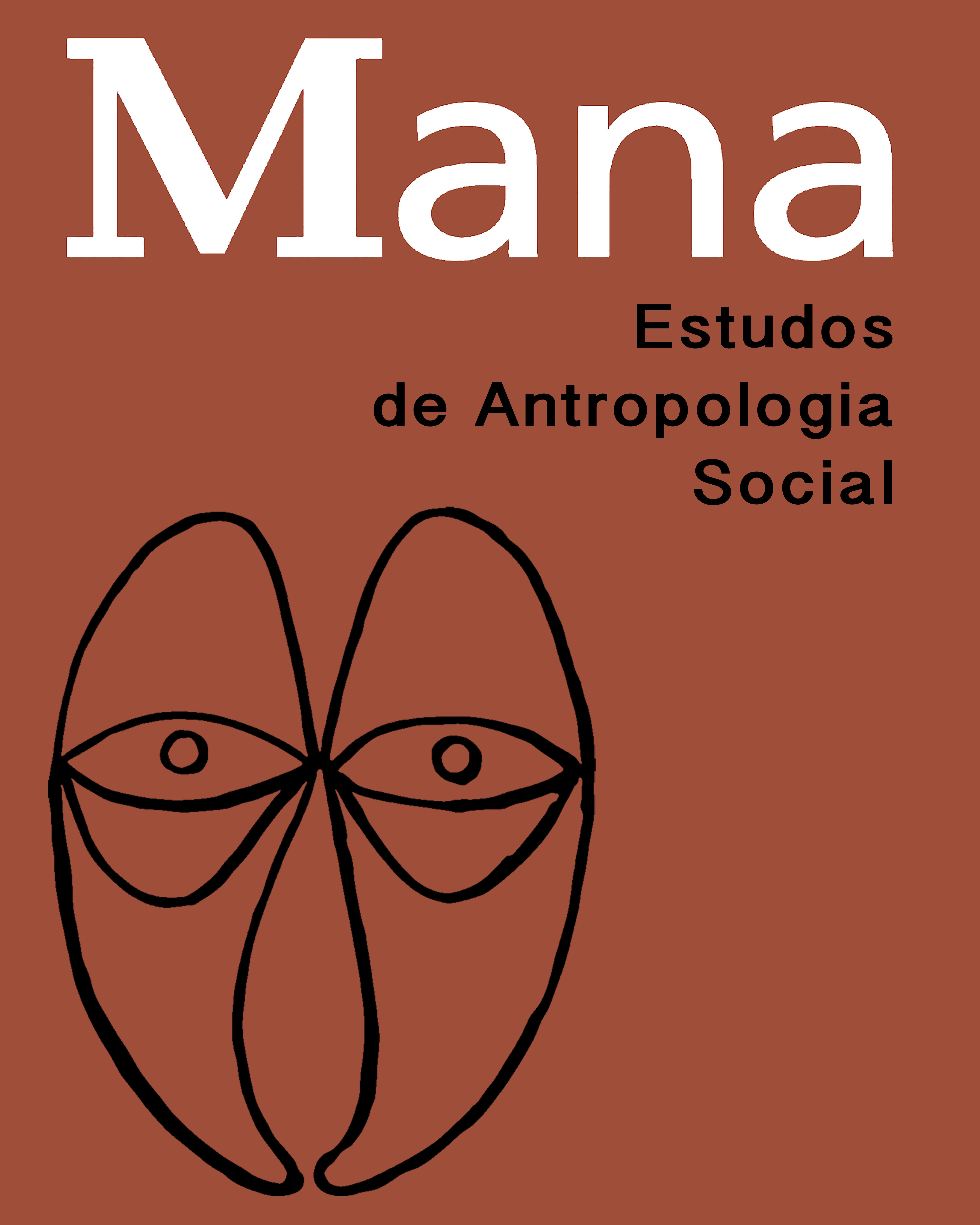Resumos
Neste texto discutem-se as implicações teóricas da constatação de que o encontro etnográfico está permeado por "não-ditos", isto é, uma série longa e diversificada de constatações etnográficas que não assentam sobre a comunicação discursiva. Ao se remeter para o conceito de "estratégia" de Bourdieu, revisto à luz de exemplos retirados da etnografia do Alto Minho (NW Portugal), o ensaio encaminha-se para uma tentativa de ultrapassar as disposições sociocêntricas que continuam presentes na teoria antropológica atual.
Sociocentrismo; Estratégia; Alto Minho (NW Portugal); Casa
This text discusses the theoretical implications of the observation that the ethnographic encounter is permeated with the ‘unspoken’; that is, a lengthy and varied series of ethnographic findings that are not grounded in discursive communication. Adapting Bourdieu’s concept of ‘strategy’ to examples taken from the ethnography of Alto Minho (NW Portugal), the essay attempts to go beyond the sociocentric framework that still dominates current anthropological theory.
Sociocentrism; Strategy; Alto Minho (NW Portugal); Home
ARTIGOS
Sem palavras: etnografia, hegemonia e quantificação* * Ensaio escrito para o Colóquio Internacional "Quantificação e temporalidade: perspectivas etnográficas sobre a economia", Lygia Sigaud e Federico Neiburg (orgs.), Museu Nacional (NuCEC, PPGAS), Rio de Janeiro, 24 a 26 de agosto de 2005. Versão apresentada no Museu Nacional (PPGAS, UFRJ) e na UNICAMP (PPGAS) em junho de 2006. Agradeço aos colegas, e muito especialmente a Federico Neiburg, os preciosos comentários e sugestões feitos nessas ocasiões.
João de Pina Cabral
Pesquisador, coordenador e professor do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS). E-mail: pina.cabral@ics.ul.pt
RESUMO
Neste texto discutem-se as implicações teóricas da constatação de que o encontro etnográfico está permeado por "não-ditos", isto é, uma série longa e diversificada de constatações etnográficas que não assentam sobre a comunicação discursiva. Ao se remeter para o conceito de "estratégia" de Bourdieu, revisto à luz de exemplos retirados da etnografia do Alto Minho (NW Portugal), o ensaio encaminha-se para uma tentativa de ultrapassar as disposições sociocêntricas que continuam presentes na teoria antropológica atual.
Palavras-chave: Sociocentrismo, Estratégia, Alto Minho (NW Portugal), Casa
ABSTRACT
This text discusses the theoretical implications of the observation that the ethnographic encounter is permeated with the unspoken; that is, a lengthy and varied series of ethnographic findings that are not grounded in discursive communication. Adapting Bourdieus concept of strategy to examples taken from the ethnography of Alto Minho (NW Portugal), the essay attempts to go beyond the sociocentric framework that still dominates current anthropological theory.
Key words: Sociocentrism, Strategy, Alto Minho (NW Portugal), Home
Este ensaio é uma discussão das implicações teóricas da constatação de que o encontro etnográfico está permeado por "não-ditos"; isto é, uma série longa e diversificada de constatações etnográficas que não assentam sobre a comunicação discursiva entre o etnógrafo e as pessoas que este estuda. Ao se remeter ao conceito de "estratégia" de Bourdieu, o texto aborda a longa história da quantificação como método etnográfico, terminando com um esforço por ultrapassar as disposições sociocêntricas que continuam a marcar a teoria antropológica. Para tal, recorre-se à inspiração na obra do filósofo Donald Davidson.
Cabaneiras
"Mexe-te mulher! Se continuas assim ninguém te vai querer, cabrona! Ainda ficas praí uma cabaneira!"
Quantas vezes eu acordei com os gritos da vizinha, trabalhando na horta ao lado da nossa casa,1 1 Cf. Pina Cabral 2003, especialmente o capítulo "A minha casa em Paço". instigando a filha adolescente na sua linguagem picaresca, tão característica do Alto Minho. Preocupava-se em criar alguém que não se dobrasse perante as exigentes tarefas doméstico-agrícolas que caracterizam as madrugadas de qualquer camponesa que se preze. Por isso até, ela tinha tirado a filha da escola; que "não lhe ensinavam lá a trabalhar", na sua opinião.
Por "ninguém te vai querer", queria ela dizer que a filha não encontraria marido. E eu, sentado na cama, ainda resmungão, pensava: "Mas é o Zé que não vai querê-la ou é a mãe do Zé que não vai querê-la?". Porque todos ali no "lugar" conhecíamos bem o jovem "trolha" (empregado da construção civil) que passava nos fins de tarde pendurado na sua motoreta, em frente à casa da vizinha fazendo olhos à filha. Como é que a mãe do Zé aceitaria uma nora preguiçosa que, ao levantar da aurora, não tivesse já "feito o comer", dado o "penso" ao gado, regado a horta e pendurado a roupa lavada tudo isto antes de sair rumo aos campos, onde a sua mão-de-obra agrícola seria o principal esteio da subsistência doméstica?
E por que "ficar cabaneira"? É que, se a mãe do Zé não a quisesse, a filha da vizinha acabaria por ficar solteira, sem casa própria. Acabaria inevitavelmente por "ser enganada" por qualquer "maganão"2 2 Isto é, um tipo brincalhão, atrevido e malicioso. e por ter um ou mais filhos ilegítimos. Passaria a fazer parte desse largo rol de mulheres que habitava os lugares mais pobres da freguesia, ditos "putanheiros". Mulheres que, sem terra e sem marido, viviam trabalhando precariamente como assalariadas rurais.
O Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa define "cabaneiras" como "mulheres solteiras, que não têm modo de vida, ocupação" (s.v.). Ora, "ocupação", coitadas, tinham e muita! E "modo de vida", infelizmente, também tinham, só que não era modo de vida que se devesse ter. Não eram assim chamadas por viverem em "cabanas" isto é, "pequenas casas rústicas de construção rudimentar, tradicionalmente cobertas com colmo", como as define o mesmo dicionário mas porque não tinham "casa" no sentido mais vasto e semanticamente mais denso que o termo representava nessa sociedade rural.
O significado mais imediato de "casa" no Minho camponês não era o de edifício e, de qualquer forma, os edifícios onde as "cabaneiras" viviam não eram diferentes das casas onde moravam os camponeses mais pobres. A diferença é que uma "casa" naquelas freguesias3 3 Unidade religiosa e administrativa mínima, correspondente a um território. Nesta região rural de ocupação habitacional dispersa, a "freguesia" constitui a unidade principal de vivência comunitária para a população rural (vide Pina Cabral 1989). é um "vizinho", isto é, uma das unidades fundacionais da sociedade camponesa. Uma casa é uma unidade que contempla edifícios, terras, animais, gente e, substancialmente, um nome, uma reputação, um lugar no cemitério. A casa era, nessa sociedade camponesa, a unidade social primária (cf. Pina Cabral 1991). Quem não preenchia todas essas qualidades podia bem ter vivido na freguesia desde sempre e ser descendente de habitantes que sempre aí tivessem vivido, mas não seria nunca "vizinho", isto é, membro de pleno direito da freguesia. Independente da qualidade da alvenaria do edifício em que habitasse, uma tal pessoa não teria uma "casa".
Ora, a condição de não ser membro de uma casa não diminuía unicamente os direitos que alguém tinha na vida da freguesia, diminuía também o seu prestígio, levando a uma profunda desvalorização moral. Assim, quando eu próprio pedi a um camponês local que me definisse o significado de "cabaneiro", foi-me respondido literalmente que "um cabaneiro é uma pessoa mesquinha, que não sabe fazer nada, uma pessoa morta que pertence à companhia-do-não-te-rales, é um beco sem saída". Em suma, não têm porque não merecem!
Apesar das próprias camponesas me terem repetido várias vezes que, "quem não tem casa, dote e dinheiro [para a boda] não se casa", estas mulheres que, por não terem terra, não encontravam marido transportavam o peso da culpa da sua condição. Mais tarde, tendo filhos "ilegítimos" ou "bastardos", assumiam ainda a imoralidade do seu "modo de vida". Um modo de vida que tanto o dicionário como os minhotos afirmam que elas não o tinham e ao qual não era dado reconhecimento moral, mas que, apesar disso, era por todos conhecido. Tratava-se de uma forma de viver comum e "tradicional", no sentido de que há muito havia gente que assim vivia.
Por exemplo, nas décadas que antecederam o início do surto emigracional do pós-guerra, a freguesia mais pobre das duas que estudei tinha taxas de batizados de bastardos que oscilavam entre 14,3% e 22,5%. Enquanto na outra freguesia, onde havia mais habitantes que eram donos da terra que cultivavam, as percentagens variavam entre 6% e 12,5% (cf. Pina Cabral 1989:84). O que acabou com as altas taxas de crianças sem pai reconhecido nessas freguesias, de onde os homens pobres sempre tinham emigrado para todos os lados do império português desde o século XV, foi o novo tipo de emigração européia dos anos 1960, que permitiu pela primeira vez às mulheres jovens descapitalizadas emigrarem, saindo do ciclo de pobreza rural.
Nos últimos anos da década de 1970, portanto, quando fazia trabalho de campo na Ponte da Barca, no Alto Minho, a sociedade que me rodeava podia ainda ser qualificada como uma sociedade camponesa. Eu não tinha procurado um lugar isolado, um locus ethnologicus onde a "tradição" tivesse sobrevivido mais tempo que no resto do país. Pelo contrário, para realizar a minha investigação de doutorado, tinha procurado uma zona rural tão indistinta quanto possível, onde pudesse estudar as linhas mestras dos processos de transformação social que estariam ocorrendo e que, para mim, eram mais do que evidentes.
O surto migratório iniciado no pós-guerra, que tinha chegado ao seu auge em 1969, tinha sido estancado abruptamente em 1974. A abertura à sociedade de consumo que ocorrera a par e passo tinha tornado os habitantes das zonas rurais crescentemente dependentes do mundo exterior. A mudança política ligada à revolução democrática de meados da década de 70 tinha-lhes oferecido uma renovada capacidade para intervir na relação com as elites urbanas e tinha-lhes concedido direitos de cidadania que até ali lhes eram desconhecidos. A escolarização alargava-se, a cobertura hospitalar crescia a passos largos, o acesso a pensões de aposentadoria generalizava-se e, ao mesmo tempo, as intervenções do Estado central nas vidas cotidianas aumentavam a tal ponto que até a reação inicial de proteção da autarcia local perdera já quase todo o seu sentido.
Contudo, depois de me debater com a questão, concluí, sem margem para dúvidas, que a sociedade que havia estudado nessa época ainda era uma sociedade camponesa, tal como tinha sido desde a implantação do regime liberal burguês nos inícios conturbados do século XIX. Uns anos depois, em meados da década de 1980, essa condição viria a esvanecer-se (cf. Pina Cabral 2000). A população rural passou a viver na condição periurbana e consumista que hoje a caracteriza. Na época em que por lá andei, porém, as pessoas mais velhas, com as quais o etnógrafo é inevitavelmente levado a trabalhar, partilhavam ainda de "uma visão de mundo camponesa". Dessa forma, a sua visão de mundo assentava sobre uma condição econômica que presumia a auto-subsistência agrícola numa relação de dependência em face de uma elite urbana que, no entanto, permitia o prosseguimento de uma vida comunitária local com um elevado nível de autarcia.
Numa tal sociedade, quem não tinha terra não só se encontrava menos protegido como era também menosprezado. O que para os minhotos rurais parecia evidente isto é, que a incapacidade demonstrada pelas cabaneiras de terem um "modo de vida" era o resultado de deficiências morais da sua parte ia-se tornando menos e menos aparente para mim, conforme eu ia aprendendo mais sobre a sociedade local. Tal como todo o intérprete, eu me via obrigado a interpretar o que me diziam não só em termos do que me diziam, mas também em termos (a) do que eles faziam e (b) do mundo que nos rodeava (a eles e a mim v. Davidson 2004:128). Ia-se tornando patente para mim que, conforme eu compreendia melhor a forma como falavam e agiam e o mundo em que transitavam, eu também aprendia a apreciar as coisas que eles não diziam os não-ditos.
Os não-ditos
Antes mesmo de continuar, há que insistir que esta categoria de "não-ditos" é aqui usada de forma puramente heurística, como um portal conceitual para todo um mundo altamente diversificado de preocupações interpretativas e constatações etnográficas. Por isso, até a uso no plural, já que não presumo que seja possível identificar uma forma qualquer singular de qualificar o que fica por dizer no decorrer da vida social. Ora, nos casos em consideração, esses não-ditos podiam ser observados em relação a vários eixos: aquilo que as pessoas sabiam e não precisavam dizer; o que sabiam e não queriam dizer; finalmente, tudo quanto o etnógrafo explicita sobre o mundo em que eles vivem mas que eles próprios não reconhecem nesses mesmos termos.
Em primeiro lugar, refiro-me ao fato de que o mundo conceitual e o mundo material da vida camponesa minhota estavam estruturados por trilhos preferenciais que cruzavam o universo de significados das pessoas (o seu "jardim de crenças",4 4 Todos os trechos extraídos de obras citadas em língua estrangeira na bibliografia são traduções da minha exclusiva responsabilidade. como diz Quine5 5 "Formamos hábitos de construção de crenças tal como formamos outros hábitos; só que nos hábitos de construção de crenças há menos margem para idiossincrasia" (Quine e Ullian 1970:59). "Para preservar bem as nossas crenças, mesmo para uso doméstico, temos que olhar bem para a maneira como estão apoiadas. Um saudável jardim de crenças requer raízes bem alimentadas e muita poda. Quando queremos que uma crença nossa vingue no jardim de outra pessoa, a questão do apoio desdobra-se: primeiro, temos que considerar que apoio é que era necessário para ela em casa e, depois, que apoios do mesmo gênero são os que existem para ela no novo contexto" (idem:85). ) e que ligavam esse universo à sua história e à sua radicação no mundo vivido. Conceitos como o de casa, o de vizinho, o de pão, os dos gêneros, enfim, tantos outros, surgiam em interrelações complexas de significado para as quais as pessoas não tinham palavras, mas que possuíam um enorme peso de evidência. Foram esses trilhos que eu procurei seguir na monografia que escrevi sobre o Alto Minho, Filhos de Adão, filhas de Eva (1989 [1986]).
Assim, em segundo lugar, associações, pessoas, processos ou coisas que não se integrassem bem nesses complexos imagéticos, nesses trilhos no universo das crenças ou que, pelo contrário, os pusessem em questão eram sistematicamente evitados, desvalorizados ou silenciados. Nesse sentido, se poderia dizer que o modo de vida das cabaneiras não existia, que se elas não tinham terra era por serem preguiçosas, ou que os filhos bastardos que tinham eram resultado de lascívia e não de uma estratégia inteligente e plurissecular para lidar com uma previsível velhice de abandono.
Na época, optei por chamar "protótipos" a este tipo de processos de integração semântica não explícita que eu encontrava silenciosamente inscritos nas práticas comunicacionais cotidianas como se se tratasse de dispositivos geradores de racionalidade que, não sendo formuláveis em si, davam forma aos caminhos preferenciais das associações da comunicação cotidiana. Quando alguém procurava validar uma opinião ou observação diante de outro, fazia-o mais facilmente na medida em que seguisse esses trilhos ou que neles indiretamente se apoiasse. Muitas vezes vi isso acontecer nas nossas conversas e disputas na taberna ou em torno de uma malga de vinho verde, numa pausa do trabalho agrícola.
Os trilhos surgiam dentro de um mundo de ação e como reação construtiva a ele por parte dos atores sociais (cf. Pina Cabral 2004). Por vezes, detectava-os no interior de "normas" explícitas (do tipo, "isto é uma terra de gente decente, não gostamos de casamentos de vacas" quer dizer, de uniões não-religiosas); outras vezes, integrando descrições do real com enorme peso ostensivo (por exemplo: "Então não vê como as casas delas estão sempre a cair? Não tem brio, esta gente!", outras ainda como estandartes que explicavam escolhas estéticas ou emocionais. Na época chamei-os de "protótipos", hoje hesito em usar a expressão por não querer que se presuma que me apóio numa teoria da representação.
De fato, encontro-me, quanto a este aspecto, de acordo com Anthony Giddens quando afirma que a tal "crise" na antropologia de que tanto se fala resulta diretamente da adoção implícita de uma teoria do significado epistemologicamente insustentável. Assim coloca o autor: "os que falam de uma crise da representação na antropologia, ou que vêem o trabalho antropológico meramente como uma espécie de ficção criativa, são vítimas de [ ] uma falsa teoria do significado", cujas origens "podem ser procuradas na lingüística estruturalista de Saussure" que concebia o conhecimento "como se estivesse relacionado a um jogo de significantes, não tal como deve ser no contexto da experiência prática" (1996:124).6 6 Recentemente, Viveiros de Castro fez uma afirmação que, salvo erro, poderá aproximar-se deste ponto de vista também: "o antigo postulado da descontinuidade ontológica entre o signo e o referente, a linguagem e o mundo, que garantia a realidade da primeira e a inteligibilidade do segundo e vice-versa, e que serviu de fundamento e pretexto para tantas outras descontinuidades e exclusões entre mito e filosofia, magia e ciência, primitivos e civilizados parece estar em via de se tornar metafisicamente obsoleto; é por aqui que estamos deixando de ser, ou melhor, que estamos jamais-tendo-sido modernos" (2007:95).
Donald Davidson também repudia esta mesma visão, referindo-se a ela como "essa imagem da mente essencialmente incoerente que a concebe como um espectador passivo, mas crítico, de um espectáculo interior" (2001:52).7 7 "Existe uma imagem da mente que se tornou de tal forma inscrita na nossa tradição filosófica que é quase impossível escapar à sua influência, mesmo quando os seus erros são reconhecidos e repudiados. Uma versão crua, mas muito familiar, dessa tradição afirma o seguinte: a mente é um teatro em que o ego consciente [ conscious self] vê passar um espetáculo (sombras na parede) que consiste em aparências, dados dos sentidos, qualia, o que nos é dado na experiência. O que aparece nesse palco não são os objetos ordinários do mundo que o olho externo registra e o coração ama, mas algo que supostamente os representa. O que sabemos sobre o mundo exterior depende do que podemos nos aperceber a partir dessas evidências interiores" (Davidson 2001:34). E continua, "As crenças são verdadeiras ou falsas, mas não representam nada. É bom que nos libertemos das representações e, com elas, da teoria da verdade como correspondência, porque é o fato de pensarmos em representações que engendra intimações de relativismo" (ibid:46). Rejeitar uma tal teoria da representação não implica rejeitar a necessidade de compreender os processos de integração semântica que constituem os tais trilhos no universo das crenças e que, no fim das contas, são o que o etnógrafo procura identificar. Como identificá-los, porém, já que não se trata de "itens culturais", na acepção americana da expressão? Trata-se, outrossim, de processos aos quais temos acesso não através da comunicação lingüística direta, mas através do cruzamento dessa comunicação com as práticas (comunicacionais e outras) e com as coisas que nos rodeiam, no sentido mais genérico que Davidson dá à palavra "mundo":
Somos levados a supor que alguém que queremos compreender vive num mundo de objetos físicos macroscópicos, mais ou menos duráveis, com disposições causais familiares; que o seu mundo, tal como o nosso, contém pessoas com mentes e motivos; e que partilha conosco do desejo de encontrar calor, amor, segurança e sucesso, assim como do desejo de evitar a dor e o mal-estar. Conforme vamos entrando em detalhes, ou lidando com aspectos de certa forma menos centrais para o nosso pensamento, podemos conceder a existência de mais e mais diferenças entre nós e os outros. Mas se não conseguirmos interpretar os outros como se partilhassem conosco de uma gigantesca quantidade do que constitui o nosso senso comum, não seremos capazes de identificar quaisquer das suas crenças, desejos ou intenções, quaisquer das suas atitudes proposicionais (Davidson 2004:183).
No Alto Minho, tornava-se patente para mim que havia muitas coisas que as pessoas sabiam mas não diziam ou por não ser preciso, ou pelo efeito desestruturante que isso teria sobre o seu mundo de crenças. Mas existiam também muitas associações e configurações com as quais viviam mas sobre elas não se podia dizer propriamente que "soubessem".
Conforme o meu conhecimento do mundo local aprofundava-se e tornava-se mais sistemático, eu ia descobrindo mais e mais situações em que surgiam não-ditos deste tipo. Na verdade, é algo para o qual Malinowski já nos alertara. No Prefácio à primeira edição (1929) de The sexual life of savages, declara que, na sua etnografia, "quando faço uma afirmação simples sem ilustrá-la através de uma observação pessoal ou de fatos adicionais, isto significa que estou dependendo sobretudo do que me foi dito pelos meus informantes nativos. Esta, é claro, é a parte menos confiável do meu material" (1931:xlviii).
Assim, eu observava que existia inscrito no mundo social que nos rodeava todo um mundo de associações semânticas, narrativas e definições que, apesar de raramente serem explícitas, dirigiam surda e silenciosamente as formas como as pessoas faziam sentido do seu mundo favorecendo caminhos, suscitando respostas, disponibilizando meios. Por exemplo, quantas pessoas seriam capazes de explicitar o efeito estruturante sobre os sentimentos da comunidade paroquial (a "freguesia" aqui no sentido etimológico literal de filii ecclesiae) que resultava da existência de uma direção específica para a seqüência da visita às casas que a cruz paroquial fazia por ocasião da Páscoa? Descobri que ninguém sabia fazê-lo. Contudo, essa seqüência fazia parte de todo um sistema de concepção da freguesia e tinha foi fácil demonstrá-lo enormes efeitos práticos sobre a organização comunitária. Tal me foi confirmado quando o padre tentou alterar a ordem, o que causou enorme desconforto aos paroquianos (cf. Pina Cabral 1989:163-170).
Outro exemplo: a Festa de São João era uma das ocasiões anuais mais celebradas, mas quantos minhotos saberão dizer ao certo se esse São João é o jovem que está aos pés da cruz com a Virgem ou o outro do cordeirinho? No entanto, para compreender o significado da Festa de São João, o fato de a celebração incidir sobre o segundo é comprovadamente relevante.
Mais ainda, mesmo em instâncias para as quais havia "regras" explícitas quanto a certas práticas, isto não impedia que existissem não-ditos concomitantes. Por exemplo, a regra explícita e tantas vezes repetida em face do meu questionamento sobre a herança era que todos os filhos valiam a mesma coisa, em função do que todos os filhos deveriam herdar igualmente. Esta regra, porém, entrava em conflito com o princípio da reprodução da unidade social primária, a "casa".
Para que esta se prolongasse no tempo como uma entidade reconhecível, o parcelamento da "casa" tinha que ser evitado. Assim, conforme fui registando em detalhes casos particulares de "partilhas" (divisão da propriedade por herança), descobri que, apesar das "regras", existiam "estratégias", isto é, recorrências nas formas de ação que evidenciavam ser respostas racionais a outros complexos de interesses por parte dos agentes principais e que não teriam sido contemplados pela implementação cega das "regras".
As filhas que se casavam uxorilocalmente e que olhavam pelos pais na velhice acabavam por ser privilegiadas em relação aos filhos restantes sempre qualitativamente, mesmo quando não quantitativamente (isto segundo a presunção que todos partilhavam, mas sabiam ser falsa, de que é possível quantificar, igualizando, as distintas partes da propriedade de um camponês). A essas filhas, pois, eram atribuídos os elementos da propriedade paterna que mais implicações identitárias tinham para a "casa" e que mais lhes permitiriam reproduzir um cerne de propriedade em torno dos edifícios habitacionais centrais que definiam moralmente a "casa".
Mais ainda, o casamento entre primos tinha um efeito semelhante de consolidação identitária. Nesse caso, todos sabiam isto, estando até prontos a confirmá-lo, apesar de igualmente reproduzirem a regra canônica de o casamento entre primos ser errado e até vagamente incestuoso. Contemplavam hipóteses controversas e muito discutidas sobre os efeitos físicos e mentais nefários que tais casamentos tinham sobre a progenitura, embora a evidência que os rodeava pudesse facilmente ter levado ao abandono de tais hipóteses, já que cerca de 27.5% dos casamentos eram realizados dentro do "lugar" a unidade habitacional mais próxima, que raramente excedia as 70 casas sendo, por isso, quase sempre, casamentos entre primos.
O que se tornou para mim patente, se eu quisesse ter acesso a esses não-ditos, é que eu necessitaria recorrer a dois processos de confrontação contextualizante: por um lado, a inserção da ação observada dentro de hipóteses interpretativas (não só do dito, como do não-dito) que a ligavam com o passado; por outro lado, a sua inserção em formas de sistematização mais amplas. Em suma, havia que mudar de escala, pois se eu me ativesse à escala individual da comunicação cotidiana, eu ficaria limitado às afirmações explícitas dos agentes. Para aprofundar a interpretação para além do explicitamente afirmado, eu me via obrigado a abstrair, quantificando, elaborando esquemas interpretativos, fazendo mapas. Não é, pois, por acaso que acabo de referir uma percentagem de casamentos entre primos ou que anteriormente registrei percentagens de batizados de crianças sem pai reconhecido para validar as afirmações que faço aqui.
Assim, tendo realizado um censo de ambas as freguesias, e tendo cruzado a composição familiar com os níveis de riqueza de cada unidade doméstica,8 8 Os termos desse processo, que não serão aqui detalhados, estão explícitos em Filhos de Adão, filhas de Eva (opus cit. 1989:74-91). descobri que havia recorrências. Sumariando, quanto mais afortunada era a casa, tanto em termos de terras como em outros itens de propriedade, mais provável era que tivesse uma composição alargada, incluindo nomeadamente mais de um casal de gerações sucessivas. Essa prática correspondia a um processo de intensificação da reprodução identitária da unidade moral "casa". Pelo contrário, quanto menos afortunada a unidade doméstica, mais provável era que surgissem situações como a das "cabaneiras" e que o próprio conceito de casa se esvanecesse.
Ora, a evidência que obtive era clara: não se tratava de nada específico quanto ao momento em que me encontrava. Muito pelo contrário, o ainda recente surto de emigração tinha permitido às mulheres solteiras saírem da freguesia e, a médio prazo, parecia provável que o sistema das "cabaneiras" viesse a terminar. Assim, tratava-se de disposições estratégicas recorrentes e de longo prazo, mas que se constituíam de formas distintas em relação a um padrão hegemônico a tal noção moralmente prestigiada da "casa" que eu chamava de "protótipo". Poder e crença cruzavam-se de tal forma que, às unidades sociais primárias que tinham mais acesso à propriedade, era-lhes permitido desenvolverem o que chamei de "estratégias positivas" de reprodução da unidade social primária. As unidades sociais primárias que não tinham acesso à propriedade, diversamente, viam-se obrigadas a desenvolver "estratégias negativas".
Mais uma vez, não sei em que medida fui feliz na escolha desta última expressão, mas o que estava em causa era a realização de que, no caso das "cabaneiras" que não tinham "casa", não havia uma rejeição dos termos semânticos que levavam os que tinham "casa" a desenvolver as suas estratégias de reprodução e potenciamento dessas "casas". Pelo contrário, as disposições estratégicas que as "cabaneiras" manifestavam criando complexos familiares uterotópicos de entreajuda intergeneracional ligados ao trabalho assalariado sazonal, à instabilidade residencial e à bastardia eram parte do mesmo "jardim de crenças" dos camponeses ricos que desenvolviam as estratégias positivas. E as disposições estratégicas delas, por muito que fossem não-ditos da vida cultural local, eram por todos reconhecidas e facilmente identificadas. Todos sabiam como se fazia esse tipo de vida, que tipo de percurso de vida correspondia a essas pessoas, que expectativas podia encontrar quem por esse percurso se "desviasse".
De fato, assim era concebida a coisa, como se se tratasse de desvio em relação a um padrão moral. Mas a noção de desvio, de "ovelha tresmalhada", ou até a própria adesão a esse suposto "padrão", não fazia sentido quando aplicada a pessoas que, em alguns casos, eram já filhas, netas e mesmo bisnetas (e quem sabe se mais ainda) de mães solteiras. O desvio correspondia a um estigma, não a uma improbabilidade estatística. Esse não-dito era parte de uma estrutura de poder simbólico e a forma como tive acesso a ele foi através da quantificação.
Mais tarde, nos anos 90, quando realizei um novo projeto etnográfico entre os euro-asiáticos de Macau, foi também através da quantificação, nesse caso das práticas matrimoniais interétnicas, que me foi possível ter acesso aos não-ditos implícitos às relações étnicas que estruturavam o mundo dessa cidade intercultural (Pina Cabral & Lourenço 1993; Pina Cabral 2002). De forma a não prolongar excessivamente este texto, deixarei esse exemplo para outra ocasião e abordarei em seguida a questão da quantificação no âmbito da prática etnográfica.
Quantificação e interesse
Um dos momentos mais importantes na história da antropologia é um ensaio de Meyer Fortes publicado pela primeira vez em 1949, que mais tarde dá o título ao seu livro Time and social structure (1970). Aí, o autor relata a surpresa que teve ao observar algo que, à luz das descrições émicas dos princípios de organização social, não era facilmente interpretável: a imagem dos jovens que, ao fim do dia, numa aldeia ashanti, transportavam comida da casa onde estava a mãe para a casa onde estava o pai (1970:10). Aparentemente, os casamentos continuavam em vigor, apesar de os cônjuges se encontrarem separados, já que as mulheres seguiam alimentando os seus maridos como se esperava delas. Mas a margem de negociação das mulheres era superior ao que emergia dos relatos locais, e muitas delas acabavam por formar as suas próprias casas no decorrer da vida adulta, após um casamento originalmente virilocal. Ora, esse processo não era aleatório ou dependente das possibilidades das pessoas individuais: pelo contrário, tratava-se de um efeito estrutural algo com um enorme peso explicativo para prever quem vivia onde e quando numa aldeia ashanti.
Sem entrar aqui em detalhes, basta sublinhar que a solução encontrada por Fortes para o dilema passou pela quantificação da composição das unidades domésticas através do percurso de vida destas, o que lhe permitiu identificar a existência de uma correlação entre idade e residência, por um lado, e grupo doméstico e linhagem, por outro. Assim, o etnógrafo conseguiu captar lógicas temporalizadas de organização social para as quais não havia explicações indígenas explícitas, já que elas resultavam de processos de adaptação de condições materiais, princípios classificatórios e interesses individuais. Desta forma, surgiu o seu famoso conceito de ciclo de desenvolvimento doméstico.
Algo de muito semelhante ocorre com Raymond T. Smith no seu também clássico ensaio sobre a sociedade caribenha, no qual demonstra que a matrifocalidade não é o simples resultado de formas desviantes de comportamento, mas sim uma realidade estrutural no sentido de que é um fenômeno a se levar em conta em qualquer modelo explicativo do posicionamento dos indivíduos na sociedade (1973). O autor vai além do discurso explícito que inferioriza essas pessoas, mostrando que, através do seu comportamento, por um lado, elas são dominadas e, por outro, conseguem superar parcialmente essa dominação por meio do reforço de laços uterotópicos, como diria Thales de Azevedo.
O que permite a Raymond Smith demonstrar o seu argumento é o fato de ultrapassar a descrição dos conceitos e procurar ver uma correlação entre estes e os contextos sociais:
crenças, pressupostos, conceitos gerais, ou princípios culturais, [ ] não se transformam simples ou diretamente em "normas" que "governam" o comportamento, assim como as generalidades comportamentais não se cristalizam em normas, que depois são racionalizadas em conceitos ou cartas míticas. O processo é muito mais complexo e só pode ser compreendido se pusermos o foco sobre esse ponto no qual os pressupostos culturais e os axiomas morais entram em conjugação com outros aspectos da realidade no processo da vida social (1973:143).
A que "outros aspectos" ele estará se referindo? Claramente ao poder socioeconômico e ao prestígio social que, de uma forma ou outra, está sempre associado a ele. Essa conjugação entre "pressupostos culturais e axiomas morais", como os chama o autor, e poder econômico e político opera-se através de não-ditos. Tal como no caso ashanti ou no caso minhoto, portanto, R.T. Smith teve necessidade de recorrer à quantificação para perceber esses processos de constituição das entidades mais básicas da reprodução social a tal conjugação dos pressupostos culturais com a vida real.
Mas de que quantificação estamos falando? Não se trata de uma simples enumeração de certos eventos, mas sim do estabelecimento de correlações temporais entre contextos e ações, "uma análise estatística elementar", como a denomina Fortes (1970:31). Na verdade, por se tratar de uma correlação, a forma básica da quantificação etnográfica é a percentagem, a "regra de três simples". Insisto que a larga maioria do que os sociólogos e os antropólogos quantificam pode ser compreendida através desse processo de formalização que é, afinal, a estrutura da analogia um dos processos mais difundidos de associação nas práticas simbólicas "naturais".
Trata-se de correlacionar ações (sejam elas verbais ou gestuais) com descrições (sejam elas émicas ou éticas), conferindo a relação de disjunção entre as duas áreas. A quantificação permite-nos ter acesso à distribuição temporal e espacial das pessoas, das coisas e das ações: a dinâmica evolutiva das relações no tempo e no espaço, que só indiretamente se conjuga com a dinâmica evolutiva que os agentes explicitam. Assim, emergem processos recorrentes, a todos familiares, mas que assentam sobre o regime do não-dito. Sem dúvida, um dos exemplos mais conhecidos são os gráficos que nos são dados por Victor Turner em Schism and continuity, em que identifica os fatores que levam as aldeias ndembu a um processo de fissão recorrente. É a partir desses mapas, em que conjuga pessoas com aldeias e com profundidade geracional dos chefes, que o autor propõe a existência de um processo recorrente de "dramas sociais" (1957:83).
As disjunções e as associações assim identificadas constituem uma das portas que nos permitem ter acesso a não-ditos ao subentendido, mas também ao impensado; àquilo que, no cotidiano, está escondido pela naturalização das opções, pela objetivação das identidades, pelo trabalho de silenciamento do poder simbólico. Temos acesso a isso em virtude dos dados que nos permitem ressituar afirmações que recebemos quanto a observações que fazemos. Dessa forma, emergem como atos sociais processos que, de outra forma, pareceriam ser guiados por fatores de natureza tão idiossincrática que não valeria a pena explicitá-los. Por exemplo, ter 25 anos e viver em casa dos pais pode ou não passar a ser um ato social, em vez de uma mera ocorrência.
Assim é o caso com as opções matrimoniais que, pelo menos nas sociedades modernas, aparecem como determinadas por idiossincrasias emocionais mas que, quando observadas agregadamente, revelam ter lógicas causais não-ditas. Por exemplo, no caso dos euro-asiáticos de Macau, foi-me possível determinar algo que os agentes não explicitavam e que só vagamente estavam prontos a reconhecer, a saber: o fato de, na década de 70, terem ocorrido mudanças rápidas e radicais nas opções matrimoniais; essas mudanças, tanto pela sua temporalidade como pela sua natureza, estavam associadas a transformações que ocorreram nesse mesmo período na organização política e militar do Território (cf. Pina Cabral & Lourenço 1993). Para qualquer macaense, a noção de que terá escolhido o seu marido ou a sua mulher por razões associadas a fenômenos de natureza política ou militar parecer-lhes-ia absurda (e, na verdade, num certo sentido imediato, seria absurda). Contudo, a evidência agregada é mais do que suficiente para comprovar a importância de tais fatores de determinação.
O paradoxo do celibato dos herdeiros, que leva Bourdieu a desenvolver o seu célebre primeiro estudo sobre o assunto, resulta precisamente de uma confrontação entre o que lhe diziam os agentes e os dados agregados referentes à nupcialidade (2002 [1962]:17-18). O autor cruza depois celibato com tamanho da propriedade, com ordem de nascimento e com geração (ibid.:58-60). Finalmente, apresenta uma série de estatísticas matrimoniais (ibid.:76-77-81).
Na verdade, o que constitui esta quantificação é a tentativa de atribuir sentido aos gestos dos outros, procurando esse sentido numa relação com o mundo comum que partilhamos. Em vez de simplesmente nos atermos às descrições que recebemos, cruzamos essas descrições com o que nós próprios vemos e conhecemos do mundo que partilhamos com essas pessoas. Ao assim fazer, começamos a criar hipóteses sobre a natureza dos interesses dos agentes sociais.
Claro que essas hipóteses são informadas pela teoria das ciências sociais, são moduladas por metodologias complexas, são corrigidas por uma tradição de estudos anteriores sobre o mesmo assunto e, ainda, por uma prática crítica que faz parte central da parafernália científica. O conhecimento científico distancia-se destas formas do senso comum. Contudo, urge enfatizar que o processo de constituição de hipóteses sobre a relação entre o investimento que os agentes têm sobre o seu campo de ação (aquilo a que chamo "interesses", cf. Pina Cabral & Bestard 2003) e os contextos em que essas opções são tomadas faz parte da interpretação cotidiana, que permite a própria existência de vida social.
É importante notar que se trata de hipóteses, mas de hipóteses fundamentadas e que, como explicita Donald Davidson, a atribuição de intenções e interesses mais ou menos pertinentes a outros é uma condição sine qua non para a própria vida social: "Fazemos constantemente julgamentos comparando os interesses de duas ou mais pessoas", diz-nos o filósofo. "[...] É notável que raramente tenhamos especial dificuldade em chegar a tais julgamentos. [...] em geral, não sentimos que o processo de comparar os interesses de pessoas diferentes seja mais difícil em gênero e nível do que comparar os nossos próprios interesses em conflito" (2004:59). Assim, conseguimos criar hipóteses sobre os constrangimentos que levaram as pessoas às suas ações e que não correspondem às formulações que eles próprios explicitam. Tanto a metodologia de mapeamento (sobre a qual não me debruçarei neste ensaio), como a metodologia da quantificação antropológica são, afinal, subcategorias (se bem que especializadas, convenhamos) do exercício básico de prática interpretativa que todos usamos para nos compreendermos uns aos outros e para podermos aprender a linguagem.
Estratégias, casas e casamentos
Para a minha geração, o recurso ao conceito de "estratégia" serviu para fugir ao normativismo da vulgata sociocêntrica (na sua versão culturalista e na institucionalista) e para permitir integrar lógicas de temporalização processualista nas descrições etnográficas. Ao se observarem comportamentos relativamente recorrentes, não era necessário postular a existência de "normas", "regras" ou "leis" explícitas ou implícitas que explicassem a regularidade dos comportamentos. Se todos os agentes se confrontassem com problemas semelhantes, então todos mais ou menos chegariam a soluções mais ou menos parecidas: a isso chamamos "estratégia". Trata-se do efeito agregado de todos partilharem aproximadamente dos mesmos interesses (tanto no nível dos "princípios" hegemônicos que valorizam, como no das condições com que se confrontam aquilo que Bourdieu chama, mas nós não, "estruturas objetivas").
O conceito está associado a Bourdieu mas, contrariamente ao que ele afirma, a idéia estava surgindo um pouco por toda a parte na antropologia do pós-guerra. Foi Fortes (contra quem Bourdieu tão injustamente vitupera) que, nos anos 40, desenvolveu os métodos de análise que, mais de uma década depois, Bourdieu vai aplicar aos camponeses de Béarn com tanto sucesso para mostrar como a questão central que movia os camponeses nas suas opções matrimoniais era a reprodução da casa enquanto unidade social primária.
Bourdieu nunca define o conceito de estratégia claramente, e a forma como o usa transporta em si problemas graves, porque carrega um forte peso teleológico. O conceito de "estratégia", afinal, para Bourdieu, é por definição dependente do de habitus que ele, em 1972, define ainda como "mestria prática de um pequeno número de princípios implícitos a partir dos quais se gera uma infinidade de práticas que podem ser reguladas sem serem o produto da obediência a regras" (2002 [1972]:204). Mais tarde, chegaria a formulações mais ricas, como ele próprio, aliás, refere.
Na época, o tema do casamento estava em voga na antropologia. Ao responderem às profundas alterações que ocorriam nas relações entre os gêneros no período pós-guerra, as ciências sociais confrontaram-se com uma radical revisão do significado da instituição matrimonial. Nesse aspecto, a primeira Malinowski memorial lecture de Edmund Leach, em 1959, intitulada "Rethinking anthropology", inclui uma rejeição da universalidade do conceito de casamento, à época altamente polêmica (1961). Os dois ensaios de Bourdieu sobre o casamento camponês em Béarn são de 1962 e 1972 e integram-se a uma corrente da qual fazem parte, entre outros igualmente famosos, o texto a que antes nos referimos de Fortes; o texto de 1949 de Laura Bohannan sobre pagamentos matrimoniais; o debate entre Leach e Gough sobre a inexistência do casamento entre os Nayar (Leach 1961; Gough 1959); a proposta de R.T. Smith sobre o conceito de matrifocalidade (1973); os debates de Gluckman sobre as elevadas taxas de divórcio entre as populações matrilineares centro-africanas (1950); algumas das obras de Margaret Mead sobre o assunto (eg. 2003 [1950]); os ensaios de Lévi-Strauss sobre "o átomo do parentesco" (1945 e 1973) etc.
Na verdade, porém, retrospectivamente, creio ser justificável afirmar que o aspecto mais inovador dos ensaios de Pierre Bourdieu não se situa no nível do tratamento da questão do matrimônio, mas sim na centralidade que atribui, na determinação das práticas matrimoniais, ao conceito de "casa" (que vai buscar em Weber, tal como Stirling na mesma época 1966). Bourdieu demonstra que não há regras para o "sistema": as opções matrimoniais são o resultado de fatores de constituição social associados a lógicas mais abrangentes. "Os constrangimentos que pesam sobre cada escolha matrimonial são tão numerosos e entram em combinações tão complexas que, seja como for, excedem a consciência dos agentes" (2002 [1972]:204).
Há "princípios" culturais que funcionam na constituição dos interesses das pessoas. Ora, nas suas explicações, os tais "princípios" a que se refere acabam por ser uma concepção da unidade social primária a casa sobre a qual assenta primordialmente o processo de ligação entre a reprodução social e a reprodução física. Em suas palavras:
As estratégias propriamente matrimoniais não podem ser, pois, dissociadas sem abstração das estratégias sucessoriais, nem ainda das estratégias de fecundidade, nem mesmo das estratégias pedagógicas, quer dizer, do todo das estratégias de reprodução biológica, cultural e social que o grupo em sua totalidade põe em funcionamento para transmitir à geração seguinte, mantidos ou aumentados os poderes e os privilégios que ele próprio herdou (ibid.:205).
O teleologismo sociocêntrico desta afirmação, em que os grupos supostamente põem em funcionamento uma série de meios para se reproduzirem, seria hoje aberrante para nós.9 9 Na já famosa formulação de Marilyn Strathern, "o principal problema com a abstração de sociedade como conceito reside nos outros conceitos que promove" (Strathern 1996:60). Esforcemo-nos, pois, por reformular a questão.
Nesse aspecto, eu concordo só parcialmente com Bourdieu (pelo menos o Bourdieu de "Celibat et condition paysanne" (2002 [1962]), quando ele afirma que a finalidade da análise sociológica é "apreender o fato na sua natureza própria" (ibid.:128), opondo "a consciência subjetiva que o indivíduo tem do sistema social" à "estrutura objetiva do sistema". Ele conclui afirmando que, se a sociologia vale a pena, é para "restituir aos [ ] homens o sentido dos seus atos" (idem). A que "sentido" se refere ele? Será que existe só um sentido verdadeiro? Era, na verdade, esta a sua concepção naquela época.
Confrontados com a sua forte formulação da existência de uma natureza própria de um fato, somos hoje levados a hesitar. Contudo, quero deixar bem claro que hesitamos não porque sejamos descrentes da possibilidade de ter acesso à verdade, mas porque somos descrentes da possibilidade de ter acesso a toda a verdade. O realismo descomplexado do pós-guerra quando os cientistas sociais acreditavam ter descoberto a própria verdade dos fatos (o significado objetivo do sistema) e que podiam através dessa verdade emancipar os agentes (estes últimos obnubilados pela sua condição de agentes) gerava uma relativa inocência, que nos foi entretanto retirada.
Para sermos hoje realistas, temos que ser realistas minimalistas, isto é, acreditar que temos algum acesso à verdade em virtude de partilharmos um mundo comum com todos os outros seres humanos e ainda pelo fato da nossa comunicação com esse mundo comum ser uma condição sine qua non para a existência de pensamento, linguagem e cultura; no entanto, esse acesso será sempre mediado pela nossa condição histórica. Bourdieu afirmava que a razão pela qual o cientista social pode "apreender o fato na sua natureza própria" é "o privilégio que lhe fornece a situação de observador, renunciando a agir o social para pensá-lo". Continuamos hoje a acreditar no poder crítico do uso correto desse privilégio, mas não cremos mais ser possível sair da história, ultrapassar a nossa própria condição histórica.10 10 Contudo, as visões teóricas recentes mais extremadas ressuscitam ironicamente alguns desses poderes demiúrgicos do antropólogo: segundo Viveiros de Castro, uma das "regras do jogo" etnográfico/antropológico seria que "O antropólogo usa necessariamente sua cultura; o nativo é suficientemente usado pela sua" (2002:114).
Em suma, nós também acreditamos no poder emancipatório do conhecimento crença que movia tanto Gramsci como Fortes e Bourdieu só que somos minimalistas; as nossas expectativas são mais moderadas, contextualizadas, problematizadas e o nosso olhar sobre o nosso próprio conhecimento é historicizado.
Hegemonia e agonismo
Assim sendo, do que estamos falando quando abordamos os não-ditos ou quando procuramos identificar os tais other aspects da realidade social que, na opinião de R.T. Smith, permitiriam contextualizar as categorias explicitadas e, assim, compreender mais plenamente o significado dos comportamentos sociais?
Há dois tipos de questões que se levantam nesta matéria. Em primeiro lugar, a de como formular a existência de fenômenos silenciados da cultura. Sem silêncios não há fronteiras; não há categorias. São os silêncios que permitem a consolidação das grandes categorias de ação social: as pessoas, os gêneros, as casas (Minho e Béarn), o grupo étnico (Macau), as nações etc. O próprio processo de constituição de categorias e, principalmente, dos tais trilhos no universo das crenças envolve necessariamente o silenciamento de certos aspectos e a enfatização de outros. O poder simbólico inscrito nessas opções o funcionamento das hegemonias é condição para a constituição do relacionamento social (Pina Cabral 1996).
Em segundo lugar, existem também efeitos estruturais: em virtude de certos tipos de pessoas terem este ou aquele interesse, outras pessoas têm as suas opções limitadas (por exemplo, em alguns sistemas, os óbvios benefícios que resultam, para a solidez da casa, em atrasar os casamentos das filhas, o que as penaliza). Em suma, os interesses de uns limitam os interesses de outros, assim como os interesses que temos em virtude de sermos uma certa coisa (pai, advogado, surfista) limitam os interesses de sermos outras coisas (filho, réu, torcedor vascaíno) (cf. Pina Cabral & Bestard 2003).
Assim, parece-me importante hoje enfatizar que, da mesma maneira que se passa com o realismo, continuamos a não poder abandonar certa forma de estruturalismo. Mas um estruturalismo que não conceda um fundamento ontológico independente à estrutura, que compreenda que nenhum arranjo estrutural de natureza social é completamente auto-regulado, isto é, um estruturalismo mitigado, que corresponde em tudo ao nosso realismo minimalista. Para os efeitos do presente argumento, é importante que os não-ditos existam numa vinculação com o dito, resultando dos ajustes de uma dinâmica entre agentes que se relacionam sempre num campo marcado historicamente pela dominação, pelo poder.
Mas vejamos como Bourdieu formula esta questão:
a construção social da realidade social realiza-se em e por meio de inúmeros atos de construção antagonística que os agentes operam, a cada momento, nas suas lutas individuais e coletivas, espontâneas e organizadas, para impor a representação do mundo social que é mais conforme aos seus interesses; lutas estas, está claro, muito desiguais, pois os agentes possuem uma mestria muito diversificada dos instrumentos de produção da representação do mundo social [ ] e ainda do fato de que os instrumentos que lhes estão imediatamente disponíveis, em especial a língua normal e as palavras do senso comum, apresentam-se, em virtude da filosofia social que veiculam, muito desigualmente favoráveis aos seus interesses segundo a posição que eles ocupam na estrutura social (2002 [1972]:249).
Gramsci faz uma observação muito semelhante quando se pergunta: "E não se dá freqüentemente o caso de haver uma contradição entre a opção intelectual de uma pessoa e o seu modo de conduta? Portanto, qual será a verdadeira concepção do mundo: a logicamente afirmada como uma opção individual? Ou a que emerge da atividade real de cada um, a que está implícita no seu modo de agir?" (apud Crehan 2004:139).
A resposta que dá passa pela negação de que se trata simplesmente de "má fé". Esta poderia explicar casos individuais, mas não poderia explicar o comportamento geral da humanidade. "O contraste entre pensamento e ação só pode ser a expressão de contrastes mais profundos de uma ordem social histórica", diz-nos o autor (ibid.:139). Para ele, "o grupo social em questão pode ter a sua própria concepção do mundo, mesmo que apenas embrionária; uma concepção que se manifesta na ação, mas ocasionalmente e de passagem, isto é, quando o grupo atua como uma totalidade orgânica. Mas esse mesmo grupo adotou, por razões de submissão e subordinação intelectual, uma concepção que não é a sua, mas que recebeu de outro grupo; e afirma esta concepção verbalmente e julga segui-la, porque esta é uma concepção que segue em tempo normal, isto é, quando a sua conduta não é independente e autônoma, mas submissa e subordinada" (ibid.:139-140).
Para nós, hoje, quase um século depois de Gramsci e meio século depois de Bourdieu, estas formulações apresentam-se como problemáticas. Quando seria o "tempo anormal" em que o "grupo" manifestaria a sua "verdadeira" concepção? Gramsci presume a existência desse "tempo anormal", o tempo da revolução, o tempo da libertação, o tempo em que o grupo age como "realmente pensa". Ora, eu não nego a possibilidade da "revolução" pela qual Gramsci tanto ansiava; nem nego a possibilidade do labor crítico que expõe e, portanto, desarma o poder simbólico que, segundo Bourdieu, era a única razão porque tinha aceitado passar mais de uma hora estudando sociologia. O que nego é que haja só um nível de hegemonia e que exista uma qualquer anterioridade daquilo que o grupo "realmente" pensa. O que o "grupo realmente pensa", isto é, a visão resultante do trabalho crítico de desconstrução do poder simbólico, é sempre um fenômeno posterior à análise, nunca anterior.
Conclusão: sociocentrismo/antropocentrismo
A solução revolucionária de Gramsci, assim como a solução crítica de Bourdieu pecam pelo mesmo problema que se encontra também no sociocentrismo de Durkheim e Mauss.11 11 Cf. seção final de "De certas formas primitivas de classificação", 1991 [1903]:68-73. Todos estes pensadores enfatizam excessivamente a condição grupal, concedendo-lhe uma precedência analítica sobre a condição humana, pelo que se vêem obrigados a uma concepção agonística do poder. De fato, se as unidades socioculturais são entidades fechadas sobre si mesmas, então as suas relações de interesse só podem ser conflitantes e a dominação só pode surgir como algo de sinistro (tanto entre "indivíduos" como entre "sociedades/pátrias").
No caso de Durkheim, a ligação definidora entre o conceito divinizado de "sociedade"12 12 O mestre afirma mesmo que poderia demonstrar a existência de um "paralelismo entre a noção de sociedade, por um lado, e a noção de divindade, por outro" (2007 [1908-1909]:72). e o de "pátria" é absolutamente explícito: "É preciso conservar a idéia de que a sociedade é a condição mesma da civilização e da humanidade. E uma vez que a pátria não é mais que a sociedade mais altamente organizada [...] negar a pátria não é apenas suprimir as idéias recebidas, mas é danificar a vida moral em sua própria fonte" (2007 [1908-1909]:74).
Um século depois e à luz de tudo o que, entretanto, à nossa própria custa aprendemos esta concepção sociocêntrica e agonística das relações sociais revela-se um grave impedimento à compreensão, por um lado, do próprio processo de constituição da socialidade e, por outro, da nossa existência num mundo crescentemente globalizado.
Deixemo-nos aqui inspirar pelas formulações de Emmanuel Levinas sobre a forma como a identidade humana tem sempre subjacente a si uma alteridade anterior. Este autor avisa-nos repetidamente contra os perigos da polarização da alteridade, chamando a nossa atenção para o fato de que as categorias culturais de pertença social sobre as quais os antropólogos têm tradicionalmente trabalhado (as tais "sociedades/pátrias" de Durkheim ou as "culturas" dos antropólogos mais recentes) coexistem com uma outra forma de alteridade bem mais constitutiva: a interação interpessoal face a face que implica um sentimento profundo e inarredável de co-responsabilidade ética e que é comum a todos os humanos. Levinas avisa-nos que "a alteridade [não pode] ser justificada unicamente como a distinção lógica entre partes pertencendo a um todo indiviso, que seriam unidas nesse todo por relações recíprocas rigorosas" (1996:165).
Ora, as ciências sociais modernas têm focado o segundo tipo de alteridade em detrimento do primeiro, quer dizer, em detrimento da confrontação face a face essa fraternidade essencial que é constituinte dos nossos próprios egos (aqui, selves) enquanto humanos. Por ser constituinte de cada um de nós, essa fraternidade cria em nós uma disposição para reconhecer a humanidade nos outros. A teoria social moderna foca tão redondamente na pertença ao grupo (na "sociedade" ou "cultura" como todos integrados) que acaba por silenciar esta outra forma de alteridade, atirando-a para as terras longínquas da psicologia.
Adoto aqui a crítica de Levinas à lógica totalizante inscrita na história do pensamento europeu, que nos leva a abordar implicitamente os "outros" como pertencendo a "um ou outro tipo" (1996:166). Nas suas palavras: "Devemos precisamente questionar a concepção segundo a qual, na multiplicidade humana, o ego seria reduzido a uma parte de um Todo, que se reconstituiria à imagem de um organismo ou de um conceito cuja unidade seria a coerência dos seus membros ou uma estrutura abrangente" (1966:165). Ao realizar essa redução, o sociocentrismo moderno torna-se cego às implicações morais e cognitivas da co-existência permanente no comportamento humano dos dois registos de alteridade: o face-a-face e o sociocultural.
Pois bem, esta crítica ao sociocentrismo implica uma concepção do ego em que a identificação com outrem é sempre anterior à diferenciação individual e mantém de forma constante a sua força ética o seu poder apelativo. Para Levinas, a fundação da autoconsciência é a relação com o outro, não a reflexão no sentido de cognição. "O outrem não é primeiro um objeto de compreensão e depois um interlocutor. As duas relações interpenetram-se. Em outras palavras, a compreensão de outrem é inseparável da sua invocação" (1996:6). "A experiência humana é social antes de ser racional" (Finkielkraut 1997:10).
O sociocentrismo engajado de Gramsci, o sociocentrismo nacionalista de Durkheim, mas também o sociocentrismo mais moderado de Bourdieu dificultam a compreensão de que o processo de constituição do poder simbólico não parte da relação entre grupos ou mesmo entre indivíduos, mas do papel fundacional da alteridade na constituição da pessoa humana. A própria raiz da hegemonia está não na relação entre "grupos/sociedades" que se dominam uns aos outros, ou entre "indivíduos" (cf. Pina Cabral 2007b) que se digladiam para obter cada um o melhor naco, mas no fato de a pessoa ter que ser dócil para poder ser humana e, portanto, social.13 13 Como Christina Toren afirma de forma sucinta: "já que o significado é inerente às relações sociais, somos obrigados, quando constituímos significado, a submeter-nos aos significados que os outros constituíram" (1996:75).
Em suma, o dilema dos não-ditos, que persegue todo e qualquer etnógrafo que deseje abarcar os encadeamentos da ação humana, é largamente um produto do sociocentrismo moderno. Urge, pois, fazer ao inverso o caminho que levou Durkheim e Mauss de um "antropocentrismo" a um "sociocentrismo", para usar as suas próprias palavras. No seu texto fundacional sobre "Certas formas primitivas de classificação", os autores sublinham que "O centro dos primeiros sistemas da natureza não é o indivíduo; é a sociedade. É a sociedade que se objetiva e não o homem" (1991 [1903]:72).14 14 Veja-se como, nesta frase profética, os autores identificam implicitamente "indivíduo" com "homem", usando "sociedade" como o conceito mediador que permite essa amálgama, que tantas distorções transportou. Como insiste Marilyn Strathern, numa formulação da questão que se tornou muito influente, "O infeliz resultado de conceber a própria sociedade como uma entidade, na verdade, foi que, na existência humana, as relações passaram a parecer secundárias em vez de primárias" (1996:66), o que faz eco a reservas para as quais, no seu tempo, já Lévi-Strauss e Merleau-Ponty nos tinham alertado. Temos, porém, que abandonar esse sociocentrismo e caminhar em direção a um antropocentrismo novamente formulado que permita compreender os diferentes níveis de socialidade15 15 I.e., "a matriz relacional que constitui a vida das pessoas" (Strathern 1996:64). como processos em construção dentro de uma dinâmica tensa de dominação criativa.
Em muitos aspectos, a proposta inscrita neste ensaio pretende responder a desafios que muitos de nós têm identificado na teoria antropológica atual (e.g. Toren 1999; Strathern 2006; Viveiros de Castro 2002, 2007). A especificidade do argumento aqui apresentado assenta, por um lado, na recusa da redução da socialidade ao discurso e, por outro, na recusa da fuga à perspectiva humana.16 16 Temas que temos desenvolvido paulatinamente numa série de textos de cariz teórico (Pina Cabral 2003b, 2005, 2007b).
Notas
Recebido em 06 de setembro de 2007
Aprovado em 13 de setembro de 2007
- ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. 2001. Dicionário da língua portuguesa contemporânea Lisboa: Verbo.
- BOHANNAN, Laura. 1949. "Dahomean marriage: a revaluation". Africa, 19(4):273-287.
- BOURDIEU, Pierre. 2002 [1962]. "Célibat et condition paysanne". In : Le bal des célibataires Paris: Seuil. pp.15-165.
- ________. 2002 [1972]. "Les stratégies matrimoniales dans le système des stratégies de reproduction". In : Le bal des célibataires Paris: Seuil. pp.167-260.
- CREHAN, Kate. 2004. Gramsci: cultura e antropologia Lisboa: Campo da Comunicação.
- DAVIDSON, Donald. 2001. Subjective, intersubjective, objective Oxford: Clarendon Press.
- ________. 2004. Problems of rationality Oxford: Clarendon Press.
- DURKHEIM, Émile. 2007 (1908-1909). "O ensino da moral na escola primária". Trad. Raquel Weiss. Novos Estudos CEBRAP, 78:59-75.
- DURKHEIM, Émile & MAUSS, Marcel. 1991 [1903]. "De ciertas formas primitivas de classificación". In: M. Mauss, Institucion y culto: obras v.II. Barcelona: Barral. pp.13-73.
- FINKIELKRAUT, Alain. 1997 [1984]. The wisdom of love London: University of Nebraska Press.
- FORTES, Meyer. 1970 [1949]. "Time and social structure". In: Time and social structure and other essays London: Athlone, London School Monographs in Social Anthropology, pp. 1-32.
- GIDDENS, Anthony. 1996. In defense of sociology: essays, interpretations, and rejoinders Cambridge: Polity Press.
- GLUCKMAN, Max. 1950. "The Lozi of Barotseland in North-Western Rodhesia". In: A. R. Radcliffe-Brown and Daryll Forde (orgs.), African systems of kinship and marriage London: International African Institute/Oxford University Press.
- GOUGH, Kathleen. 1959. "The Nayars and the definition of marriage". Journal of the Royal Anthropological Institute, 89:23-34.
- LEACH, Sir Edmund. 1961. Rethinking anthropology London: Athlone, London School Monographs in Social Anthropology.
- LEVI-STRAUSS, Claude. 1945. Anthropologie structurale Paris: Plon.
- ________. 1973. Anthropologie structurale II Paris: Plon.
- LEVINAS, Emmanuel. 1996. Basic philosophical writings A. Peperzak, S. Critchley e R. Bernasconi (orgs.). Bloomington: Indiana University Press.
- MALINOWSKI, Bronislaw. 1931 [1929]. The sexual lives of savages in Northwestern Melanesia London: Routledge and Kegan Paul.
- MEAD, Margaret. 2003 [1950]. Sexo e temperamento São Paulo: Perspectiva.
- PINA CABRAL, João de. 1989 [1986]. Filhos de Adão, filhas de Eva: a visão do mundo camponesa do Alto Minho Lisboa: D. Quixote.
- ________. 1991. Os contextos da antropologia Lisboa: Difel.
- ________. 1996. "A difusão das margens: margens, hegemonias e contradições na antropologia contemporânea". Mana. Estudos de Antropologia Social, 2(1):25-57.
- ________. 2000. "The ethnographic present revisited". Social Anthropology, 8(3):341-348.
- ________. 2002. Between China and Europe: person, culture and emotion in Macao London and New York: Continuum Press (Berg), London School Monographs in Social Anthropology.
- ________. 2003. O homem na família Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais.
- ________. 2003b. "Semelhança e verossimilhança: horizontes da narrativa etnográfica". Mana. Estudos de Antropologia Social, 9(1):109-122.
- ________. 2004. "Os albinos não morrem: crença e etnicidade no Moçambique pós-colonial". In: F. Gil, Pierre Livet & João de Pina Cabral (orgs.), O processo da crença. Lisboa: Gradiva. pp. 238-267.
- ________. 2005. "The future of social anthropology". Social Anthropology, 13(2):119-128.
- ________. 2007a. "Aromas de urze e de lama: reflexões sobre o gesto etnográfico". Etnográfica, XI(1):191-212.
- ________. 2007b. "A pessoa e o dilema brasileiro: uma perspectiva anticensurista". Novos Estudos CEBRAP, 78:95-112.
- ________. & CAMPS, Joan Bestard. 2003. "A acção social e os limites do interesse". In: Pina Cabral (org.), O homem na família. Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais. pp. 47-54.
- ________. & LOURENÇO, Nelson. 1993. Em terra de tufões: dinâmicas da etnicidade macaense Macau: Instituto Cultural de Macau.
- QUINE, W.V. & ULLIAN, J.S. 1970. The web of belief New York: Random House.
- SMITH, Raymond T. 1973. "The matrifocal family". In: Jack Goody (org.), The character of kinship Cambridge: Cambridge University Press. pp. 121-144.
- STIRLING, Paul. 1966. A turkish village London: Wiley and Sons.
- STRATHERN, Marilyn. 1996. "The concept of society is theoretically obsolete. The presentations: for the motion (1)". In: Tim Ingold (org.), Key debates in anthropology London: Routledge. pp. 60-66.
- ________. 2006. "A community of critics? Thoughts on new knowledge". JRAI, 12(1):191-209.
- TOREN, Christina. 1996. "The concept of society is theoretically obsolete. The presentations: for the motion (2)". In: Tim Ingold (org.), Key debates in anthropology London: Routledge. pp. 72-76.
- ________. 1999. Mind, materiality and history: explorations in Fijian ethnography London: Routledge.
- TURNER, Victor W. 1957. Schism and continuity in an African Society Manchester: Manchester University Press.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 1996. "Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio". Mana Estudos de Antropologia Social, 2(2):115-144.
- ________. 2002. "O nativo relativo". Mana. Estudos de Antropologia Social, 8(1):113-148.
- ________. 2007. "Filiação intensiva e aliança demoníaca". Novos Estudos CEBRAP, 77:91-126.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
17 Dez 2009 -
Data do Fascículo
Abr 2008
Histórico
-
Aceito
13 Set 2007 -
Recebido
06 Set 2007