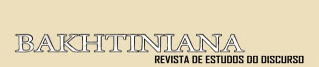RESUMO
Busco traçar uma articulação teórica em torno de duas obras póstumas de Mikhail Bakhtin e Yuri Lotman, expoentes chave para pensar a cultura sob uma perspectiva semiótica. Nessas produções tardias, os dois pensadores expõem um interesse compartilhado em refletir como o medo se materializa, podendo-se ler em textos concretos que buscam explicar os fenômenos que estão ocorrendo no horizonte cultural. Nesse sentido, Lotman e Bakhtin estão focados em investigar a aparência regular de um conjunto de princípios e motivos que seriam sistematicamente atualizados na relação entre laços sociais e medo. Meu objetivo vai além do descritivo para delinear aparatos críticos sobre o medo na perspectiva semiótica, à luz da interpretação desses artigos que mantêm o poder heurístico e fornecem um instrumento para iniciar uma reflexão sobre esse modo cultural de sentimento.
PALAVRAS-CHAVE:
Medo; Yuri Lotman; Mikhail Bakhtin; Semiótica da cultura
ABSTRACT
I seek to draw a theoretical articulation around two posthumous works by Mikhail Bakhtin and Yuri Lotman, key exponents to think about culture from a semiotic perspective. In these late productions, both thinkers expose a shared interest in reflecting how fear materializes, being able to be read in concrete texts that seek to account for the phenomena that are occurring on the cultural horizon. In this sense, Lotman and Bakhtin focus on investigating the regular appearance of a set of principles and motives that would be systematically updated in the relationship between social ties and fear. My purpose is not only to describe, but also to outline a critical apparatus about fear from a semiotic perspective, in light of the interpretation of these articles that keep heuristic power and provide an instrument to initiate a reflection on this cultural mode of feeling.
KEYWORDS:
Fear; Yuri Lotman; Mikhail Bakhtin; Cultural Semiotics
RESUMEN
Busco trazar una articulación teórica en torno a dos trabajos póstumos de Mikhail Bakhtin y Yuri Lotman, exponentes clave para pensar la cultura desde una perspectiva semiótica. En estas producciones tardías, ambos pensadores exponen un interés compartido por reflexionar de qué manera el miedo se materializa, pudiendo leerse en textos concretos que buscan dar cuenta de los fenómenos que van produciéndose en el horizonte cultural. En tal sentido, Lotman y Bakhtin se abocan a indagar sobre la aparición regular de un conjunto de principios y motivos que se actualizarían, sistemáticamente, en la relación entre lazo social y miedo. Mi propósito irá más allá de lo descriptivo para esbozar aparato crítico sobre el miedo en perspectiva semiótica, a la luz de la interpretación de estos artículos que guardan potencia heurística y proveen de un instrumental para iniciar una reflexión sobre este modo cultural del sentir.
PALABRAS CLAVE:
Miedo; Yuri Lotman; Mikhail Bakhtin; Semiótica de la cultura
Este trabalho visa a colocar em diálogo as perspectivas de Yuri Lotman e Mikhail Bakhtin, vinculando algumas das contribuições mais relevantes que essas referências da semiótica soviética legaram ao estudo do medo: afeto que, em nossa cultura ocidental, parece ter adquirido sempre mais complexidade em momentos de forte dinâmica histórica (cf. Augé, 2014AUGÉ, M. Los nuevos miedos. Buenos Aires: Paidós, 2014. ; Boucheron e Robin, 2016BOUCHERON, P. y ROBIN, C. El miedo. Historia y usos políticos de una emoción. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.; Mondzain, 2016MONDZAIN, M.J. ¿Pueden matar las imágenes? El imperio de lo visible y la educación de la mirada después del 11-S. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.). Pela filiação materialista e dialética compartilhada por Lotman e Bakhtin, e considerando o interesse de ambos os autores em fundar projetos transdisciplinares que visem a relacionar a cultura e seus textos como estruturas que se refratam mutuamente (ARÁN e BAREI, 2005ARÁN, P. y BAREI, S. Texto / Memoria / Cultura. El pensamiento de Iuri Lotman. Córdoba: El Espejo Ediciones, 2005.; AMÍCOLA, 2001AMÍCOLA, J. De la forma a la información. Bajtín y Lotman en el debate con el formalismo ruso. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2001.), entendo que é possível pensar em certos lugares de articulação que colaborem com o desenvolvimento de uma teoria eficaz para tornar visível a fluência do medo como uma orientação afetiva que assume forma cultural.
Trata-se de uma interrogação que faz parte de minha pesquisa em andamento, que objetiva interpelar os modos como uma Cultura do Medo assume forma artística em relatos que coincidem em exibir uma dimensão política do medo (GÓMEZ PONCE, 2019GÓMEZ PONCE, A. Espacios del miedo. Acerca de las periferias sociales y las series televisivas latinoamericanas. Latinidade. Revista do Núcleo de Estudos das Américas. Vol. 11, Nro. 1, 2019, p. 85-119.; 2020GÓMEZ PONCE, A. De series televisivas, intensidades y miedos posmodernos. Estudios, Nro. 43, 2020, p.27-44.). Não obstante, as descobertas até agora revelaram que o conceito de “Cultura do Medo” carece de definições precisas e aplicações metódicas para o estudo de suas múltiplas representações em vários artefatos culturais. Por esse motivo, meu trabalho busca preencher essas lacunas por meio do desenvolvimento de um marco teórico que permita capturar o medo como configuração temática, mas também como um fenômeno cultural que se materializa artisticamente em narrativas movidas por tensões estéticas, éticas e políticas. Nesse sentido, entendo que as propostas de Lotman e Bakhtin possuem potencialidade heurística e fornecem um instrumental para iniciar uma reflexão sobre este modo cultural do sentir, permitindo-me delinear um aparato crítico sobre o medo em perspectiva semiótica.
Neste artigo, de maneira especial, proponho tal abordagem à luz de dois textos pouco conhecidos desses autores, cujos enfoques apresentam mais de uma coincidência ao interpelar o medo. Trata-se, no entanto, de duas reflexões que não podem ser pensadas isentas de seus exílios biográficos e das transformações pelas quais passaram suas obras no Ocidente. Enquanto a produção bakhtiniana encontra-se repleta de disputas em torno da autoria e reivindica o trabalho quase arqueológico de seus exegetas (cuidadosos em decifrar a ordem cronológica daquelas vastas notas que o filósofo legou durante seus anos de confinamento) (BUBNOVA, 1996BUBNOVA, T. Bajtín en la encrucijada dialógica (Datos y comentarios para contribuir a la confición general. In: ZAVALA, I. [ed.]. Bajtín y sus apócrifos. Barcelona: Anthropos , 1996. p.13-72.), a teoria de Lotman, talvez ofuscada pelo grande impacto de seus primeiros estudos literários de caráter mais estrutural, encontrou dificuldades em sua circulação, e seus últimos escritos tiveram escassa visibilidade, pelo menos no contexto internacional ocidental (BAREI, 2012BAREI, S. Desde esta frontera. In: BAREI, S. [comp.]. Iuri Lotman in memoriam. Córdoba: Ferreyra Editor, 2012. p.9-22.).
Nesta ocasião, analisarei, por um lado, os cadernos de trabalho de Mikhail Bakhtin, aparentemente escritos em 1944, descobertos tardiamente e reconhecidos hoje como Adiciones y cambios a Rabelais (2000 [1944?]). Trata-se de notas destinadas a uma eventual reedição de sua obra fundamental sobre a cultura do carnaval e a transição da Idade Média para o Renascimento (BAKHTIN, 1987 [1965])2 2 BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1987 [1965]. , escritas durante sua estadia em Savelovo, quando o filósofo se reintegra parcialmente às atividades acadêmicas depois de anos exilado. Intercaladas com registros bibliográficos da literatura ucraniana e alguns cadernos curtos com reflexões, essas notas fragmentárias compartilhariam sua sincronia com o pequeno artigo “Rabelais y Gógol (El arte de la palabra y la cultura popular de la risa)” (BAKHTIN, 1989BAKHTIN, M. Rabelais y Gógol (El arte de la palabra y la cultura popular de la risa). In: Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación. Trad. Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra. Barcelona: Taurus, 1989 [1940?]. p.487-499. [1940?]), recuperada postumamente na compilação Teoría y estética de la novela3 3 BAKHTIN, M. Rabelais e Gogol (Arte do discurso e cultura cômica popular). In: Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernardini et al. São Paulo: Hucitec, 1993[1940-1970], p.429-439. .
Por outro lado, revisarei o texto de Yuri Lotman Caza de brujas. La semiótica del miedo (2008 [1989?])LOTMAN, Y. Caza de brujas. La semiótica del miedo. Revista de Occidente. Trad. Margarita Ponsatí Murlá. Nro. 329, 2008 [1989?], p.5-33., artigo que, segundo afirmou seu filho (LOTMAN, 2008LOTMAN, M. Advertencia a Caza de brujas. La semiótica del miedo. En Revista de Occidente, Nro. 329, 2008, p.9-10.), conta com duas versões similares sobre a problemática tratada, embora o destino de uma delas não tenha podido ser esclarecido. Embora o texto encontrado (incompleto e sem algumas notas de rodapé) seja de data incerta, devido à forte introdução do pensamento de Ilya Prigogine e ao grande interesse em analisar a semiótica dos grandes cataclismos sociais da história, é possível estimar que tenha sido escrito entre 1988-1989, período em que elabora outro texto-chave sobre o assunto: “El progreso técnico como problema culturológico”, escrito por volta de 1989 e recuperado pouco tempo depois na compilação organizada por Desiderio Navarro, Semiosfera I. De resto, cabe assinalar que ambos são prelúdios do que, mais tarde, dará origem a um dos legados mais importantes de Lotman: seu livro Cultura y explosión. Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social (1999[1992]).
Além do anedótico, o que esses dados nos permitem entender é a maneira pela qual a reflexão sobre o medo será articulada em seus pensamentos, pois é introduzida como uma pergunta que amadurece paralelamente a duas categorias principais desses referentes: o de carnaval em Bakhtin e a explosão em Lotman. Nesse sentido, começo considerando que o problema do medo, como pensam esses autores, deve estar ligado a períodos de transformação cultural, onde esse afeto parece ser orientado para explicar um estado permanente de alienação dos sujeitos, mas também de resistências que promovem a libertação transitória e a abolição provisória de uma ordem estabelecida. Por esse motivo, a leitura desses artigos não pode ser feita se não se estiver recuperando seus postulados à luz de outras produções com as quais, em maior ou menor grau, compartilham sua temporalidade e preocupações . Sob essas premissas, começo, em primeiro lugar, a recuperar as contribuições de Bakhtin.
Já mencionei que as Adiciones... devem ser pensadas no âmbito de seu vasto projeto dedicado à elaboração de uma estilística de gêneros em prosa, ação que o levará a estudar o trabalho de François Rabelais e as formas festivo-populares. Em sua lógica composicional, Bakhtin revelará não apenas uma das origens do romance europeu, mas também uma maneira complexa de subverter a ordem social e de polemizar as ideologias dominantes. Sabe-se que Bakhtin confrontou o carnaval e suas características fundamentais, revelando na lógica composicional desse festival popular uma das origens do romance europeu, mas também uma “cultura não oficial” que subverte e polemiza a ordem social dominante.
Preocupado em identificar como a imagem de um novo homem se gesta na transição para a consciência moderna, o filósofo russo elaborou uma teoria frutífera do carnaval, interpretando esse fenômeno como o remanescente de uma cultura agrária em resistência ao avanço de uma burguesia emergente, mas também como uma expressão original do popular. Na opinião de Pampa Arán (2005, p.77)ARÁN, P. Cultura carnavalizada. In: ARÁN, P. [coord.]. Nuevo diccionario de la teoría de Mijaíl Bajtín. Córdoba: Ferreyra Editor, 2005. p.77-83., nos encontramos na área mais “intensamente semiótica” do pensamento bakhtiniano, no sentido de que sua noção de carnaval se torna um dispositivo teórico produtivo para relacionar o social e seus discursos como espaços que se refratam através de um complexo sistema de mediações artísticas e simbólicas.
Trata-se, porém, de uma tarefa que, nestas notas que aqui nos concernem, Bakhtin empreende à luz da tragédia e de algumas obras paradigmáticas de William Shakespeare: esse escritor que, junto com Rabelais e Cervantes, é reconhecido como um dos maiores representantes do Renascimento. Bakhtin incursionará, então, em uma análise bastante minuciosa de alguns textos de Shakespeare (Rei Lear, Ricardo III, Macbeth), questionando-os sob a ótica de sua noção de cronotopia (aspecto que lhe permitirá extrapolá-la a outras linguagens culturais, como o teatro), mas também de alguns motivos da literatura ocidental que ele admite como “imagens universais”. Questão esta que não deixa de ser sugestiva, se recordamos a cautela de Bakhtin diante de qualquer interpretação universal dessas formas artísticas que só ganham voz no encontro intersubjetivo das consciências e dos contextos históricos situados.
Contudo, creio perceber aqui um esforço por delimitar certa memória cultural do medo, retomando uma concepção que atravessa fortemente seu estudo sobre Rabelais: isto é, um “medo cósmico” que, inscrito nas profundezas do inconsciente, está presente desde a noite dos tempos (BAKHTIN, 1987 [1965], p.293-295)6 6 Para referência da obra, ver nota 3. . Esta leitura de um medo em relação a calamidades e desastres naturais, assimilado a “uma certa lembrança obscura das perturbações cósmicas passadas” (1987 [1965], p.293)7 7 Para referência da obra, ver nota 3. , em Adiciones..., encontrará seu maior expoente no que Bakhtin reconhece como uma preocupação quase atávica pelo “caráter temporário do corpo” (2000 [1944?], p.169)8 8 No espanhol: “carácter temporal del cuerpo”. : isto é, por sua degradação, sua finitude e pelos mistérios que esconde para esse novo homem moderno que ainda está sobrecarregado pela memória de doenças e da peste, essa “imagem condensada da morte” como bem a chamara Bakhtin (2000 [1944?], p.169)BAKHTIN, M. Adiciones y cambios a Rabelais. In: BUBNOVA, Tatiana; RYKLIN, Mikhail et al [eds.]. En torno a la cultura popular de la risa. Nuevos fragmentos de M.M. Bajtín. Trad. Tatiana Bubnova. Barcelona: Anthropos, 2000 [1944?]. p.165-218..
O medo da morte ocupa, portanto, um lugar privilegiado, em que o filósofo se concentra em diferentes escritos, como no momento em que reflete sobre a impossibilidade do sujeito de participar de sua própria morte (“a morte-para-si-mesmo”, dirá) e sobre as deficiências da literatura em “espionar a morte por dentro”, algo que escritores como Dostoiévski e Tolstói alcançarão plenamente (2008 [1961], p.325-326) . Nesse sentido, os gêneros carnavalescos operam sobre o medo da morte, neutralizando-a através da evaporação das fronteiras entre juventude-velhice e vida-morte-ressurreição, mas também através do riso, esse “poderoso meio de luta” que, por sua natureza, é profundamente revolucionário (BAKHTIN, 2006BAKHTIN, M. Rabelais en la historia del Realismo. In: Contrahistorias. La otra mirada de Clío. Trad. Norberto Zuñiga Mendoza. Nro. 7, septiembre de 2006-febrero de 2007, 2006 [1946], p.71-88. [1946], p.84). E é por essa razão que o corpo ganha relevância no carnaval e em seu sistema de imagens (isto é, o realismo grotesco) que o exagera e que hipertrofia suas partes, expondo abertamente suas funções, tais como comer, beber ou defecar. Contudo, também, o corporal se torna uma zona problemática na arte pré-romântica e romântica, variedades que, segundo Bakhtin, tornam o sombrio sua assinatura e onde o grotesco “é um grotesco de câmara, uma espécie de carnaval que o indivíduo representa na solidão, com uma consciência aguda de seu isolamento” (1987 [1965], p.33)11 11 Para referência da obra, ver nota 3. .
Basta apenas observar como alguns motivos são operados em ambas as expressões: as máscaras, os fantoches e as figuras do diabo tão recorrentes nesse carnaval primaveril e matutino aparecerão também no Romantismo, embora como elementos prediletos da noite, despojados de sua função renovadora, carregados de um caráter sombrio. Também esse riso festivo-popular que liberta o pensamento, no romântico grotesco, torna-se mau, dando lugar ao riso infernal. Assim, em Bakhtin, o medo nada mais é do que outra forma do popular, e até uma constante com a qual o realismo em todas as suas expressões funciona, ora o confrontando e parodiando, ora o estilizando. É assim que, nas Adiciones..., ele começa sua jornada afirmando que “ao analisar as imagens da festa popular, é necessário levar em conta permanentemente o medo genérico encarnado nelas” (2000 [1944?], p.191); o itálico é meu)12 12 Na tradução espanhola: “al analizar las imágenes de la fiesta popular es necesario tomar permanentemente en cuenta el miedo genérico encarnado en ellas”. .
Deixo momentaneamente a leitura bakhtiniana para fazer uma incursão na semiótica de Yuri Lotman, que tomará como ponto de partida uma discussão semelhante à de Bakhtin, ainda que dando um passo adiante. Seu interesse em interrogar a transição para o Renascimento também é visível em uma exploração da literatura (Dante, Lope de Vega, Bacon) que colaborou em modelizar este período como utópico e como mito do progresso, relegando a Inquisição, as guerras religiosas e, principalmente, os processos das bruxas às trevas da Idade Média. Trata-se, porém, de uma leitura que Lotman entende como equivocada e, por esse motivo, reconstrói essa intensa história onde estalaram “milhares de fogueiras durante a época mais ‘ilustrada’ do Renascimento [...], às vésperas do século da Razão” (1996 [1989], p.13)13 13 Na tradução espanhola: “miles de hogueras durante la época más ‘ilustrada’ del Renacimiento [...], en vísperas del siglo de la Razón”. , desmantelando a ideia de que a paranoia coletiva durante esse período traduzia outros perigos evidentes, como as epidemias e as invasões inimigas. Acontece que esses fatores têm sido constantes ao longo de toda a história europeia e, nesse sentido, sua [La]semiótica del miedo (2008 [1989?]) (um dos textos em que, ademais, desenvolve com maior precisão sua metodologia para o estudo da cultura) propõe-se a desmistificar esse afeto que eclode em momentos históricos muito diferentes, gerando, porém, textos extremamente semelhantes e férteis para revelar a lógica do sistema.
Convém lembrar que encontramo-nos diante de produção tardia de Lotman, em que o conceito de explosão ocupará um lugar central, pois lhe permite traçar uma ampla gama de reflexões sobre os mecanismos do imprevisível, preocupação insistente cuja orientação é problematizar as diferentes “velocidades” que geram o “aumento abrupto da informatividade de todo o sistema” (1999 [1992], p.28) . Há aqui inclusive uma tarefa programática que Lotman parece legar para futuras indagações da semiótica cultural que, devido à sua morte prematura, ele não pôde concretizar (Cf. Segre, 2004SEGRE, C. El testamento de Lotman. Entretextos. Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, Nro. 4, 2004, p.51-61.): ou seja, em detrimento dos estudos culturais orientados a investigar processos plurisseculares e de longa duração, essa perspectiva teórica opta por analisar as mudanças imprevisíveis que não são governadas pelas leis da probabilidade, mas pelo acaso.
Diante desse panorama, os cataclismos sociais aparecerão como objetos privilegiados de estudo e, portanto, em seus últimos escritos, Lotman se concentrará na reconstrução da consciência de massas nos contextos de grandes crises culturais. A “semiótica do medo” é, então, uma tentativa de demonstrar como a semiótica pode questionar um vasto repertório de fenômenos do comportamento das massas, a fim de tornar inteligíveis informações que parecem perdidas nas trajetórias da diacronia cultural, e que a ciência histórica, aquela da qual Lotman tanto desconfiava, havia negligenciado, dada a sua tendência em reduzir a heterogeneidade cultural a uma regularidade estável e permanente (ARÁN, 2012ARÁN, P. Metamorfosis culturales. Ciencia, historia y arte en la última producción de Lotman. In: BAREI, S. [comp.]. Iuri Lotman in memoriam. Córdoba: Ferreyra Editor, 2012. p.163-176.). Visto que as textualidades, como bem se exemplifica ao longo de todo o edifício teórico lotmaniano, funcionam como programas condensados das culturas (Cf. Lotman, 1999LOTMAN, Y. La semiótica de la cultura y el concepto de texto. In: La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto. Trad. Desiderio Navarro. Barcelona: Frónesis Cátedra, 1996 [1981]. p.77-82.[1981]), o semiólogo assumirá aqui o desafio de se aventurar na “análise de textos criados em momentos de agudos conflitos intelectuais (e, portanto, semióticos), que são os que refletem as tensões nos momentos críticos do desenvolvimento social da humanidade” (2008 [1989?], p.11)15 15 Na tradução espanhola: “análisis de textos creados en momentos de agudos conflictos intelectuales (y por tanto, semióticos), que son los que reflejan las tensiones en los momentos críticos del desarrollo social de la humanidad”. .
O estudo do medo aparecerá, então, como um método eficaz para desvendar aquilo que é considerado “normal” em condições habituais e, por essa razão, Lotman recorre à decifração de documentos que circulam nas sociedades tomadas pelo pânico, atendendo neles a aparição regular desses princípios que são sistematicamente atualizados na consciência de massa. Pois bem, o que o semiólogo observará durante o pânico generalizado é a profusão de um “medo desmotivado”, cujas causas desconhecidas geram destinatários mistificados e construídos semioticamente. Lotman advertirá, assim, que
não é a ameaça que cria o medo, mas sim o medo é que cria a ameaça. O objeto do medo costuma ser uma construção social, a criação de códigos semióticos, com cuja ajuda a sociedade em questão se codifica a si mesma (2008 [1989?], p.12)16 16 Na tradução espanhola: “no es la amenaza la crea el miedo, sino el miedo el que crea la amenaza. El objeto del miedo resulta ser una construcción social, la creación de códigos semióticos, con cuya ayuda la sociedad en cuestión se codifica a sí misma”. .
O interessante é que essa orientação o levará a questionar os julgamentos das bruxas, detectando na inexistência de parâmetros para a escolha e a tortura das vítimas e na inconsistência dos argumentos utilizados, operações mais complexas que respondem à encenação de um clima de suspeita generalizada. Pois, para o estudioso, a caça às bruxas lida com a elaboração consciente de formas estereotipadas e ficções que pretendem dotar de características comuns (diferença, coesão, conspiração), uma minoria que é vista como ameaça, mas que se torna necessária desde que se converta em bode expiatório de crises históricas mais profundas.
Pois bem, gostaria de enfatizar que os documentos que Lotman analisa recuperam intercâmbios verbais cotidianos (como boatos e fofocas), em uma empresa que retoma a hipótese do historiador Jean Delumeau e sua “análise espectral: individualizar os medos particulares que logo se somam para criar um clima de medo” (2009 [1978], p.33)17 17 DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente,1300-1800: uma cidade sitiada. Tradução de Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009 [1978]. . Trata-se de uma pergunta sobre os efeitos do medo na experiência social, cuja resposta busca nas vozes dessa massa anônima que a ciência da história silenciou, mas onde podem ser capturados retratos coletivos de um determinado estado da cultura. Não é à toa que Lotman reconhecerá aqui abertamente sua dívida com Bakhtin, como o fará insistentemente nessas produções tardias, nas quais a preocupação com o tempo e a história emergem com vigor. Inclusive, há traços bakhtinianos em sua leitura dos ritos satânicos e heréticos e na maneira pela qual, através da paródia e da “leitura ao revés”, promovem anticultos que se distanciam dos códigos da liturgia cristã. Porém, diferentemente do filósofo, Lotman não está interessado nas “fontes populares destas crenças [...], mas sim em sua estrutura sincrônica e no lugar que ocupam na ‘cultura do medo’” (2008 [1989?], p.17)18 18 Na tradução espanhola: “las fuentes populares de estas creencias [...] sino en su estructura sincrónica y en el lugar que ocupan en la ‘cultura del miedo’”. .
Essa distância não poderia ser explicada sem que se recuperem as primeiras explorações de Lotman acerca do medo, durante as primeiras escolas de verão em Tartu, e a ambiciosa tentativa do semiólogo de estabelecer uma tipologia das culturas (ver Lotman, 1970aLOTMAN, Y. El problema del signo y del sistema sígnico en la tipología de la cultura anterior al siglo XX. In: LOTMAN, Y. et al. Semiótica de la cultura. Trad. Nieves Méndez. Madrid: Cátedra, 1970a, p. 41-66. e 1970bLOTMAN, Y. Semióticas de los conceptos de “vergüenza” y “miedo”. In: LOTMAN, Y et al. Semiótica de la cultura. Trad. Nieves Méndez. Madrid: Cátedra, 1970b, p.205-208.). Naquela época, ele estabeleceu hipóteses sobre esse momento evolutivo em que a cultura emerge como um “sistema de proibições complementares” (1970b, p.205) : em primeira instância, na forma de normas da vergonha que permitiram hierarquizar internamente um primitivo coletivo humano e, em seguida, através do medo e da coerção, que teriam definido nossa relação com as outras comunidades. Nesse sentido, a fisionomia de uma Cultura do Medo deve ser pensada como um conjunto de limitações impostas ao sujeito humano que o semiólogo verá reforçadas com o nascimento do Estado, mas que, acima de tudo, entende como um mecanismo psicológico fundamental que permite às culturas, por meio de seus textos, organizar-se a si mesmas e à sua realidade predominante.
Neste ponto, torna-se pertinente recuperar o olhar de Bakhtin, o qual dele se aproxima, porque ele entende que o medo também limita, embora logre fazê-lo através do sofrimento e da submissão do corpo à vergonha, e é por isso que a dimensão corporal torna-se arena de luta durante o carnaval e dimensão capital de suas incursões sobre a obra de Rabelais. Bakhtin não deixa de reconhecer que a imposição da vergonha e do medo responde a dois lados da mesma moeda “utilizada por todos os sistemas religiosos com a fim de oprimir o homem, de dominar a sua consciência”, e que intervêm limitando o corpo, esse espaço de contato e de conhecimento do mundo e dos outros (1987 [1965], p.293)20 20 Para referência da obra, ver nota 3. . Em particular, trata disso com uma leitura que, nas Adiciones..., explorará totalmente sob a ótica da literatura de Shakespeare e da maneira pela qual esse escritor ressignificou as raízes folclóricas do medo em suas tragédias.
Dois motivos shakespearianos, a substituição-mudança e a entronização-destronamento, reelaboram a significação do corpo mediante o derramamento de sangue e desmembramento, mas distanciando-se completamente de sua nuance carnavalesca. Nesta insistente recorrência de Shakespeare pelo parricídio e filicídio, Bakhtin encontra a persistência de um sentido monotonal, sem possibilidade de ressurreição ou renovação, uma vez que o escritor inglês parece estar orientado a demonstrar que a aparição do medo é, antes, uma resposta à “lei da mudança” (2000 [1944?], p.175)21 21 Na tradução espanhola: “la ley del cambio”. . Daí seu interesse pelo problema da coroa e, portanto, “de todo poder (hostil à mudança), cujo momento constitutivo é violência, opressão, mentira, tremor e medo do subalterno, assim como o medo invertido do potentado em relação ao submetido ao poder” (2000 [1944?], p.175) . Pela minha leitura, o que Bakhtin está observando é o poder que teme a insurreição e a ruptura da ordem estabelecida, algo que Shakespeare reintroduz a partir dessa tragédia mais profunda que é o fim da vida individual. Esta leitura parece ganhar validade à medida que introduz as afirmações quase telegráficas do filósofo de que
em certa medida, Macbeth pode também ser chamada de tragédia do medo (medo próprio de todo ser vivo). Não há nada que esteja garantido na vida, não existe uma possessão tranquila e eterna. Todo tipo de atividade é criminosa em seu limite, significa sempre assassinato. O ideal é o estado intra uterino (2000 [1944?], p.184)23 23 Na tradução espanhola: “en cierta medida, Macbeth puede llamarse también tragedia del miedo (miedo propio de todo ser vivo). No existe nada garantizado en la vida, no existe una posesión tranquila y eterna. Toda clase de actividad es criminosa (en su límite, siempre significa asesinato). El ideal es el estado intrauterino”. .
Diante disso, creio que esta ideia bakhtiniana de “medo da mudança” parece dialogar com o pressuposto lotmaniano de que qualquer epidemia deste afeto é o corolário de um estado de incerteza social diante das grandes revoluções científico-tecnológicas. Basta apenas lembrar de sua insistência em avaliar essas mudanças repentinas “no campo da transmissão e conservação da informação” (LOTMAN, 1996LOTMAN, Y. El progreso técnico como problema culturológico. In: La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto. Trad. Desiderio Navarro. Barcelona: Frónesis Cátedra, 1996 [1989]. p.214-236. [1989], p.216)24 24 Na tradução espanhola: “en el terreno de la transmisión y conservación de la información”. , tais como a invenção da escrita, da imprensa ou dos meios de comunicação durante o século XX. Para Lotman, o medo resulta de fortes inovações que colocam em xeque os códigos segundo os quais a cultura se interpreta a si mesma, organiza suas memórias e modeliza sua realidade. Não é em vão que ele atribui o aumento dos processos contra as bruxas ao aparecimento de tecnologias que não apenas contribuíram para o aumento exacerbado da literatura demonológica (como, por exemplo, o Malleus Maleficarum), mas também com inovações na percepção do tempo e do espaço (o aperfeiçoamento da navegação, a descoberta da pólvora, a construção de estradas, a difusão de relógios de corda etc.) e com aquelas grandes figuras que simbolizam intensas reformas políticas na história da Rússia (como é o caso de Ivan, o Terrível, personagem a quem, casualmente, Bakhtin também retornará repetidamente em suas Adiciones... e em suas contribuições sobre o carnaval).
Mas, paralelamente, Lotman também é capaz de identificar que, sob os rostos dos acusadores durante os julgamentos, não apenas a população masculina se esconde, mas principalmente uma burguesia incipiente “dominada pelo medo, ódio e inveja” (2008 [1989?], p.23)25 25 Na tradução espanhola: “dominada por el miedo, el odio y la envidia”. . Essa é uma hipótese sugerida repetidamente por Lotman, que observa que as mudanças na ordem científica e tecnológica não podem ser pensadas isentas desse processo econômico que levou, na Europa Ocidental, “à formação de relações burguesas iniciais” (1996 [1989)], p.218)26 26 Na tradução espanhola: “a la formación de las relaciones burguesas iniciales”. . No entanto, em Lotman, não há mais detalhes sobre esse vínculo entre caça às bruxas e capitalismo (algo que, nos últimos tempos, muitos estudiosos exploraram27 27 Tomemos, por exemplo, a pesquisa de Silvia Federici (2014), que aborda os processos de bruxas como combustível para a acumulação originária do sistema capitalista, o qual teria aproveitado a convulsão social para solidificar o modelo familiar nuclear, reprodutivo e monogâmico. Obra traduzida para o português: FEDERICI, S. Calibã e a bruxa: Mulheres, corpos e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2017. ), embora, de certa forma, isso possa ser lido nas entrelinhas da afirmação de que tal paranoia sintetiza “o medo da maioria masculina de perder sua posição de domínio na sociedade” (LOTMAN, 2008LOTMAN, M. Advertencia a Caza de brujas. La semiótica del miedo. En Revista de Occidente, Nro. 329, 2008, p.9-10. [1989?], p.30)28 28 Na tradução espanhola: “el miedo de la mayoría masculina a perder su situación de dominio en la sociedad”. .
Pergunto-me se talvez Bakhtin não esteja chegando à mesma premissa por meio de Shakespeare e de suas obras que projetam medo ao filho e seu retorno como assassino, e à sua descendência, que se mantém à espera da morte de seus pais, duas imagens que Macbeth problematiza em diferentes instâncias. Porque o que essas razões estariam expondo, como Bakhtin intui, são os medos dessa burguesia em formação, preocupada em sustentar esse “mundo criado pelo poder do dinheiro (capitalismo)” (2000 [1944?], p.215)29 29 Na tradução espanhola: “mundo creado por el poder del dinero (capitalismo)”. . Em torno dessas hipóteses tão-somente sugeridas, na transição da Idade Média para a consciência moderna, Lotman e Bakhtin pareceriam concordar em localizar o medo como uma zona problemática, identificando que, por este efeito, a concepção burguesa emergente questiona um ordenamento social, ora através de grandes temores inscritos na memória da humanidade, ora encenando novas paranoias em meio ao corpo social.
Quanto ao resto, creio ser conveniente esclarecer que não há intenção aqui de forçar a interpretação desses artigos que, embora repletos de potencial, foram produzidos como cadernos de investigação, inacabados e fragmentados. Tampouco há intenção de extremar as semelhanças entre Lotman e Bakhtin, ignorando as distâncias epistemológicas que os caracteriza, inclusive em seu imaginário científico (temporal no segundo - lembremo-nos de sua ideia de Grande Tempo- e espacial na semiótica cognitiva do primeiro). Trata-se de uma tensão fundacional que aflora na maneira pela qual os dois estudiosos conceituaram uma Cultura do Medo, pois onde Lotman observa que esse efeito é resultado da autorregulação do próprio sistema que busca enfrentar disputas sociais (ele dirá que uma sociedade aprisionada pelo medo não é tão interessante por si mesma, como quanto um “meio de representação do mecanismo semiótico da cultura como tal”, 2008 [1989?], p.12)30 30 Na tradução espanhola: “medio de representación del mecanismo semiótico de la cultura como tal”. , Bakhtin o confronta como o produto de uma ação humana que procura mascarar as tensões históricas: isto é, “da oficialização do mundo e sua monotonalidade. [De] todas as formas do discurso que aparecem envenenadas pelo medo e pela intimidação” (2000 [1944?], p.211)31 31 Na tradução espanhola: “la oficialización del mundo y su monotonalidad. [De] todas las formas del discurso que aparecen envenenadas por el miedo e intimidación”. .
Mas se a premissa lotmaniana de uma cultura como mecanismo autossuficiente se contrapõe à participação responsável da antropologia humanista de Bakhtin, não posso deixar de me surpreender com as coincidências que também aparecem nessas produções tardias, cujo valor heurístico se manifesta nessas chaves de identificação das afetividades e no modo como colonizam as formas culturais, descobrindo sentidos que navegam desde a noite dos tempos. São dois caminhos que, apesar de suas diferenças acentuadas, promovem uma reflexão crítica sobre o medo que, em sua diacronia, não faz mais que mostrar as contradições históricas e as múltiplas mudanças introduzidas pelas transformações sociopolíticas do capitalismo. Também, por meio dessa visão fragmentada e inacabada do medo, Lotman e Bakhtin voltam a propor um paradigma fértil para pensar sobre as dinâmicas das culturas, encarando-as como espaços dinâmicos, refrativos, repletos de interseções, e onde os sentidos não apenas são elos em uma infinita cadeia de textos, mas também lugares ativos nos quais a memória atávica, a história, os sujeitos e seus modos de sentir se confrontam.
Gostaria de encerrar este curto trajeto retomando o que apontei no início de minha apresentação, de que o problema do medo em Lotman e Bakhtin não pode ser pensado fora de seus exílios biográficos. Pergunto-me, então, se acaso suas histórias de vida e as condições históricas de suas produções não estão se formando nestes escritos tardios, inclusive de uma maneira um pouco mais explícita do que em outros caminhos de seus edifícios teóricos.
Trata-se de uma premissa que ganha validade se lembrarmos que, de acordo com a confissão do próprio Bakhtin durante as entrevistas realizadas em 1973 por Duvakin (BAKHTIN e DUVAKIN, 2008BAKHTIN, M. Para una reelaboración del libro sobre Dostoievski. In: Estética de la creación verbal. Trad. Tatiana Bubnova. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008 [1961]. p.321-342. [1973]) , sua solitária obra sobre o carnaval seria originalmente publicada em 1933, ainda que a odisseia pessoal do filósofo tenha adiado o projeto. E vale a pena assinalar que é por volta deste ano que começa a se organizar o terror stalinista, época em que inicia o primeiro expurgo maciço, e que irrompe a fome generalizada no país, dados nos quais Mikhail Ryklin (2000)RYKLIN, M. (2000). Los cuerpos del terror (hacia una lógica de la violencia). In BUBNOVA, T.; RYKLIN, M. et al [eds.]. En torno a la cultura popular de la risa. Nuevos fragmentos de M.M. Bajtín. Barcelona: Anthropos, 2000. p.103-125. se baseia para sugerir que o Rabelais e os fragmentos que dele se desprendem não podem ser menos que textos autoterapêuticos. Apoiado nesse fundamento (e mesmo, se retomarmos a hipótese de Tatiana Bubnova de que as ideias associadas ao carnaval são apreciadas, de diferentes maneiras, em todos os trabalhos posteriores a 1925 (Cf. Bubnova, 1996) , a questão sobre o medo surgiria precocemente como uma preocupação constante que a obra bakhtiniana exibe para dar conta de seus próprios avatares históricos e os de sua cultura.
Por sua parte, o texto de Lotman explica o que seus estudiosos chamam de “testamento científico”: um intenso legado intelectual em que o semiólogo pareceria estar apressado pela deterioração de sua saúde, enquanto “se abandona à invenção, ainda mais do que em seus trabalhos anteriores, quase como se lhe acometesse o temor de não poder comunicar-nos todas as suas ideias” (SEGRE, 2004SEGRE, C. El testamento de Lotman. Entretextos. Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, Nro. 4, 2004, p.51-61., p.52) . Ademais, concluirá aqui suas No-memorias (2014), texto biográfico que iniciara em 1988, quando sofreu o primeiro derrame cerebral (e que, após prolongadas estadias em hospitais, o levaria à morte em 1993). As lembranças de sua participação contra a ocupação alemã invadem esses textos tardios, onde Lotman evoca as condições de época da Segunda Guerra Mundial, o medo no front de batalha e seu esmero para que os mais jovens entendessem que o medo “não surge a partir das condições objetivas (o tamanho do perigo), mas pela nossa atitude em relação a elas” (LOTMAN, 2014LOTMAN, Y. No-Memorias / Doble retrato. Trad. Klaarika Kaldjärv. Granada: Editorial Universidad de Granda, 2014. , p.54)35 35 Na tradução espanhola: “no surge por las condiciones objetivas (el tamaño del peligro), sino por nuestra actitud hacia ellas”. . Não é por acaso, então, que sua “semiótica do medo” se inscreva nesse testamento, em que ele recupera uma cultura dos afetos, na tentativa de demarcar um interesse que estava longe de ser uma preocupação episódica.
Penso que a lição final que esses pensadores nos legam é interpelar os afetos a partir dos traços que deixam na memória, contenda que ganha relevância em nossa experiência histórica atual, sobrecarregada pelos temores que nos apresentam as crises da globalização e desse capitalismo predatório que nos envolve com fome e pobreza, novas violências e novas formas de guerra, onde emergem os deslocados e refugiados, e um meio-ambiente que mostra sinais de exaustão. Diante deste cenário turbulento, as histórias de vida de Yuri Lotman e Mikhail Bakhtin oferecem um certo panorama de esperança, incentivando-nos a explorar até as últimas consequências o modo como os sujeitos são colonizados pelos afetos coletivos, e a maneira como nossos relatos culturais restabelecem soluções imaginárias diante das contradições não resolvidas e dos cataclismos históricos, porque talvez, como Lotman pensava no final de seus dias, “a melhor maneira de se libertar do medo é entrar no que o causa” (2014, p.53)36 36 Na tradução espanhola: “el mejor modo de liberarse del miedo es meterse dentro de lo que causa”. .
-
1
Sigo a proposta do marxismo cultural de Frederic Jameson (2019, p.70-76)JAMESON, F. Allegory and Ideology. Brooklyn: Verso, 2019., o qual, em uma concepção próxima à da desenvolvida por Lotman e Bakhtin, define os “afetos” como modos culturais do sentir e fundo coletivo sobre o qual se recortam as emoções, enquanto afetividades nomeadas e apropriadas pelo sujeito. Além disso, uma análise mais ampla sobre a chamada “virada afetiva” pode ser consultada em Arfuch (2018, p.7-30)ARFUCH, L. La vida narrada. Memoria, subjetividad y política. Villa María: Eduvim, 2018..
-
2
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1987 [1965].
-
3
BAKHTIN, M. Rabelais e Gogol (Arte do discurso e cultura cômica popular). In: Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernardini et al. São Paulo: Hucitec, 1993[1940-1970], p.429-439.
-
4
Nenhum desses textos - Adiciones y cambios a Rabelais e Caza de brujas. La semiótica del miedo - possui traduções para português ou inglês.
-
5
No espanhol: “intensamente semiótica”.
-
6
Para referência da obra, ver nota 3.
-
7
Para referência da obra, ver nota 3.
-
8
No espanhol: “carácter temporal del cuerpo”.
-
9
BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoievski. Tradução direta do russo, notas e prefácio Paulo Bezerra. 4. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
-
10
Na tradução espanhola: “poderoso medio de lucha”.
-
11
Para referência da obra, ver nota 3.
-
12
Na tradução espanhola: “al analizar las imágenes de la fiesta popular es necesario tomar permanentemente en cuenta el miedo genérico encarnado en ellas”.
-
13
Na tradução espanhola: “miles de hogueras durante la época más ‘ilustrada’ del Renacimiento [...], en vísperas del siglo de la Razón”.
-
14
Na tradução espanhola: “velocidades” que generan el ‘brusco aumento de informatividad de todo el sistema’”.
-
15
Na tradução espanhola: “análisis de textos creados en momentos de agudos conflictos intelectuales (y por tanto, semióticos), que son los que reflejan las tensiones en los momentos críticos del desarrollo social de la humanidad”.
-
16
Na tradução espanhola: “no es la amenaza la crea el miedo, sino el miedo el que crea la amenaza. El objeto del miedo resulta ser una construcción social, la creación de códigos semióticos, con cuya ayuda la sociedad en cuestión se codifica a sí misma”.
-
17
DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente,1300-1800: uma cidade sitiada. Tradução de Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009 [1978].
-
18
Na tradução espanhola: “las fuentes populares de estas creencias [...] sino en su estructura sincrónica y en el lugar que ocupan en la ‘cultura del miedo’”.
-
19
Na tradução espanhola: “sistema de prohibiciones complementarias”.
-
20
Para referência da obra, ver nota 3.
-
21
Na tradução espanhola: “la ley del cambio”.
-
22
Na tradução espanhola: “de todo poder (hostil al cambio), cuyo momento constitutivo es violencia, opresión, mentira, temblor y miedo del subalterno, así como el miedo reversivo del potentado hacia el sometido al poder”.
-
23
Na tradução espanhola: “en cierta medida, Macbeth puede llamarse también tragedia del miedo (miedo propio de todo ser vivo). No existe nada garantizado en la vida, no existe una posesión tranquila y eterna. Toda clase de actividad es criminosa (en su límite, siempre significa asesinato). El ideal es el estado intrauterino”.
-
24
Na tradução espanhola: “en el terreno de la transmisión y conservación de la información”.
-
25
Na tradução espanhola: “dominada por el miedo, el odio y la envidia”.
-
26
Na tradução espanhola: “a la formación de las relaciones burguesas iniciales”.
-
27
Tomemos, por exemplo, a pesquisa de Silvia Federici (2014)FEDERICI, S. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones, 2014. , que aborda os processos de bruxas como combustível para a acumulação originária do sistema capitalista, o qual teria aproveitado a convulsão social para solidificar o modelo familiar nuclear, reprodutivo e monogâmico. Obra traduzida para o português: FEDERICI, S. Calibã e a bruxa: Mulheres, corpos e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. São Paulo: Editora Elefante, 2017.
-
28
Na tradução espanhola: “el miedo de la mayoría masculina a perder su situación de dominio en la sociedad”.
-
29
Na tradução espanhola: “mundo creado por el poder del dinero (capitalismo)”.
-
30
Na tradução espanhola: “medio de representación del mecanismo semiótico de la cultura como tal”.
-
31
Na tradução espanhola: “la oficialización del mundo y su monotonalidad. [De] todas las formas del discurso que aparecen envenenadas por el miedo e intimidación”.
-
32
BAKHTIN, M. e DUVAKIN, V. Mikhail Bakhtin em diálogo. Conversas de 1973 com Viktor Duvakin. São Paulo: Pedro e João Editores, 2008[1973].
-
33
Em relação a isso, durante a exposição de sua tese de doutorado em 1946, Bakhtin reconhece ter dedicado mais de dez anos de pesquisa à obra de François Rabelais (2006 [1946], p.72). Uma série de dados apoiaria esta premissa, como sucede, por exemplo, com outros textos escritos durante o período em questão e que complementam sua leitura sobre Rabelais, tais como “Las formas del tiempo y del cronotopo en la novela” (1937-1938), “Epopeya y novela” (1941) (ambos os textos em BAKHTIN, M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. Trad. Aurora Fornoni Bernardini et al. São Paulo: Hucitec, 1993) e, talvez o que possa ser pensado como uma espécie de prelúdio, capítulo V de Problemas de la obra de Dostoievski (1929) (republicado em 1963 sob o título Problemas de la poética de Dostoievski; existe uma versão em português: BAKHTIN, M. Problemas da poética de Dostoiévski. Tradução de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010). Esta leitura supõe não apenas dados anedóticos, à medida que adquire relevância para entender certas lacunas na história dos conceitos bakhtinianos e permite pensar, por exemplo, que seu conceito de cronotopo estava amadurecendo paralelamente ao do carnaval (Cf. Bubnova, 1996BUBNOVA, T. Bajtín en la encrucijada dialógica (Datos y comentarios para contribuir a la confición general. In: ZAVALA, I. [ed.]. Bajtín y sus apócrifos. Barcelona: Anthropos , 1996. p.13-72., p.48).
-
34
Na tradução espanhola: “se abandona a la invención, más aún que en sus trabajos anteriores, casi como si le instara el temor a no poder comunicarnos todas sus ideas”.
-
35
Na tradução espanhola: “no surge por las condiciones objetivas (el tamaño del peligro), sino por nuestra actitud hacia ellas”.
-
36
Na tradução espanhola: “el mejor modo de liberarse del miedo es meterse dentro de lo que causa”.
REFERÊNCIAS
- AMÍCOLA, J. De la forma a la información Bajtín y Lotman en el debate con el formalismo ruso. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2001.
- ARÁN, P. Cultura carnavalizada. In: ARÁN, P. [coord.]. Nuevo diccionario de la teoría de Mijaíl Bajtín Córdoba: Ferreyra Editor, 2005. p.77-83.
- ARÁN, P. Metamorfosis culturales. Ciencia, historia y arte en la última producción de Lotman. In: BAREI, S. [comp.]. Iuri Lotman in memoriam Córdoba: Ferreyra Editor, 2012. p.163-176.
- ARÁN, P. y BAREI, S. Texto / Memoria / Cultura. El pensamiento de Iuri Lotman Córdoba: El Espejo Ediciones, 2005.
- ARFUCH, L. La vida narrada Memoria, subjetividad y política. Villa María: Eduvim, 2018.
- AUGÉ, M. Los nuevos miedos Buenos Aires: Paidós, 2014.
- BAKHTIN, M. La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento El contexto de François Rabelais. Trad. César Forcat y César Conroy. Madrid: Alianza, 1984 [1965].
- BAKHTIN, M. Rabelais y Gógol (El arte de la palabra y la cultura popular de la risa). In: Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación Trad. Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra. Barcelona: Taurus, 1989 [1940?]. p.487-499.
- BAKHTIN, M. Adiciones y cambios a Rabelais. In: BUBNOVA, Tatiana; RYKLIN, Mikhail et al [eds.]. En torno a la cultura popular de la risa. Nuevos fragmentos de M.M. Bajtín Trad. Tatiana Bubnova. Barcelona: Anthropos, 2000 [1944?]. p.165-218.
- BAKHTIN, M. Rabelais en la historia del Realismo. In: Contrahistorias. La otra mirada de Clío Trad. Norberto Zuñiga Mendoza. Nro. 7, septiembre de 2006-febrero de 2007, 2006 [1946], p.71-88.
- BAKHTIN, M. Para una reelaboración del libro sobre Dostoievski. In: Estética de la creación verbal Trad. Tatiana Bubnova. Buenos Aires: Siglo XXI, 2008 [1961]. p.321-342.
- BAKHTIN, M. y DUVAKIN, V. Mikhail Bakhtin: The Duvakin Interviews, 1973. Londres: Bucknell University Press, 2019 [1973].
- BAREI, S. Desde esta frontera. In: BAREI, S. [comp.]. Iuri Lotman in memoriam Córdoba: Ferreyra Editor, 2012. p.9-22.
- BUBNOVA, T. Bajtín en la encrucijada dialógica (Datos y comentarios para contribuir a la confición general. In: ZAVALA, I. [ed.]. Bajtín y sus apócrifos Barcelona: Anthropos , 1996. p.13-72.
- BOUCHERON, P. y ROBIN, C. El miedo Historia y usos políticos de una emoción. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.
- DELUMEAU, J. El miedo en Occidente Barcelona: Taurus, 2012 [1978].
- FEDERICI, S. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Buenos Aires: Tinta Limón Ediciones, 2014.
- GÓMEZ PONCE, A. Espacios del miedo. Acerca de las periferias sociales y las series televisivas latinoamericanas. Latinidade. Revista do Núcleo de Estudos das Américas Vol. 11, Nro. 1, 2019, p. 85-119.
- GÓMEZ PONCE, A. De series televisivas, intensidades y miedos posmodernos. Estudios, Nro. 43, 2020, p.27-44.
- JAMESON, F. Allegory and Ideology Brooklyn: Verso, 2019.
- LOTMAN, M. Advertencia a Caza de brujas. La semiótica del miedo. En Revista de Occidente, Nro. 329, 2008, p.9-10.
- LOTMAN, Y. El problema del signo y del sistema sígnico en la tipología de la cultura anterior al siglo XX. In: LOTMAN, Y. et al. Semiótica de la cultura Trad. Nieves Méndez. Madrid: Cátedra, 1970a, p. 41-66.
- LOTMAN, Y. Semióticas de los conceptos de “vergüenza” y “miedo”. In: LOTMAN, Y et al. Semiótica de la cultura Trad. Nieves Méndez. Madrid: Cátedra, 1970b, p.205-208.
- LOTMAN, Y. La semiótica de la cultura y el concepto de texto. In: La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto Trad. Desiderio Navarro. Barcelona: Frónesis Cátedra, 1996 [1981]. p.77-82.
- LOTMAN, Y. El progreso técnico como problema culturológico. In: La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto Trad. Desiderio Navarro. Barcelona: Frónesis Cátedra, 1996 [1989]. p.214-236.
- LOTMAN, Y. Cultura y explosión Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. Trad. Delfina Muschietti. Barcelona: Gedisa, 1999[1992].
- LOTMAN, Y. Caza de brujas. La semiótica del miedo. Revista de Occidente Trad. Margarita Ponsatí Murlá. Nro. 329, 2008 [1989?], p.5-33.
- LOTMAN, Y. No-Memorias / Doble retrato Trad. Klaarika Kaldjärv. Granada: Editorial Universidad de Granda, 2014.
- MONDZAIN, M.J. ¿Pueden matar las imágenes? El imperio de lo visible y la educación de la mirada después del 11-S Buenos Aires: Capital Intelectual, 2016.
- RYKLIN, M. (2000). Los cuerpos del terror (hacia una lógica de la violencia). In BUBNOVA, T.; RYKLIN, M. et al [eds.]. En torno a la cultura popular de la risa. Nuevos fragmentos de M.M. Bajtín. Barcelona: Anthropos, 2000. p.103-125.
- SEGRE, C. El testamento de Lotman. Entretextos. Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la Cultura, Nro. 4, 2004, p.51-61.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
07 Dez 2020 -
Data do Fascículo
Oct-Dec 2020
Histórico
-
Recebido
04 Dez 2019 -
Aceito
11 Set 2020