Resumo
O texto discute a origem e a evolução do federalismo brasileiro. Destaca os momentos em que mudanças nos elementos constitutivos do arranjo federalista definem outra configuração e dão lugar à nova etapa. A proposta é delinear as fases longas, divididas em três etapas (1891 a 1964; 1964 a 1988 e 1988 a hoje), e não as alterações pontuais ou de dimensão restrita que, embora relevantes em conjunturas particulares, não configuram um novo pacto federativo. O último tópico aponta entraves e desafios no combate a velhos problemas da federação brasileira.
Palavras-chave:
Federalismo; Finanças públicas
Abstract
The text discusses the origin and evolution of Brazilian federalism. It highlights the times when changes in the constitution of the federalist system resulted in new configurations and gave rise to a new stage. The proposal of the analysis is to outline the longer phases, divided into three stages (1891 to 1964; 1964 to 1988 and 1988 to today), and not the occasional or less significant changes that, although relevant in particular circumstances, do not constitute a new federative pact. The final section points out obstacles and challenges in combating long-standing problems related to the Brazilian federation.
Keywords:
Federalism; Public finance
Introdução
O texto discute a origem e evolução do federalismo brasileiro. O objetivo é analisar as alterações das relações de poder entre as esferas de governo a partir da constituição do Estado brasileiro como Império e as transformações ao longo do período republicano.
A conformação histórica do País deixou marcas que estão presentes até hoje e definem condições basilares do federalismo brasileiro. A força do governo central na origem do Estado nacional o colocou como a instância responsável por regular e definir as linhas gerais de atuação a serem seguidas. A União situou-se em posição nuclear no pacto de poder, garantiu o arranjo político com os governos subnacionais e a integridade do espaço territorial. As etapas seguintes mantiveram princípio semelhante. A esfera federal continuou a exercer papel proeminente, mas não absoluto, na definição dos caminhos propostos, mesmo nos momentos de alterações do ciclo político e maior poder dos governos subnacionais.
A desigualdade regional e as diferenças de receita tributária disponível per capita constituem outros traços perenes do federalismo brasileiro. A dinâmica econômica engendrou o poder de cada região e deu lugar a um arranjo político peculiar, marcado pela força desigual dos entes federativos. O sistema tributário pouco fez para atenuar esse quadro de desigualdade e a constituição de um sistema de partilha de caráter distributivo, apesar de amenizar o problema, não o resolveu e deixou a questão em aberto, à espera de políticas capazes de enfrentá-la.
O estudo propõe demarcar as etapas de evolução do federalismo brasileiro a partir da escolha de elementos cuja análise serve, em linhas gerais, para caracterizar o que se pode denominar de pacto federativo: (i) a questão da desigualdade regional, a distribuição dos recursos tributários e o sistema de partilha; (ii) a evolução do poder de regulação federal; (iii) as relações do centro com os entes subnacionais quanto à realização de gastos e autonomia de decisões e, finalmente, (iv) a dinâmica da articulação entre estados e municípios.
A análise busca captar o comportamento desses elementos e discutir os efeitos provocados por mudanças econômicas e políticas, a fim de caracterizar cortes temporais e, consequentemente, as etapas de evolução do federalismo brasileiro. A diferenciação entre as etapas indica alterações do conjunto ou de parte dos elementos indicados acima e outra disposição do arranjo federativo, resultado, em geral, de mudanças complexas e não de simples processos de concentração e descentralização tributária.
A desigualdade regional, apesar de mitigada ao longo do tempo, continuou presente e pouco ajuda na tarefa de diferenciar as etapas. As mudanças do arranjo federativo são mais bem avaliadas ao se examinar a distribuição da receita tributária, o poder de regulação federal, a configuração das relações do centro com os entes subnacionais e a dinâmica de articulação entre os estados e os municípios, de modo a salientar as condições presentes em cada fase.
Os elementos citados, frequentemente, assumem configurações distintas, uma vez que a federação é por natureza uma estrutura viva e sujeita a mudanças constantes em respostas a alterações de ordem política e/ou econômica. A proposta do estudo é concentrar a atenção em transformações de vulto, vistas como momentos de ruptura da estrutura federativa. É importante distingui-las de outras que, embora relevantes para a explicação de períodos específicos, não rompem com o movimento anterior e são insuficientes para caracterizar o início de uma nova fase. Ou seja, por terem caráter pontual ou dimensão restrita, nem sempre caracterizam um novo pacto federativo, pois se revelam muito mais como adaptações à singularidade de determinadas ocasiões do que propriamente rupturas.
Vale ainda destacar os traços de continuidade invariavelmente presentes. É comum a ocorrência de períodos com novos atributos, relevantes na explicação de conjunturas específicas, mas sem a força capaz de mudar os elementos constitutivos do arranjo federativo, que, mesmo com diferenciações, reproduzem os traços da estrutura anterior. Já os momentos de ruptura, nem sempre de fácil percepção, apresentam outra natureza: o conjunto ou parte dos elementos constitutivos do pacto federativo configura-se de modo diferente e dá lugar a outro arranjo indicando uma nova etapa.
Os cortes temporais caracterizam esses momentos de ruptura e o surgimento de outra configuração do modelo federativo. O entendimento de cada uma dessas etapas é importante porque revela como se estruturam as relações de poder, como se organiza a oferta das políticas públicas e se distribuem os recursos e as funções entre as esferas de governo.
A proposta do texto é delinear as etapas longas, de mudanças das características do arranjo federativo. A análise das fases curtas, subdivisões de um período largo, destaca a proeminência dos fatores permanentes, como definidores daquele período específico de evolução do federalismo brasileiro. Vale dizer, estes momentos, apesar de traços distintivos, destacam-se mais pelos delineamentos semelhantes dos elementos constitutivos do pacto federativo do que propriamente por apresentarem alterações de vulto.
O estudo divide a evolução do federalismo brasileiro em três grandes etapas: (i) de 1891 a 1964; (ii) de 1964 a 1988 e (iii) de 1988 a hoje, vistas aqui como instantes em que se observam mudanças significativas na conformação da estrutura federativa. Certamente, em cada uma delas, pode-se distinguir subperíodos de variâncias das ordens política e/ou econômica capazes de afetar aspectos distintos, responsáveis por explicar a conjuntura. Não obstante, a falta de condições necessárias ao surgimento de outro arranjo acaba por definir a prevalência dos traços de continuidade como características básicas da situação. Ou seja, tornam-se visíveis as mudanças de certos aspectos, mas subordinadas às forças de continuidade do modelo.
A etapa mais difícil de caracterizar talvez seja a primeira (1891 a 1964), devido às evidentes diferenças entre os três ciclos que a compõem: 1891 a 1930; 1930 a 1946 e 1946 a 1964. A dificuldade maior está em aceitar que o governo Getúlio Vargas, apesar da centralização política e do aumento do controle sobre os entes subnacionais, não indica, de fato, um momento de ruptura. A crescente presença da esfera federal, embora inquestionável, não alterou elementos constitutivos do pacto federativo.
A característica marcante do período parece ser a continuidade e não a ruptura. Não houve a centralização da receita tributária e o governo central, apesar do maior poder de regulação, teve de se articular com os entes subnacionais e respeitar as articulações internas de cada unidade e os arranjos regionais. Não ocorreram fraturas nas bases do sistema: as relações do centro com estados e municípios, apesar do controle federal, não deixaram de reproduzir condições presentes no período anterior. O mesmo se pode afirmar das articulações de estados e municípios, do trato da questão regional, da repartição dos recursos tributários e do poder de gastos das unidades estaduais.
A realidade após a era Vargas parece reforçar essa tese. A volta do regime democrático trouxe alterações marginais. A mudança do momento político veio acompanhada do compartilhamento de algumas receitas, sem caracterizar propriamente um sistema de partilha. No mais, as semelhanças são marcantes. Não se negou parte relevante do poder de regulação federal, o formato das relações da União com os governos subnacionais e o trato entre estados e municípios mantiveram as características anteriores, adaptadas à nova conjuntura, em que a ausência dos interventores ampliou a liberdade de atuação dos líderes regionais e locais.
A segunda fase inicia-se com o movimento militar e se arrasta até a Constituição de 1988 (CF88). A diferença fundamental em relação à etapa anterior está no conjunto de reformas do regime militar, responsável por alterar diferentes traços do passado e estabelecer outra dinâmica do arranjo federativo, ao impor perdas de capacidade tributária e de autonomia aos governos subnacionais para gerenciar os seus gastos; ao introduzir um sistema de partilha e políticas de cunho regional; ao criar um sistema de repasse de recursos fiscais e financeiros e estabelecer novas regras de relações inter e intragovernamentais, além de elevar o poder federal de direcionar os gastos públicos com o objetivo de acelerar o crescimento.
A crise econômica do início dos anos 80 alterou pouco as características do federalismo então vigente. As diferenças podem ser atribuídas mais à perda de funcionalidade do esquema montado no regime militar e ao renascer da força dos governadores com o fim da ditadura do que propriamente a mudanças do modelo anterior e o limiar de outra etapa.
A delimitação da terceira fase (de 1988 até hoje) é complexa. A CF88 cumpriu papel relevante ao transferir recursos tributários aos governos subnacionais e elevar os gastos sociais. Porém, o alcance de suas proposições não parece caracterizar, por si só, uma ruptura. A configuração final dessa etapa do arranjo federalista completou-se com as reformas do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC).
A delimitação em 1988 deve-se ao fato de a CF88 inaugurar um período de transição, que, embora não se confunda com a fase anterior, não consegue delinear plenamente o momento seguinte. O governo FHC, ao se tornar responsável por alterar a estrutura federativa em diferentes planos, definiu o novo momento e deu outras feições ao federalismo brasileiro, sobretudo, ao mudar a forma de relação da esfera federal com os governos subnacionais e definir novos caminhos na condução das políticas públicas.
As privatizações deram outra dinâmica às relações da esfera federal com os governos subnacionais e dos estados com os municípios. A renegociação das dívidas e a definição de regras fiscais mudaram o jogo de poder entre as esferas de governo e contribuíram para o ocaso paulatino da força dos estados, a luta por elevar a participação na receita tributária afetou o sistema de partilha e o descaso com a questão regional deu lugar à guerra fiscal, o poder federal de definir as normas de gastos sociais alterou o modelo de atendimento dessas áreas e de relacionamento dos entes federativos.
As ações do governo FHC ampliaram a centralização e demarcaram o caminhar da federação, com os seus percalços e conflitos, sem que, desde então, avance o debate sobre rumos alternativos, apesar de se reconhecer a necessidade de revisão do pacto federativo.
1 A República e o federalismo com a força do poder estadual (1891 a 1964)
A fase inicial do federalismo brasileiro abrange os anos de 1891 a 1964. O olhar desse longo tempo como etapa única tem o objetivo de destacar o fato de que a característica do período é mais a continuidade do que o rompimento dos traços constitutivos do pacto federativo.
A estrutura federativa, de caráter hierárquico, com a União no topo da pirâmide (Figura 1), sustentou-se ao longo do tempo. A União, apesar das oscilações nos três ciclos dessa etapa, se manteve no comando da política econômica e da estratégia de desenvolvimento, bem como acumulou forças para atuar nas diferentes arenas decisórias e costurar o pacto de poder. Os governos estaduais cumpriram o papel de entes intermediários, ao realizarem a articulação direta com a esfera federal e, ao mesmo tempo, serem os responsáveis pelo desenho do arranjo com os governos locais, buscando garantir as condições de reprodução do poder nacional e a sustentação dos interesses regionais.
A permanência da estrutura federativa reflete a continuidade no período de outros traços do pacto federativo. O aspecto nuclear está no poder estadual e das relações regionalistas. O movimento não é linear, os momentos com distintos ordenamentos se intercalam, avança a força de regulação federal, sem o abandono da força dos governos regionais como elemento basilar do federalismo brasileiro.
A dificuldade de atentar a essa característica decorreu da ênfase atribuída à alternância de situações vividas desde a primeira constituição republicana. O desenho inicial, em resposta à experiência da fase imperial, teria atendido às burguesias regionais, sobretudo dos interesses paulistas, preocupados em garantir as condições de gerenciar a acumulação do complexo cafeeiro em momento de franca expansão. O ocaso, precoce, desse momento de maior radicalismo federalista, teria lugar na era Vargas (1930 a 1945). A centralização do poder na esfera federal freou os arroubos iniciais da República e restaurou a força da União em ditar os destinos da nação. O fim dos anos Vargas deslocaria novamente o pêndulo no sentido de retomar o caminho da descentralização e redimensionar o federalismo, com os estados recuperando a energia e a autonomia de ditarem os próprios percursos até o retorno da centralização com o advento do regime militar.
A ênfase na alternância do pêndulo obscureceu os traços de continuidade então presentes, com destaque ao caráter regional e a presença dos governos estaduais como elementos delineadores do pacto federativo. Os estados, mesmo nos momentos de avanço do poder central, como na era Vargas, preservaram graus de autonomia de atuação, condições semelhantes de distribuição dos recursos tributários e dos gastos públicos e o controle da articulação com os governos locais, fatores responsáveis por influenciar o jogo político e ditar o caráter regional da dinâmica federativa.
A análise do arranjo federativo, a partir dos elementos constitutivos já citados, nos três ciclos dessa longa etapa, pretende mostrar como as mudanças existentes, apesar de relevantes e fundamentais na explicação de momentos específicos, não eliminaram os traços de continuidade característicos do período como um todo.
1.1 A construção de 1891 e a origem federalista
O regime federativo da Constituição Federal de 1891 tem as raízes históricas no modelo de organização presente na concepção do pacto imperial1 1 As considerações sobre o pacto imperial ancoram-se no trabalho de Dolhnikoff (2004). . O poder central, preocupado em garantir a unidade do território nacional, aceitou a solução de compromisso, acordada no Ato Adicional de 1834, preservando o poder de regulação em troca da liberdade das elites provinciais em gerenciar os seus espaços e sustentar o pacto de dominação local; condição mantida na revisão conservadora de 1840 que, embora tenha desencadeado disputas políticas em torno de pontos específicos, não chegou a atacar as questões relacionadas ao cerne do pacto federativo2 2 De acordo com Dolhnikoff (2004, p. 147): “Mesmo depois da Interpretação do Ato Institucional, continuava prevalecendo o cerne do arranjo institucional implementado na década de 1830. [...] as Assembleias brasileiras tinham competência para decidir unilateralmente sobre matéria tributária e outras de igual importância. [...] dispunham de meios para fiscalizar e opor-se aos presidentes e ao governo central e estavam organizadas de modo a possibilitar o exercício de autonomia nas decisões de matéria de sua competência. As Assembleias brasileiras não dependiam da convocação do Executivo para se reunir e não podiam ser dissolvidas, características que não perderam com a revisão conservadora.” Ou ainda (p. 153): “Realizada a Interpretação do Ato Institucional, as Assembleias Provinciais continuavam desfrutando da mesma autonomia tributária, com o direito de criar impostos e decidir sobre o destino das rendas arrecadadas. Mantinham ainda a prerrogativa de criar uma força policial própria e seguiam responsáveis pelo controle da Câmara Municipal; além de se manterem encarregados das obras públicas, da instrução e das divisões civil, judiciária e eclesiástica da respectiva província.” .
O resultado soldou os interesses em defesa do Estado e, mesmo sem se caracterizar propriamente como federalismo, construiu as bases onde repousam elementos da ordem de 1891 e as tradições do federalismo brasileiro.
O pacto imperial definiu a divisão de competências entre as esferas de poder e garantiu ao governo central o direito de responder por questões nacionais em diferentes áreas, aceitas em toda a nação. Por sua vez, os governos provinciais teriam a responsabilidade de conduzir a política local e, simultaneamente, as respectivas elites ocupariam espaços na Câmara, com a defesa de seus interesses por meio de negociações com os pares e o poder central.
O arranjo garantia autonomia financeira e liberdade de decisão ao governo provincial em matérias de interesse relacionadas à defesa da economia e da ordem política local. A distribuição tributária estabelecia-se entre o centro, com maior poder fiscal, e as províncias, restando pouco aos municípios. Os governos provinciais tinham liberdade de elaborar o orçamento, arrecadar os seus tributos, decidir sobre a distribuição dos investimentos em obras públicas, emprego, educação e a constituição de força policial, fatores cruciais na definição do papel das elites locais no jogo político e no embate nas Assembleias com os presidentes de províncias, nomeados pelo governo central3 3 Cf. Dolhnikoff (2004, p. 153): “Realizada a Interpretação do Ato Institucional, as Assembleias Provinciais continuavam desfrutando da mesma autonomia tributária, com o direito de criar impostos e decidir sobre o destino das rendas arrecadadas. Mantinham ainda a prerrogativa de criar uma força policial própria e seguiam responsáveis pelo controle da Câmara Municipal; além de se manterem encarregados das obras públicas, da instrução e das divisões civil, judiciária e eclesiástica da respectiva província.” Torres (2017, p. 142) parece concordar com essa interpretação: “Ora, as províncias do Império brasileiro, posto que em situação ambivalente – órgãos do Estado e coletividades autônomas, como diz o visconde de Ouro Preto, possuíam todos elementos distintivos do Estado-membro da federação. Senão vejamos: a) A competência das assembleias provinciais não era de caráter puramente administrativo e, sim, efetivamente político e governamental. Os presidentes de província, como órgão dependente do governo imperial e através dos serviços da secretaria de governo aplicados na execução de medidas da competência nacional, exerciam funções de agentes da administração descentralizada; os mesmos presidentes, quando aplicavam leis provinciais, participavam de um poder autônomo, o das assembleias. b) Gozavam de um Poder Legislativo específico, possuíam rendas próprias, serviços administrativos exclusivos. E, se uma lei geral é que fundamentou esta autonomia, esta lei geral foi aprovada pelo povo das províncias num verdadeiro referendum. c) As províncias possuíam polícia militar própria. Se considerarmos, ademais, que o Ato Adicional não atribui poderes às províncias, mas às suas assembleias, e se as leis negavam direito aos presidentes de apresentar projetos, devemos considerar que, afinal de contas, as províncias eram autônomas, muito embora esta autonomia fosse sujeita a uma inspeção por parte do governo central, o que existe em toda a parte.” .
O presidente servia como agente articulador dos interesses do centro e da província, com a tarefa de garantir a vitória dos candidatos da corte. Porém, o poder de intervir na configuração das forças internas e de cercear as ações dos deputados provinciais era restrito. A eles não cabia propor leis e o eventual veto às medidas aprovadas na Assembleia podia ser revogado por decisão de 2/3 dos próprios legisladores. Ou seja, os presidentes não tinham a prerrogativa de impor a sua vontade e eram obrigados a negociar as suas proposições com a elite local4 4 Cf. Dolhnikoff (2004, p. 107): “os presidentes podiam, em alguns casos específicos, suspender a apreciação da lei e enviá-la para ser examinada pela Câmara, quando elas atentavam contra os interesses de outras províncias ou contra disposições firmadas em tratados assinados com outras nações.” .
O sistema, por seu caráter descentralizado e de respeito às condições locais, referendou as diferenças regionais. A inexistência de uma política regional capitaneada pelo centro acatou a assimetria de renda e atrelou à capacidade econômica de cada província diferentes graus de autonomia no controle dos gastos. O arranjo, embora favorável às unidades ricas, também contemplou os interesses das elites de unidades periféricas, já que garantiu a elas meios de acesso ao orçamento do centro e condições de manterem o pacto de dominação local.
As relações entre o centro e as províncias, marcadas por descentralização e liberdade de ações, contrastava com a centralização do poder provincial no trato com os municípios5 5 A Lei de 12 de maio de 1840, de interpretação do Ato Adicional de 1834, ao estabelecer que: “Art. 2º A faculdade de crear, e supprimir Empregos Municipaes, e Provinciaes, concedida ás Assembléas de Provincia pelo § 7º do art. 10 do Acto Addicional, sómente diz respeito ao numero dos mesmos Empregos, sem alteração da sua natureza, e atribuições, quando forem estabelecidos por Leis Geraes relativas a objectos sobre os quaes não podem legislar as referidas Assembléas.”, limitou o poder provincial de lidar com a questão do emprego nos governos locais, mas pouco mexeu na relação de subordinação entre essas esferas de governo. . Em matérias políticas, as Assembleias dominavam o processo e deviam aprovar as posturas, os orçamentos e a contratação de funcionários municipais antes de entrarem em vigência. Na área fiscal, os municípios, com baixo montante de receita própria, dependiam do orçamento provincial e estavam forçados a barganhar as demandas locais com as elites provinciais (Dolhnikoff, 2004DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005., cap. 2). O modelo estabelecia a subordinação e a dependência da autoridade local em relação ao poder provincial, reforçando o papel desta esfera de governo na estrutura federativa6 6 De acordo com Tavares Bastos (1870, p. 151): “E, em verdade, depois do golpe de estado de 1840, não puderam mais as assembléas legislar, por medida de caracter geral, sobre a economia e a policia municipal. Só o pódem agora fazer diante de cada hypothese, a proposito de cada postura, de cada obra, de cada orçamento municipal. Tal é o fim da exigencia de prévia proposta das camaras (art. .1° da lei de 1840). Muito menos podem alterar a symetria dos serviços locaes, crear novos empregos ou supprimir os antigos, dar e tirar-lhes attribuições (artigo 2°). Desde então, pois, a autoridade das assembléas sobre as camaras somente se faz sentir pelo lado máu, pela excessiva dependencia e concentração dos negocios nas capitaes das provincias. Privadas as assembléas de poderem regular os interesses municipaes por modidas de caracter geral, por leis organicas adaptadas ás circunstancias de cada região, ficou sua missão reduzida a uma impertinente tutela, requintada pelas perniciosas práticas introduzidas desde 1840 na administração publica.” .
O pacto de 1891 ancorou os seus alicerces no arranjo imperial.7 7 Como colocou Roure (1920, p. 72): “O regime federativo foi adotado entre nós, na Constituinte Republicana, simplesmente porque a ideia da Federação vinha do Império já amadurecida, tendo sido objeto de estudo na Constituinte de 1823, na assembleia que votou o Ato Adicional e nos debates do parlamento ordinário. Todos eram federalistas na Constituinte de 1890-91.” O fortalecimento das oligarquias regionais e a crise do final do império deram força às reivindicações federalistas, amadurecidas durante o Império.8 8 Como colocou W. P. Costa (1998, p. 143): “A força da pregação federalista advinha particularmente das fissuras que se abriam a partir do momento em que o Estado Imperial iniciou o processo de emancipação da escravidão, datando com isso, o destino da instituição que lhe servira contraditoriamente de fundamento. O fulcro da questão radicava, entretanto, na crescente diversificação da base econômica a partir da década de 1870, com o florescimento da cafeicultura do Oeste paulista e a heterogeneidade que se aprofundava, a partir daí, entre o Centro-Sul e o Nordeste. O timing da emancipação, a forma e o preparo da transição para o trabalho livre, encontravam demandas regionais diferenciadas e divergentes: a imigração em São Paulo, os engenhos centrais no Nordeste, as ferrovias em toda parte. A partir do momento em que se rompia o consenso básico que sustentara o Império, o Estado como biombo externo para a manutenção da escravidão e garantidor interno de tráfico interprovincial, não era mais possível pensar políticas capazes de satisfazer interesses que se tornavam cada vez mais diferenciados. O federalismo, pois, ganhava espaço ao propor que essas questões (a questão servil e a questão de substituição do trabalho escravo) fossem definidas pelas unidades federadas de acordo com seus interesses.” As pressões regionais buscaram ganhos tributários como meio de enfrentamento dos problemas existentes. No plano político, o conjunto das forças era favorável à autonomia dos estados; a divergência concentrava-se nas discussões sobre o alcance do poder federal e a estrutura da ordem federativa (ver Roure, 1920ROURE, A. A Constituinte Republicana. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1920. v. I e II.).
Os representantes de unidades de alto poder econômico, sobretudo paulistas e mineiros, sem ferir a autonomia estadual, frearam a descentralização radical e respaldaram as demandas do governo central evitando a perda da capacidade de atuação do poder federal, ao mesmo tempo em que contemplaram os interesses estaduais.
O embate concentrou-se na disputa sobre a descentralização e o poder de regulação federal, em busca da garantia do poder estadual de gerir os interesses próprios. A instauração da figura do governador eleito eliminou um dos elos de transmissão das relações do centro com as unidades subnacionais e reforçou o poder das oligarquias locais. Elas passaram a ter no governador o representante direto da elite local, com maior liberdade de ação. O movimento, no entanto, não trouxe necessariamente alterações bruscas no papel ocupado pelo centro, uma vez que o poder do Império não era absoluto. Os espaços de atuação dos presidentes de província, como se viu, eram limitados e agiam articulados com a oligarquia local na defesa de seus interesses. Além disso, a esfera federal, em uma nação marcada pela assimetria do poder econômico, sustentou a tarefa de nuclear a negociação dos entes subnacionais em busca de apoio financeiro.
O canal por onde transitavam os entendimentos mudou e o poder local ganhou força, graças aos governadores e às medidas constitucionais atribuindo aos estados a liberdade de serem regidos por sua própria constituição e leis, desde que respeitados os princípios constitucionais da União (Art. 63). Além de prover, por conta própria, as necessidades de governo e da administração (Art. 5º) e de resguardar para si os direitos não expressamente negados pela constituição (Art.65 § 2º), ao mesmo tempo em que os casos possíveis de intervenção federal (Art. 6º) e as matérias de sua competência exclusiva (Art. 7º) eram limitados.
O poder estadual certamente cresceu com a República. Todavia, o novo formato, embora tenha interferido no peso relativo das esferas de governo, mostrou ser mais uma adaptação do que propriamente o abandono dos elementos constitutivos do modelo de articulação anterior.
As mudanças podem ser mais bem representadas como alterações no balanceamento de forças entre União e estados, como forma de se ajustar à nova realidade política, do que a negação dos arranjos presentes sobre a questão regional, a distribuição da receita tributária, as relações da esfera federal com os estados e a articulação destes com os municípios, como se discute a seguir.9 9 Dolhnikoff (2004, p. 299) chega a indagar se as novidades republicanas não foram muito mais um rearranjo do que uma fundação do federalismo brasileiro.
O novo formato constitucional não inviabilizou a atuação e o poder de regulação do centro, mesmo no auge da descentralização do primeiro período republicano. A União, em conexão com os grandes estados, teve força de agir e de cobrar apoio político em troca de favores e de segurança. O processo ganhou vigor com a aprovação da Emenda Constitucional (EC) de 3/09/1926 revertendo parte da descentralização anterior10 10 A medida afetou, sobretudo, os pontos referentes à intervenção nos estados (Art. 6º), à competência privativa do Congresso Nacional (Art. 34º) e às atribuições da justiça federal (Art. 59º). e fortalecendo o poder central, que, com o passar do tempo, mudou parte da feição do federalismo criado em 1891, sem alterar outras questões do modus operandi existente (Torres, 2017TORRES, J. C. de OLIVEIRA. A formação do federalismo no Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017.).
A distribuição dos recursos tributários em 1891 não sofreu alterações substantivas em relação ao Império. O discurso a favor da ampliação do poder financeiro estadual permeou os debates e não avançou graças à parcela dos constituintes preocupados em não inviabilizar a atuação federal. A decisão de manter a repartição da receita fiscal próxima à anterior preservou o poder da União de cumprir os preceitos básicos à sustentação dos interesses do conjunto da nação e evitou que a descentralização excessiva colocasse em risco a unidade territorial.
O comércio exterior continuou a ser a base do sistema tributário. A atribuição do imposto de exportação aos estados favoreceu as poucas unidades com vendas importantes ao exterior, enquanto as outras ficaram presas à tributação do mercado interno e aos favores da União11 11 Cf. Lopreato (2002, p. 17) A precária base tributária obrigava-os a usar um sem-número de novos impostos e taxas, respondendo por parcela ínfima no total da receita, a recorrer a sistemáticos empréstimos externos e ainda a elevar a carga do imposto de exportação, acarretando sensíveis perdas de competitividade a seus produtos (Bouças, 1934). Esse procedimento mereceu, desde cedo, atenção por parte do governo. Em 1904, o Decreto-Lei n. 1.185 proibiu a cobrança dos impostos interestaduais, mas a base tributária estreita e a autonomia com que os Estados decidiam sobre as questões fiscais levaram o decreto a tornar-se letra morta. As receitas dos impostos interestaduais constituíam norma e representavam parcela importante da receita tributária de que os governos estaduais se valiam para atender aos gastos. .
O arranjo pouco se diferenciou da situação passada e preservou a posição de força do governo central de barganhar em posição favorável com as unidades de menor poder econômico e garantir os apoios políticos fundamentais à manutenção do pacto de poder.
A decisão de deixar cada estado preso à própria capacidade financeira referendou o potencial desigual de acumulação interna e reforçou os quadros de disparidade regional e de desigualdade pessoal de renda entre cidadãos de diferentes regiões do País. As unidades com inserção internacional, sobretudo São Paulo e Minas Gerais, comandaram o processo de acumulação local, com autonomia, e, simultaneamente, influenciaram a esfera política central. Os estados de menor poder econômico, com autonomia restrita, buscaram a articulação com a esfera federal em troca de apoio político e usaram a liberdade de ação de modo a preservarem o pacto de poder local.
A descentralização manteve, em linhas gerais, o modelo de relações entre o governo central e os estados. A autonomia estadual em conduzir os próprios interesses, aliada à ausência de políticas públicas federais de âmbito nacional, deu lugar a formas de negociação bilateral e ad hoc, pautadas por interesses específicos de cada unidade. A prevalência de um sistema de negociação envolvendo entes isolados, sem planos intermediários de negociação, restringiu os espaços de discussão de interesses comuns, propensos a gerar normas voltadas a enfrentar a desigualdade regional. O que restou foi o caminho de arranjos políticos fragmentados, de troca de favores por inserções pontuais no orçamento federal, marcado por relações bilaterais, União ⇔ Estados, análogas às existentes no Império.
A descentralização em favor dos estados trouxe nas entranhas o formato dominante das relações com os municípios. O movimento seguiu curso semelhante ao do pacto imperial (Nunes Leal, 2006). Os municípios, mesmo ocupando espaço destacado no arranjo político, permaneceram tutelados pelo poder estadual, graças ao direito de legislar sobre o montante disponível de recursos tributários e o alcance das administrações locais. Os dirigentes municipais atuavam com liberdade consentida no arranjo do poder local, uma vez que estavam sujeitos a darem o apoio exigido ao comando estadual, pois, em caso contrário, o suporte às ações locais arrefecia e o domínio do grupo político no município comprometia-se.
A Constituição de 1891 chegou a debater propostas de autonomia municipal (Roure, 1927), mas prevaleceu a adoção de princípios gerais, ao atribuir aos estados o direito de se organizarem de forma a assegurarem “a autonomia dos municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse” (Art. 68). A proposição genérica, ao não fixar os impostos de competência exclusiva municipal e deixar imprecisa a alçada do poder municipal, colocou a cargo da constituição de cada estado a tarefa de definir a organização e o alcance da autonomia local. Ou seja, manteve-se a tradição anterior e se preservou o domínio das elites estaduais sobre os interesses dos entes locais12 12 Cf. Nunes Leal (2012, p. 49): “As Constituições estaduais não tardaram a ser reformadas; reduzindo-se o princípio da autonomia das comunas ao mínimo compatível com as exigências da Constituição federal, que eram por demais imprecisas, deixando os Estados praticamente livres, no regular o assunto.” .
O momento político consagrou um modelo federativo em que a força da esfera federal se mostrou em condições de responder às demandas gerais, constituindo um formato hierárquico, com a União no topo, com a tarefa de soldar interesses, resguardar a unidade territorial e as políticas nacionais. Os estados, por sua vez, diferenciados e voltados à defesa de interesses próprios, ganharam força e, no papel de entes intermediários, sustentaram a articulação prioritária com a esfera federal em busca de influenciar o arranjo político e eram os responsáveis por definir, com autonomia, as políticas próprias e comandar a articulação com os municípios.
1.2 O federalismo alterado do regime Vargas
O regime Vargas inquestionavelmente trouxe novidades ao federalismo brasileiro. O ponto a discutir é se o momento constitui uma nova etapa ou se, apesar de colocados em outros termos, prevaleceram, como dominantes, os elementos basilares do período anterior. A dificuldade está em saber se o ambiente político e o enfraquecimento das oligarquias subnacionais alteraram o arranjo federativo ou se, mais propriamente, houve adaptação dos elementos constitutivos da federação ao crescimento do poder de regulação federal, sem mexer em suas características básicas. Ou seja, se preservaram as disputas orientadas com o foco regional em condições semelhantes às anteriores e a repartição da receita tributária, bem como o modelo de relações do centro com os entes subnacionais e dos estados com os municípios.
A dúvida está no discernimento, entre dois processos antagônicos, do movimento dominante. Se, de um lado, cresceu o poder de regulação do governo central e o rearranjo das forças políticas, com reflexos nas relações intergovernamentais; de outro, foram palpáveis os sinais do caráter limitado da modernização, bem como a continuidade de aspectos determinantes do pacto federativo.
A simbiose desses processos mexeu na situação vigente sem caracterizar, necessariamente, outra etapa do federalismo. A tarefa de reconhecer o elemento dominante é complexa, pois o período trouxe mudanças marcantes da história política e econômica do País. A tese proposta é a de que as alterações, embora significativas, não romperam a configuração de elementos centrais do arranjo federativo e as alterações da era Vargas tiveram profundidade menor do que a aparência do momento indicava.
A expansão do poder do governo central, apesar de restringir a liberdade de ação dos entes subnacionais, conservou os mecanismos federativos da República Velha, assentado no foco regional, e levou o centro a buscar a composição com os interesses regionais como meio de assegurar a sobrevivência política (Souza, 1976SOUZA, M. C. C. C. de. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 a 1964). São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1976.).
Os interventores, nesse novo arranjo político, sobreviveriam por pouco tempo caso não se integrassem com os interesses locais. Nas palavras de Souza (2006, p. 13-14): “A implantação de um Estado centralizado nesse período significou, de fato, uma redefinição dos canais de acesso e influência dos interesses do estado com o poder central. .... na prática, o rigor da vasta centralização administrativa foi de algum modo moderado pelas acomodações políticas regionais e estaduais características do prévio federalismo brasileiro.”
A mudança central no arranjo federativo da era Vargas decorreu da expansão do poder de regulação federal. O movimento já havia se colocado na emenda constitucional de 1926 e ganhou fôlego nos anos seguintes. A Revolução de 1930 e a crise da economia cafeeira deram condições ao centro, valendo-se do momento de dificuldade das forças estaduais, de usar o cacife político para ampliar a capacidade de atuação federal em dar respostas às demandas da própria crise e alavancar um programa de desenvolvimento econômico e social.
O governo modernizou o aparelho estatal e criou instituições voltadas a combater os efeitos da crise e a garantir a estrutura material do poder central capaz de atender às políticas nacionais de avanço social e de defesa do projeto de industrialização (Draibe, 1985DRAIBE, S. Rumos e metamorfose – Estado e industrialização no Brasil:1930/1960. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.).
Os estados, com as finanças abaladas e sem condições de administração da crise, cederam à esfera federal o poder de controlar os órgãos responsáveis pelos complexos exportadores e de ampliar os institutos e agências estatais direcionadas à defesa de produtos e interesses específicos (Nunes, 1997NUNES, E. A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; Brasília: Déficit, Enap, 1997.; Fonseca, 2012FONSECA, P. C. D. Instituições e política econômica: crise e crescimento do Brasil na década de 1930. In: BASTOS, P. P. Z.; FONSECA, P. C. D. (Org.). A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Editora Unesp, 2012.).
O poder central ampliou o comando na definição da política econômica e estruturou, entre outros, os órgãos regulatórios das áreas de câmbio, comércio exterior, monetária, creditícia, seguros, além de criar empresas estatais para reforçar atuação do Estado no desenvolvimento da indústria e na superação do atraso econômico.
O avanço da intervenção na área econômica ocorreu em simultâneo com a centralização administrativa e a criação de autarquias e comissões executivas, no intuito de ampliar a coleta de informações, instrumentalizar e racionalizar as ações do setor público. A criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e dos homônimos estaduais (daspinhos) buscou organizar a burocracia e fomentar os critérios de competência da administração pública (Fonseca, 2012FONSECA, P. C. D. Instituições e política econômica: crise e crescimento do Brasil na década de 1930. In: BASTOS, P. P. Z.; FONSECA, P. C. D. (Org.). A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Editora Unesp, 2012.).
O protagonismo estatal teve reflexos nas relações intergovernamentais. Os interventores e os DASPs estaduais, articulados com a esfera federal, com tutela direta de Vargas, restringiram a autonomia estadual e ampliaram o controle central das diretrizes gerais do País. Contudo, o processo não negou a relevância das oligarquias estaduais. Os interventores, por si só, não deram fim ao arranjo das políticas regionais. As nomeações, em geral, eram de políticos dos próprios estados que, mesmo sem pertencerem à cúpula do poder anterior, tinham ligações com esses interesses.
A novidade estava na constituição de um sistema, articulado e presente em todas as unidades, cujo objetivo principal não era o de intervir nos “pilares econômicos do poder político nos estados” (Souza 1976SOUZA, M. C. C. C. de. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 a 1964). São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1976., p. 88). A prioridade foi construir novas formas de convivência e não desconsiderar a política local; ao contrário, agiam como intermediários das relações entre os níveis de governo e na costura dos interesses nacionais e regionais (Rodrigues, 1995RODRIGUEZ, V. Federalismo e interesses regionais. In: AFFONSO, Rui; SILVA, Pedro Luiz B. (Org.). A Federação em perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: Fundap, 1995.).
O fato de os interventores ocuparem espaços definidos pelo centro e não dependerem diretamente das articulações locais dava a eles certa autonomia, mas, nem por isso, tomavam decisões livremente. O risco de generalização de conflitos forçou os agentes a negociarem e a interagirem com os interesses das forças regionais. Ou seja, os interventores, apesar de nomeados pelo centro e de restringirem a força das oligarquias estaduais, não as anulavam e acabaram incorporados ao jogo político local e reproduzindo traços característicos do pacto federativo.
O processo atingiu o auge em 1939, quando o DL n. 1202 atribuiu à União o direito de a União supervisionar a execução orçamentária e os atos administrativos dos entes subnacionais. A medida expôs o caráter centralizador e autoritário de toda a construção do aparato institucional13 13 De acordo com o Art. 17 do referido decreto, compete ao Departamento Administrativo: a) aprovar os projetos dos decretos-leis que devam ser baixados pelo Interventor, ou Governador, ou pelo Prefeito; b) aprovar os projetos de orçamento do Estado e dos Municípios, encaminhados pelo Interventor, ou Governador, e pelos Prefeitos, propondo as alterações que nos mesmos devam ser feitas; c) fiscalizar a execução orçamentária no Estado e nos Municípios, representando ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ou ao Interventor, ou Governador, conforme o caso, sobre as irregularidades observadas; d) receber e informar os recursos dos atos do Interventor, ou Governador, na forma dos arts. 19 a 22; e) proceder ao estudo dos serviços, departamentos, repartições e estabelecimentos do Estado e dos Municípios, com o fim de propor, do ponto de vista da economia e eficiência, as modificações que devam ser feitas nos mesmos, sua extinção, distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos de trabalhos; f) dar parecer nos recursos dos atos dos Prefeitos, quando o requisitar o Interventor, ou Governador; Parágrafo Único: Das decisões do Departamento o Interventor, ou Governador poderá recorrer para o Presidente da República. . Todavia, um olhar atento indica que não se deixou de levar em conta o poder político local. A possibilidade de apelar ao Presidente da República, como meio de solucionar eventuais conflitos, revelou os limites das ações da burocracia federal e a resistência das burguesias regionais. O modelo de Vargas não pressupôs a desconsideração das alianças regionais como elemento central do arranjo federativo, mas, ao alçar o chefe do executivo a árbitro de conflitos, deu a ele protagonismo político como peça central do processo de negociação e de articulação de interesses, elementos necessários ao esforço de minimizar os conflitos na condução do regime.
A engrenagem preservou as estruturas políticas das burguesias regionais e a força do poder estadual, que, mesma definida em novos termos e sujeita à forte presença da União, continuou a ocupar papel ativo no arranjo federativo, com capacidade tributária e espaço considerável no comando de gastos e na definição de seus interesses. Assim, as condições criadas asseguraram a centralização e a autonomia necessárias às propostas de modernização do Estado defendida no poder central, sem ameaçar os interesses econômicos existentes nem entrar em conflito aberto com as burguesias regionais (Souza, 2006).
O acordo federativo continuou marcado pela composição do pacto de poder dividido entre os estados fortes e fracos. Os estados de menor poder econômico ocuparam posição de menor relevância estratégica no jogo de poder e estavam sujeitos ao maior controle hierárquico. Nos estados mais fortes, donos de força econômica e militar, a subordinação aos desígnios federais era mais bem delimitada e o desrespeito a seus interesses tendia a potencializar os conflitos, situação que não favorecia ao pacto de dominação definido no centro.
A distribuição da receita tributária, como elemento sinalizador do poder das esferas de governo, oferece campo privilegiado de análise da correlação de forças e do arranjo federativo. O avanço da regulação no governo Vargas não provocou o movimento de centralização de recursos fiscais.
O governo provisório, nos momentos iniciais, tratou de constituir a Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, com a tarefa de estudar a situação das finanças públicas e propor a reformulação do sistema tributário. O desarranjo fiscal e a precariedade da estrutura de arrecadação atrelada ao fluxo de comércio exterior exigiam a reformulação do quadro existente e a revisão das práticas orçamentárias, com controle das finanças federais e a regularização dos entes subnacionais.
O governo limitou o poder das unidades criarem despesas acima da receita orçada e definiu o destino de 10% da arrecadação à educação primária e não mais do que 10% à segurança pública, bem como proibiu a cobrança de impostos ou taxas contrárias à circulação de riquezas no mercado nacional e a contratação de empréstimos externos sem prévia autorização federal. Além disso, instituiu como motivo de intervenção nos estados a suspensão do pagamento do serviço da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos (Schwartzman, 1982SCHWARTZMAN, S. (Org.). Estado Novo, um auto retrato. Brasília: CPDOC/FGV/Editora Universidade de Brasília, 1982. Capítulo 3, Finanças Públicas. (Coleção Temas Brasileiros, 24).).
A regulação das finanças públicas, mesmo com restrições ao manejo do sistema tributário, preocupou-se mais em racionalizar a prática tributária do que propriamente reduzir o poder fiscal dos entes subnacionais. Os sistemas tributários nas constituições de 1934 e de 1937 não alteraram significativamente a distribuição de 1891, mesmo tendo explicitado os impostos de competência municipal (ver Quadro 1). A estrutura do modelo adotado tratou de se adequar às condições do pós-crise mundial. A mudança do eixo dinâmico da economia ampliou a tributação da atividade interna no lugar das operações de comércio exterior, graças ao aumento dos impostos de renda e de consumo da esfera federal e a criação do IVC – imposto estadual sobre vendas e consignações (Oliveira, 2010OLIVEIRA, F. A. A evolução da estrutura tributária e do fisco brasileiro: 1889-2009. Brasília: Ipea, jan. 2010. (Texto para Discussão, n. 1469).).
A nova estrutura tributária continuou a privilegiar as burguesias regionais e a garantir a capacidade financeira dos donos do poder. A atribuição aos estados do IVC, de grande potencial, no lugar do imposto de exportação, esvaziado com a crise mundial, manteve o perfil da distribuição regional da receita tributária e mostrou que a questão do desequilíbrio regional não se colocou como prioridade da estratégia varguista. A ausência de política específica de repartição das receitas, por meio de um sistema de partilha, referendou o quadro anterior de disparidade entre as unidades federadas. Os estados de renda elevada, ao se beneficiarem do uso do princípio de origem na definição do lugar da cobrança do IVC14 14 O embate a respeito da cobrança do IVC exigiu a intervenção federal com seguidas normas, a começar com a Lei n. 187 de 1936, sobretudo art. 37, alterada posteriormente pelos DL n. 840 de 29-12-37; DL n. 348 de 1938; DL n. 915, de 1-12-1938 e Lei n. 1061 de 20-1-1939, preservando o princípio de origem quando se tratar de venda efetuada diretamente pelo próprio fabricante ou produtor. , concentraram parcela expressiva da receita tributária, enquanto as outras unidades, com baixa capacidade tributária, continuaram dependentes de transferências ad hoc e de gastos do governo central.
Além disso, a era Vargas, apesar de intervir em diferentes áreas, não provocou a centralização tributária. Os estados, mesmo com perdas de graus de liberdade, mantiveram a receita, com o controle sobre o principal imposto (IVC) e o direito de criar outros, com a repartição de 30% à União e de 20% aos municípios, vedada a bitributação, prevalecendo o tributo federal em caso de competência concorrente. A mudança restringiu-se à transferência do imposto de consumo sobre combustíveis de motor a explosão ao governo federal, que, em 1940, passou a ser denominado de Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes (IUCL) com a unificação das tarifas. Ou seja, a centralização de poder não teve como contrapartida a expansão da capacidade de arrecadação e de gasto da União.
A evolução da receita tributária, desde 1907, como aponta o Gráfico 1, apresentou estabilidade, com oscilações pontuais, mas a tendência é de ganho de participação dos governos subnacionais, acentuada no pós guerra. A queda do peso da arrecadação estadual nos anos iniciais do movimento de 1930, ocorrida devido à crise econômica e ao menor valor das exportações, foi logo superada e os estados voltaram a ganhar participação no Estado Novo até 1943, quando a esfera federal recupera espaço, por breve período, sem, no entanto, alterar a tendência de crescente participação estadual.
As informações sugerem que os governos estaduais mantiveram a autonomia na arrecadação tributária e o projeto varguista não se fez à custa de eles perderem capacidade financeira. A União, sem controle tributário e financeiro ou empresas estatais de porte, recorreu à intervenção na proposta orçamentária dos entes subnacionais por meio dos daspinhos, instrumento sujeito às intempéries da negociação política e à aceitação dos interesses regionais, no esforço de direcionar os gastos públicos e contemplar a estratégia federal.
A conservação da repartição da receita tributária é indicativo relevante da força dos pactos regionais, a sinalizar, como colocou Diniz (1999)DINIZ, Eli. Engenharia institucional e políticas públicas: dos conselhos técnicos às câmaras setoriais. In: PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. 345p., os traços de continuidade, típicos de processos de transição onde se defrontam forças contraditórias e movimentos com direções não necessariamente convergentes. O embate com o pacto oligárquico e o uso do Estado como indutor do crescimento industrial ocorreu por meio de alterações de natureza político-institucional, com o propósito de dar espaço na coalizão de poder aos atores ligados à nova ordem, sem desalojar as antigas elites, ainda presentes e atuantes.
A União, sem a centralização de recursos tributários e financeiros e o domínio de empresas públicas capazes de construir a articulação com os estados, não dispunha de meios de direcionar os gastos públicos. O poder federal circunscreveu-se ao controle político dos órgãos diretivos estaduais, que, embora longe de ser desprezível, tinha limites em razão da obrigatoriedade de negociar com os interesses locais o destino dos recursos e de respeitar os seus espaços econômicos, a fim de evitar atritos e o risco de não concretização de acordos necessários à sustentação do poder político.
Os estados, nesta forma particular de articulação, preservaram, como colocou Camargo (1999)CAMARGO, A. Do federalismo oligárquico ao federalismo democrático. In: PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. 345p., o papel de atores políticos relevantes e de palco da disputa entre interesses tradicionais e setores emergentes. Os conflitos expressavam-se por meio dos novos canais de interlocução com a esfera federal e cabia à União mediar as divergências e conciliar o antigo e o novo.
O jogo político ganhou contornos específicos, de acordo com o peso econômico e a tradição de cada estado. Os mais ricos tinham maior autonomia no controle e direcionamento dos gastos, pois, embora presos à interlocução com os agentes federais, as negociações se faziam no interior do estado, com recursos majoritariamente próprios e de livre destinação. As unidades de menor poder econômico, por sua vez, dispunham de menor autonomia financeira graças à baixa receita tributária e à dependência de inserções no orçamento federal, o que as colocava como reféns e submissas à vontade do centro, em razão da necessidade de trocar favores políticos por acesso a recursos.
As relações entre estados e municípios, embora marcadas pelos movimentos típicos de centralização política e administrativa, não sofreram alterações significativas em relação ao período anterior. A experiência com os departamentos de municipalidades, criados em 1934, como órgãos estaduais responsáveis por oferecerem assistência técnica e coordenarem as atividades de elaboração e execução orçamentária, prática ampliada durante o Estado Novo com os DASP, referendou o antigo esquema de tutela e de submissão aos governos estaduais.
As mudanças institucionais, particularmente a discriminação das competências tributárias e a adoção do princípio da eletividade15 15 Os municípios da capital e de estâncias hidro minerais, no entanto, poderiam ser nomeados pelo governo do Estado (Art 13 § 1). da Constituição de 1934, logo revogado em 1937, não alteraram, como colocou Nunes Leal (2012)NUNES LEAL, V. Coronelismo, enxada e voto – o município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Cia das Letras, 2012., o caráter da relação de subordinação municipal aos interesses estaduais. Os seus dirigentes, mesmo com liberdade de ação no âmbito doméstico, dependiam das indicações de aliados aos numerosos cargos em órgãos estaduais e federais e do acesso a verbas estaduais para realizarem gastos, manterem o controle político local e se perpetuarem no poder. Estes mecanismos deixavam os gestores presos à obrigação de sustentarem as alianças e de se sujeitarem à proteção do governador, a fim de assegurarem espaços extralegais de autonomia no trato das questões municipais e de receberem apoio à continuidade no poder. A perda de acesso a esses instrumentos dava chance a outros grupos de ascenderem e tomarem o controle do poder local. O risco de alijamento garantia a subordinação dos dirigentes ao arranjo político estadual e soldava o compromisso de apoio mútuo.
1.3 O avanço do poder estadual: 1946 a 1964
A queda de Vargas trouxe de volta a democracia, com a retomada do Congresso Nacional, eleições diretas, fim da figura dos interventores e a desconstrução do aparelho institucional autoritário. O novo ordenamento devolveu a força da representação política e o poder dos governadores na articulação dos interesses regionais. A mudança não é pequena, resta ver se veio acompanhada de efetiva transformação do federalismo brasileiro ou se as alterações processadas podem ser mais bem avaliadas como mero processo de adaptação à nova situação do quadro político e econômico.
O olhar sobre os elementos listados como constitutivos da ordem federativa – desigualdade regional, a repartição tributária, o sistema de partilha, o poder de regulação federal, o modelo de relações da União com os entes subnacionais e a dinâmica de articulação dos entes subnacionais – revela semelhanças marcantes com os ciclos anteriores e realça a continuidade do papel dos estados e do foco regional como elemento que une esses diferentes períodos. Isto é, o peso representativo dos governos estaduais no arranjo federativo sugere que esses momentos, resguardadas as peculiaridades próprias de cada um deles, representam partes de uma mesma etapa longa (1891 a 1964), marcadas por esse traço comum como principal fator de definição.
As novidades no campo federativo decorreram da valorização do legislativo e do revigoramento de diferentes atores, ao lado do avanço de forças regionais e da presença de grupos de interesses específicos, responsáveis por ampliar o campo de reivindicação de favores e de verbas públicas em troca de votos e de apoio às políticas federais, com reflexo na configuração dos canais de negociação. As ações deixaram de ser centralizadas na figura do mandatário máximo e se diluíram nos escaninhos do poder, dimensionados de acordo com a força política e a capacidade de influência de cada ator, revigorando o espaço dos governadores.
A carta de 1946 não buscou reconfigurar nem alterar elementos constitutivos das relações federativas. O sistema tributário, como aponta o Quadro 1, não sofreu mudanças substantivas. A distribuição de tributos permaneceu praticamente a mesma e os estados preservaram a autonomia de manejar os instrumentos de política tributária e fiscal e o direito de criar impostos, desde que não concorrentes com a esfera federal e sujeitos a distribuição de 20% do total arrecadado à União e 40% aos municípios; enquanto os ganhos dos municípios não expandiram a arrecadação a ponto de alterar a situação em que viviam.
A participação estadual na receita tributária cresceu a partir de 1947 e ocupou espaços da União, graças à expansão econômica, ao potencial de arrecadação e à liberdade de manipular as alíquotas do IVC. Os municípios, por sua vez, sustentaram posições próximas à do período anterior, com variações ao longo do tempo, mas sem mudança de tendência da repartição da receita tributária (ver Gráfico 1).
A volta do regime democrático recolocou os governadores como representantes dos interesses locais e alterou os canais de negociação. A eliminação do aparato arbitrário do Estado Novo, com a eliminação dos interventores e a perda de influência do sistema DASP, reduziu o poder federal de influenciar o direcionamento de parcela dos gastos dos governos subnacionais. O fim do expediente autoritário trouxe de volta o arranjo tradicional e as práticas baseadas na diferenciação dos estados de acordo com o poder econômico. Como bem anotou Campelo de Souza (1976)SOUZA, M. C. C. C. de. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 a 1964). São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1976., assim como o Estado Novo não destruiu a estrutura federativa, a Constituição de 1946 (CF46) não esvaziou a força do governo central e garantiu a ampliação de suas atribuições16 16 Como parte desse processo, a Constituição de 1946, art. 58, cumpriu papel relevante ao definir um modelo de representação política no Congresso, com um mínimo de 7 representantes por unidade da federação e um máximo distante da proporcionalidade populacional, capaz de preservar o peso político de segmentos de menor poder econômico (Campelo de Souza, 2006). .
O ordenamento criado preservou o poder de barganha federal nas diferentes arenas decisórias, que se tornaram os caminhos pelos quais a União ordenava o convívio de unidades desiguais, com interesses distintos, de modo a sustentar o balanço político entre a região industrializada e as demandas de unidades periféricas e de setores rurais. A barganha política colocou a esfera federal como arena central na negociação com as elites regionais e lhe deu condições de atender as demandas regionais ou setoriais e, simultaneamente, afiançar o projeto de desenvolvimento assentado na indústria.
A CF46 também não alterou o controle do poder regulatório e dos instrumentos da política econômica da era Vargas, dando sequência à marcha, presente pelo menos desde 1926, de dar ao Estado condições de ditar o processo de expansão industrial e de centralizar as decisões sobre as diretrizes do País (Draibe, 1985DRAIBE, S. Rumos e metamorfose – Estado e industrialização no Brasil:1930/1960. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.).
A União, apesar de perder a força abusiva do Estado Novo, sustentou o comando das estratégias de crescimento e da gestão de diferentes áreas, sem ferir a autonomia e a capacidade de os estados manipularem livremente os seus recursos fiscais, orientarem os gastos de acordo com os interesses próprios, incorrerem em déficits públicos e garantirem as formas de reprodução do arranjo de poder local e de inserção no pacto federativo.
O movimento, como de praxe, não se colocou de forma simétrica. O aumento da arrecadação estadual distribuiu-se de forma desigual entre as regiões do país. A concentração da atividade econômica e a cobrança do IVC, base da arrecadação estadual, na origem favoreceram o aumento da arrecadação na Região Sudeste, em detrimento das demais regiões (ver Gráfico 2), consolidando a assimetria econômica e o sentimento de iniquidade da autonomia estadual entre os membros da federação (Kugelmas, 1986KUGELMAS, E. Difícil hegemonia – Um estudo sobre São Paulo na Primeira República. Tese (Doutorado)–Universidade de São Paulo, 1986.).
A estratégia de industrialização, ao não se ater ao problema, reforçou esse traço constitutivo do federalismo brasileiro, responsável por delimitar os espaços de atuação das diferentes unidades. Os estados fortes, impelidos pela autonomia financeira e liberdade política, ocuparam lugar de destaque no centro das decisões sobre a dinâmica do processo de desenvolvimento, associados à União. O uso de recursos próprios e, com frequência, de déficits fiscais, além da presença crescente de bancos estaduais, deu a eles condições de acompanharem a estratégia traçada no plano federal, de ampliarem gastos e de apoiarem a iniciativa privada, bem como realizarem os investimentos requeridos pelo crescimento industrial, sobretudo, na fase do Plano de Metas. Isso, enquanto os estados de menor poder econômico, prisioneiros das formas específicas de articulação com a esfera federal, deram espaço à prática generalizada de diferentes expedientes de cooptação (doações, incentivos e subsídios, concessões, regulamentação de privilégios, e outros), transformados em instrumentos de composição política (Camargo, 1992).
O incipiente sistema de partilha criado na CF46 tampouco tratou de enfrentar a assimetria regional. O mecanismo, em sintonia com a nova configuração política, buscou meios de costurar o arranjo entre forças políticas desiguais, ao assegurar recursos a áreas específicas e aos entes subnacionais.
As normas institucionais obrigaram o governo federal a direcionar um volume mínimo de gastos a diferentes áreas. Os setores de energia, transporte e combustíveis foram contemplados com a parcela de 60% da arrecadação dos impostos únicos destinados aos estados, DF e municípios (art.15). Além disso, 3%, pelo menos, da receita tributária teriam de ser gastos, em caráter permanente, na execução do Plano de Defesa dos efeitos da seca no NE e com as obras e serviços de assistência econômica e social (art.198). Outros 3% foram destinados, por período mínimo de 20 anos, à execução do plano de valorização econômica da Amazônia (art. 199) e 1% no plano de aproveitamento das possibilidades do Rio São Francisco e seus afluentes (art.29 das disposições transitórias). Finalmente, 10% do produto do imposto de renda seriam distribuídos, em parte iguais, aos municípios, excluídos os das capitais, com a obrigação de, pelo menos a metade, ser aplicado em benefício de ordem rural (art. 15).
A formação de verdadeiro orçamento regional no interior do orçamento federal serviu de instrumento de composição política e conciliou o atendimento de interesses dos estados do norte e Nordeste e de áreas específicas, a fim de amealhar apoios no Congresso, reproduzindo, em novos termos, as práticas anteriores.
Os municípios, por sua vez, alteraram pouco o papel exercido no arranjo federativo, apesar de obterem alguns ganhos no retorno à democracia. A CF46 garantiu autonomia na eleição de prefeitos e vereadores, liberdade de decretar, arrecadar e aplicar o valor dos tributos de sua competência, bem como de organizar os serviços locais. O acréscimo de receitas, como colocado acima, com a participação nos impostos únicos e no imposto de renda, deu alento ao governo local, apesar do relativo controle sobre o direcionamento dos recursos.
Não obstante, as melhores condições resultantes das normas da CF46 não tiveram, segundo Nunes Leal (2006), a força necessária de alterar o quadro até então vigente. A autonomia política pouco transformou a realidade, já que a restrição legal de outros tempos “nunca chegou a ser sentida como problema crucial, porque sempre foi compensada com uma extensa autonomia extralegal, concedida pelo governo do Estado ao partido local de sua preferência” (p. 126). No plano financeiro, o ganho revelou-se insuficiente e não se refletiu em aumento de participação na distribuição da receita tributária.
A postura subalterna e a supremacia do poder estadual nos entendimentos com as forças locais em muito se assemelharam às de ciclos anteriores. A falta de recursos transformou em realidade processos variados de tutela, com os governos locais dependentes do apoio estadual para levar adiante os seus projetos e políticas públicas. Assim, o ganho formal de autonomia política não alterou o modelo de inserção municipal e o desenho federativo. Os municípios, frágeis financeiramente, mantiveram as ações atreladas aos movimentos dos dirigentes estaduais, responsáveis, hierarquicamente, por delinearem as alianças políticas e a condução dos gastos e investimentos.
Enfim, a nova configuração política deu força a estados e municípios e preservou outros elementos determinantes do arranjo federativo. A União, mesmo com a perda do arbítrio e menor participação na receita tributária, não perdeu o comando da política econômica e da estratégia de desenvolvimento, além de manter a capacidade de costurar o pacto federativo. O uso de favores orçamentários e de formas de relações intergovernamentais, em um país marcado por unidades de força assimétrica, manteve-se intacto. Mudou o canal de articulação. Os governadores preencheram o espaço antes ocupado pelos interventores na intermediação com a elite estadual em torno das decisões de gastos, sem alterar, no entanto, o caráter regional das negociações e a autonomia desigual dos governadores.
Os estados, fortalecidos, cresceram em termos políticos e financeiros e sustentaram papel estratégico no arranjo federativo. O ganho de arrecadação tributária os favoreceu sem mexer no modelo de relações intergovernamentais e nos mecanismos delineadores da federação. A relação com a esfera federal seguiu os traços tradicionais e com os municípios, mesmo perdendo o direito legal de intervir na escolha dos dirigentes locais, conservou padrão semelhante. Os estados preservaram a tarefa de intermediários nessa articulação por comandarem o poder econômico, elemento chave na definição do arranjo político local. A dependência de acesso a verbas e financiamentos, além de espaços em cargos de nomeação política, continuou a ditar as vinculações dos governadores e dos grupos locais, centrais na composição do arranjo político e no domínio do poder local.
2 O regime militar e o novo arranjo federativo (1964-1988)
O golpe militar de 1964 sinalizou um momento de ruptura e a inauguração de nova etapa do federalismo brasileiro. O corte analítico decorre, em parte, da alteração do regime político e do fato de o centro tomar para si o direito de nomear os governadores e os prefeitos das capitais. Porém, estas condições não implicariam, necessariamente, em outras mudanças do arranjo federativo a ponto de caracterizar o rompimento com a fase anterior. O fator determinante da reestruturação do pacto federativo está na força com que o regime militar alterou elementos basilares da ordem passada.
As novidades envolveram diversas das premissas de sustentação do modelo anterior. O governo federal promoveu a centralização dos recursos tributários e ampliou o domínio sobre fontes financeiras usadas no financiamento de várias áreas. Além disso, alterou as relações com os governos subnacionais por diferentes caminhos. A institucionalização de um sistema de partilha com transferências vinculadas e o uso das instituições de crédito oficiais por meio de empréstimos condicionados permitiram o controle de parcela dos gastos públicos realizados pelos entes subnacionais, que perderam a autonomia até então existente na tomada de decisões. O mesmo ocorreu na gestão tributária com a manipulação federal das alíquotas do principal tributo estadual, o Imposto de Circulação de Mercadorias (ICM). Finalmente, a reconfiguração das relações das estatais federais e suas congêneres estaduais, bem como o uso de incentivos fiscais a fim de ampliar os investimentos no norte, nordeste e centro-oeste afetaram o modelo de articulação entre as esferas de governo e deram lugar a um movimento mais articulado de resposta à questão regional.
O movimento nuclear desse processo foi a concentração de recursos fiscais e financeiros na esfera federal. No plano fiscal, a reforma do sistema tributário elevou a carga tributária e aumentou o peso da União, que saltou de 40,6% em 1966 para 51,6% em 1974, enquanto a dos Estados caiu de 46,3% para 35,2%. A concentração da arrecadação alterou traço marcante do federalismo fiscal brasileiro. Os estados que, desde o início da República, mantiveram (ou expandiram) a participação no valor da receita tributária, perderam pontos na distribuição dos recursos disponíveis e ampliaram a dependência em relação à esfera federal, apesar de a reforma tributária de 1966 seguir a tradição histórica e atribuir a eles o tributo de maior potencial de arrecadação, o ICM, beneficiando as unidades de maior potencial econômico. Por outro lado, várias medidas favoreceram o controle sobre os recursos financeiros. A reestruturação da dívida pública com as Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), o uso das cadernetas de poupança com correção monetária, a criação das poupanças compulsórias (FGTS, PIS-PASEP) e a busca de financiamento no mercado externo (Resolução 63/1967) deram à esfera federal o manuseio de parcela expressiva da poupança financeira. A centralização financeira ganhou contornos finais quando a Lei Complementar n. 12, de novembro de 1971, ampliou a possibilidade de financiamento público ao delegar ao Banco Central o comando sobre a dívida pública e a liberdade de colocação de títulos e de responder pelos encargos decorrentes.
O modelo de atuação federal ganhou nova feição com o domínio dos recursos fiscais e financeiros. A União, apesar de ter sempre posição de destaque no controle da política econômica e da estratégia de desenvolvimento, em nenhum outro momento teve à disposição meios de ação de porte tão expressivo. No campo fiscal, o montante de arrecadação permitiu a criação de ampla gama de fundos, programas, subsídios e incentivos fiscais em favor de áreas estratégicas da política de desenvolvimento, bem como a expansão dos investimentos da administração direta. Na área financeira, os bancos e agências financeiras públicas, com o controle de vasta gama de recursos, puderam atuar no direcionamento de crédito a áreas de interesse e influenciar, como se mostra adiante, os gastos das esferas subnacionais17 17 Ver Lopreato (2013, cap. 2) para a discussão ampliada desses pontos. . No campo empresarial, as estatais, reestruturadas financeiramente com a política de valorização dos preços públicos, colocaram-se na condição de instrumentos da política de desenvolvimento e de responsáveis por elevada parcela dos investimentos públicos.
O controle desse aparato deu outra dimensão ao espaço ocupado pelo governo central na federação brasileira. Não só acumulou parcela expressiva dos gastos públicos como interveio na alocação de despesas de outras esferas de governo. Ou seja, a União reestruturou as relações com os entes subnacionais e pode desenhar a estratégia de crescimento por meio do direcionamento de investimentos a áreas consideradas fundamentais, além de atuar na costura do pacto federativo a partir da negociação de verbas a favor dos interesses regionais.
A barganha por verbas não constituiu novidade. A diferença agora estava no montante de recursos à disposição do centro e nos caminhos por onde se realizavam. A negociação, até então centrada na peça orçamentária, incorporou outros instrumentos e valores inusitados. O domínio sobre as regras de acesso ao dinheiro, associado à dependência de estados e municípios da liberação de verbas, reforçou o papel do centro como lugar privilegiado do pacto de poder, em condições de alterar o modelo de relacionamento intergovernamental e de fazer valer a sua vontade em decisões das esferas subnacionais, bem como usar, no plano da política, a cassação de políticos como meio de renovar a configuração dos arranjos locais.
O figurino oficial questionou a autonomia dos entes subnacionais no trato dos gastos públicos. O sucesso do projeto de crescimento, na visão dominante, dependia da racionalidade dos gastos federais e de dinâmica semelhante dos entes subnacionais. O centro tratou de restringir o livre uso dos recursos por meio da definição de normas estritas de obediência à aplicação do conjunto de verbas negociadas e de repasses federais, a fim de delinear o ritmo e o volume dos gastos dos entes subnacionais e garantir os investimentos nos setores estratégicos da proposta oficial (Rezende, 1982REZENDE, F. Autonomia política e dependência financeira: uma análise das transformações recentes nas relações intergovernamentais e seus reflexos sobre a situação financeira dos Estados. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 489-540, dez. 1982.).
Os caminhos de intervenção multiplicaram-se. O sistema de partilha, alterado em relação ao esquema débil até então existente, criou critérios de distribuição de verbas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) direcionados a atuar como objeto de redistribuição institucional de renda. O FPM favoreceu os municípios de pequeno porte, vistos como os mais pobres, com um volume mínimo de renda. O FPE tratou de compensar parte do potencial de arrecadação do ICM nos estados de maior nível de renda e de responder à questão regional transferindo parcela preponderante da verba às unidades de baixa renda, com a determinação inicial de aplicar, pelo menos, 50% em despesas de capital. Enquanto as outras formas de transferências constitucionais, como os impostos únicos e o salário educação, mantiveram as vinculações a funções e despesas de capital.
A edição do AI-5, ao superar de vez a esperança de volta da democracia, facilitou os cortes e a imposição de normas de como alocar as transferências constitucionais, o que ampliou a concentração da receita tributária e o controle do seu destino no centro. Os repasses dos impostos únicos caíram e permaneceram as vinculações a funções e despesas de capital. Os fundos constitucionais (FPM e FPE) perderam metade dos recursos e os repasses passaram a ser condicionados à aprovação de programas de aplicação com base nas diretrizes e prioridades definitivas no plano federal, além de as unidades serem obrigadas a destinar verbas próprias para completar as despesas realizadas nos programas determinados pela esfera federal18 18 O montante de 10% do IR e do IPI destinados a cada um dos fundos (FPE e FPM) foi reduzido para 5%, enquanto o Decreto Lei n. 838 e o Ato Complementar n. 40, respectivamente, de setembro e dezembro de 1968 definiram os critérios de aplicação. .
A prática afetou, sobretudo, as unidades de baixa renda, mais dependentes de transferências constitucionais e com menor autonomia de gastos. Os estados desenvolvidos, diante da maior participação do ICM no total da receita tributária, tinham maior autonomia de atuação, mas, nem por isso, estavam livres do controle e de terem parcela de seus gastos direcionados desde o centro.
A União usou a manipulação de impostos estaduais e as transferências negociadas, com base em convênios ou fundos e programas vinculados a áreas e projetos específicos, como mecanismos de ingerência e direcionamento dos gastos. Além disso, as agências oficiais de crédito e as autoridades monetárias, por meio do orçamento monetário, ampliaram os empréstimos condicionados via repasses aos bancos estaduais19 19 Os bancos estaduais recebiam os chamados repasses internos de diferentes instituições federais, como o Banco Central, o Banco do Brasil, CEF, BNB e o BNH, usados como meio de alavancar as suas operações de crédito. .
O acesso aos repasses internos e a captação de recursos externos levaram esses agentes a ocuparem lugar de destaque no interior de cada unidade, graças à capacidade de elevarem a oferta de crédito ao Tesouro e às empresas estatais estaduais. As suas ações, associada à colocação de títulos da dívida pública, tornaram-se responsáveis por potencializar o poder de gasto estadual além do que seria possível com base na receita tributária.
A maior participação dos créditos na estrutura de financiamento alargou o horizonte dos entes subnacionais, sem, no entanto, retirar o poder federal de influenciar o destino dos gastos. A União ordenava a liberação dos empréstimos de acordo com as prioridades do plano nacional de desenvolvimento e definia regras de endividamento consistentes com esses propósitos. A presença de dois tipos de operações: os empréstimos intralimites, sujeitos a tetos, e os empréstimos extralimites, aqueles definidos como de interesse nacional, indicava que a prioridade das normas institucionais não era a de restringir o endividamento e sim direcionar os investimentos às áreas preferenciais (Lopreato, 2002LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo: Editora Unesp; IE Unicamp, 2002.).
A articulação das empresas estatais federais com as suas congêneres estaduais também serviu à política de direcionamento dos gastos. A União usou o controle das linhas de crédito e das verbas negociadas como indutor de alterações das estruturas administrativas das unidades subnacionais. O modelo anterior, em que prevaleciam as secretarias e as autarquias e os gastos vinculados aos recursos orçamentários, deu lugar a outro baseado na criação de empresas públicas, que se tornaram, mesmo quando dependentes financeiramente do Tesouro estadual, em unidades responsáveis por parcela preponderante das despesas públicas. A liberdade operacional de que dispunham permitia a busca de empréstimos e a expansão em áreas, em geral, atreladas a modelos específicos de relacionamento com a esfera federal.
As relações intergovernamentais tinham como lugar comum a submissão ao centro. Na formação dos sistemas nacionais (energia e telecomunicações), as empresas federais, no papel de holding, definiam a estrutura de financiamento e a distribuição interna de verbas no interior do sistema, a fim de contemplar as demandas das unidades de menor potencial de acumulação, subordinando, assim, as empresas estaduais às diretrizes federais. As áreas de transporte, saneamento, habitação e urbanização atrelaram o volume de gastos aos repasses da administração direta, mas, sobretudo, ao acesso de linhas de crédito negociadas em agências federais (BNH e CEF). Os órgãos ligados à assistência técnica e extensão rural, por sua vez, estavam subordinados ao centro e definiam as suas ações atreladas aos recursos de origem federal.
O traço nuclear dessa nova etapa do pacto federativo consubstanciou-se no inchaço do centro e no controle das relações União⇔Estados e União⇔Municípios, baseado no arranjo político e, sobretudo, na institucionalização de normas definindo o domínio sobre o volume, o ritmo e o direcionamento dos gastos públicos, variável em cada unidade, de acordo com o potencial tributário, o espaço de colocação de dívida pública, a relevância das instituições financeiras e a força das empresas públicas.
O alcance desses elementos, ao delinear o perfil de cada estado, definiu a liberdade de levar adiante projetos próprios de gastos e a extensão da ascendência federal. A desigualdade regional, embora tenha recebido alguma atenção com o sistema de partilha redistributivo e os benefícios fiscais aos investimentos no Norte e Nordeste, esteve longe de ser superado. Os mecanismos redistributivos não tiveram força de se contrapor à estratégia de desenvolvimento favorável à acumulação concentrada nas regiões avançadas do País e de reverter o caráter assimétrico da federação brasileira.
O protagonismo dos governos estaduais, característico da etapa anterior, perdeu fôlego no novo arranjo federativo. Os estados, debilitados politicamente e presos às decisões econômicas do centro, tornaram-se sombra do que foram. Não obstante, continuaram a ocupar lugar relevante porque preservaram o papel como agentes intermediários, por onde transitavam os recursos das empresas estatais e das instituições de crédito federais. As relações de empresas e bancos estaduais com o Tesouro estadual dinamizavam a capacidade de gastos e fortaleciam a interação dos governadores com os municípios. Os entes locais, sem ganhos na distribuição de recursos tributários, continuaram a depender de recursos e a lutar por lugar privilegiado na distribuição convencional das despesas orçamentárias da administração direta estadual, além de barganharem com os governadores os empréstimos das instituições financeiras e os favores na alocação dos gastos das empresas públicas.
Os governadores, como responsáveis por darem aval aos acessos a empréstimos e aos gastos controlados por eles, colocavam-se em posição de força e usavam os interesses municipais como moeda de troca na definição das relações com os prefeitos. Na disputa por espaço, contava a favor do prefeito a militância no mesmo partido e o apoio político, situando o mandatário estadual em posição hierárquica superior na busca por alianças, necessárias para se cacifar diante do poder federal, responsável, na ausência de eleições diretas, pelas indicações a cargos políticos.
Os estados, neste jogo de poder, continuaram atuantes nas ações conjuntas de políticas públicas e na distribuição de gastos e de empréstimos aos agentes locais. O esquema da estrutura federativa, anunciado na Figura 1, continuou em vigor, apesar de reconfigurado. A União ganhou força que não se resume simplesmente ao aumento do poder de regulação de momentos anteriores. Além do poder político, definido pelo regime autoritário, a esfera federal delineou a estratégia de desenvolvimento e usou o controle de recursos fiscais e financeiros, as transferências, a atuação das empresas estatais, a manipulação das alíquotas dos tributos e o condicionamento dos gastos como meios de direcionar os investimentos dos governos subnacionais às áreas de interesse do plano de ação. Os estados, por sua vez, enfraquecidos e deslocados da primazia ocupada na etapa anterior, tornaram-se presos às determinações da esfera federal, sem deixarem de cumprir a tarefa de agentes intermediários na estrutura federativa e de elos de articulação com os municípios. Os entes locais ganharam algum espaço de atuação, mas, dependentes de acesso a crédito e de gastos controlados pelos governadores, sustentaram laços fortes e continuaram presos aos estados.
3 O fim do regime militar e a construção de novas bases do federalismo brasileiro
O fim do regime militar não trouxe alterações imediatas. O governo civil, prisioneiro da situação econômica, não teve condições de enfrentar a crise fiscal e de redesenhar o pacto federativo. A ordem herdada manteve-se praticamente intacta. A novidade ficou por conta da ascensão política dos governadores que, eleitos pelo voto popular, ganharam poder de barganha na interlocução política e se valeram da fragilidade do centro para se tornarem protagonistas e resistirem às medidas contrárias aos seus interesses (Abrucio, 1998ABRUCIO, F. L. Os Barões da Federação. Os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo: Ed. Hucitec/Departamento Ciências Sociais USP, 1998.).
Os dirigentes, com liberdade de ação, usaram o entrelaçamento do Tesouro, empresas e bancos estaduais como meio de evitarem cortes de despesas e sustentarem os gastos em áreas vitais, mesmo em condições de crescente fragilidade financeira. O governo central, preso ao esforço de ajuste fiscal, tratou de restringir o endividamento nos momentos em que o risco de hiperinflação aberta e a ameaça à governabilidade pareciam fugir ao controle, para, em seguida, ser obrigado a se dobrar às pressões e a relaxar as medidas em busca de apoio político dos governadores, necessário à sustentação do jogo de poder.
O esforço em controlar as contas públicas transformou-se em jogo de empurra, sem vencedores, em que ora a União impunha medidas restritivas ora os estados forçavam a renegociação das dívidas da administração direta e das empresas estatais, bem como o socorro financeiro aos bancos estaduais (Lopreato, 2002LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo: Editora Unesp; IE Unicamp, 2002.).
A crise fiscal, envolvendo as três esferas de governo, acirrou os conflitos federativos e dificultou o encontro de soluções consensuais. A obrigação de pagar os juros da dívida externa, ao alongar a crise fiscal, limitava a possibilidade de respostas duradouras e tornava usual a alternância de situações, em que os entes, medindo forças, lutavam para manter os seus espaços de atuação em condições financeiras precárias.
O conflito refletia a complexidade do momento: ao mesmo tempo em que se estabeleceu uma disputa em torno do ajuste fiscal, criou-se uma relação de dependência mútua entre os entes federativos. Os estados e municípios dependiam de socorro financeiro, como único meio de enfrentarem as dificuldades não resolvidas no interior das unidades, enquanto a União dependia do apoio dos dirigentes e da construção da base política no Congresso, a fim de levar a termo o governo.
O quadro tornou-se instável, com avanços e recuos, típicos de momentos em que o balanço de forças limita a adoção de medidas unilaterais categóricas. A instabilidade e a falta de consenso provocaram certa paralisia. O protagonismo dos governadores, mesmo diante dos sinais de perda de funcionalidade do arranjo federativo, não se revelou capaz de alterar a situação, que se arrastou até a CF88.
3.1 A construção do novo arranjo federativo
A revisão do pacto federativo teve início na CF88. A nova correlação de forças, resultado das eleições diretas e da posição dos governadores no ordenamento político, cobrava o balanceamento da federação, com a redução dos espaços ocupados pela União e a retomada das prerrogativas de estados e municípios.
A CF88 proibiu a União de intervir nos tributos das outras esferas de governo e de condicionar as transferências constitucionais. Além disso, elevou a participação de estados e municípios na receita tributária, por meio do aumento dos valores distribuídos ao FPE e ao FPM e da incorporação dos antigos impostos únicos (energia, combustíveis, minerais e telecomunicações) e os serviços de transporte na base do ICM, criando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passou a distribuir aos governos locais 25%, ao invés de 20%, da arrecadação. A norma constitucional buscou ainda a descentralização dos gastos de saúde e educação na tentativa de reverter a concentração das atividades na esfera federal. Finalmente, ampliou os direitos sociais dos cidadãos em resposta à questão de desigualdade de renda, negligenciada na era militar.
O desenho constitucional atendeu a dois dos principais problemas em debate: a necessidade de suprir a ausência do estado de bem-estar social e de reequilibrar a federação, restituindo aos entes subnacionais parte da receita tributária e os direitos usurpados em anos anteriores. O esforço, no entanto, não veio acompanhado da definição da arquitetura institucional e da delimitação dos direitos e encargos de cada esfera de governo, essenciais à escolha do modelo de gestão das políticas sociais e do formato das relações intergovernamentais.
A situação em aberto gerou impasses e instigou o enfrentamento entre as partes. A União, presa à proposta de ajuste fiscal, questionou a distribuição de receitas e a ampliação dos encargos definidos na CF88 e abriu como frente de luta a revisão das regras estabelecidas. O uso do direito constitucional que dá à autoridade federal a iniciativa legislativa e a prerrogativa legal de regular as diversas áreas, mesmo quando as normas interferem nos interesses dos entes subnacionais, serviu ao centro como instrumento para negar a proposta constitucional e iniciar um movimento ad hoc de redesenho das relações intergovernamentais (Arretche, 2012ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; Editora Fiocruz, 2012.).
As propostas da CF88 e as ações reativas da esfera federal deram lugar a um período de transição, em que ocorreu o afastamento progressivo do modelo do regime militar, sem definir, de imediato, outra configuração do arranjo federativo.
A repartição tributária, a distribuição dos encargos e o modelo de relações intergovernamentais continuaram como questões em aberto. Os estados e municípios, apesar dos ganhos tributários, viram se agravar o processo de fragilização financeira e perderam espaços na correlação de forças20 20 A crise dos governos subnacionais agravou-se nos primeiros anos da década de 1990 com a rolagem integral da dívida pública (juros + principal) a taxas de juros elevadas, a recessão no governo Collor, a proibição da contratação de novos empréstimos, o agravamento da situação dos bancos estaduais e a queda da inflação com o Plano Real (Lopreato, 2002). . . A dependência do socorro federal, associada à fragmentação política e a incapacidade de pactuar medidas de defesa de seus interesses, deixou-os na posição de reféns, a reboque das iniciativas federais e sem condições de fazer frente ao novo projeto de federação em curso.
O redesenho do arranjo federativo, iniciado na CF88, só veio a ganhar traços permanentes no governo de FHC. O sucesso do Plano Real consolidou a força política do presidente e garantiu as condições de montagem da base parlamentar necessária à aprovação das normas legais exigidas na reformulação do projeto de desenvolvimento e do novo delineamento da federação.
As reformas do governo FHC deram outra configuração à estrutura federativa. A novidade está na gestação de um modelo que se afastou da disposição e das características dominantes em etapas anteriores do federalismo brasileiro e assumiu como elementos delineadores de sua nova representação a descentralização das políticas públicas e conexão federal direta com os municípios (Figura 2)21 21 Sergio Prado (2013) a denomina de federação trinária. .
A nova configuração federativa, indicando afastamento de elementos constitutivos de arranjos anteriores, sustentou-se em três pilares básicos: i) a descentralização das políticas públicas; ii) o aumento da concentração de poder na esfera federal e o controle das estruturas dos programas de gastos e do modelo de execução das políticas públicas pelos entes subnacionais e iii) a perda de relevância do papel dos estados na federação brasileira e o avanço dos municípios.
O modelo não surgiu dos acordos negociados na CF88. A proposta constitucional defendia a descentralização, com maior participação dos entes subnacionais na receita tributária e autonomia na gestão dos gastos. Todavia, a atribuição ao centro de amplo poder jurisdicional e a dificuldade de os entes subnacionais vetarem as normas contrárias a seus interesses22 22 Como colocou Arretche (2012, p. 36) “Os formuladores da Constituição de 88 criaram um modelo de Estado federativo que combina ampla autoridade jurisdicional à União com limitadas oportunidades institucionais de vetos aos governos subnacionais.” deram à esfera federal condições de aproveitar a situação financeira e a fragmentação política das forças estaduais e usar o primado da iniciativa legislativa com o objetivo de editar normas em diferentes áreas (tributária, social, político-administrativa, reforma do Estado) e redesenhar a estrutura delineada em 1988 (Abrucio, 2005ABRUCIO, F. L. A Coordenação Federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 24, p. 41-67, jun. 2005. ).
A revisão da distribuição da receita tributária negou um dos pilares do ideário da CF88. O governo central usou a prerrogativa de financiar os gastos sociais com a criação de contribuições sociais (Gráfico 3), não partilhada com as outras esferas, para reverter a queda inicial e sustentar nível estável de receita tributária disponível no período seguinte (Gráficos 4 e 5).
Além disso, o programa de ajuste fiscal serviu de mote à adoção de medidas adicionais contrárias à proposta da CF88. A aprovação do Fundo Social de Emergência (FSE), rebatizado de Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) e depois de Desvinculação de Receitas da União (DRU), levou à retenção de parte das transferências constitucionais dos entes subnacionais e à desvinculação de parcela das receitas direcionadas a gastos específicos, ampliando o controle e o poder de manipulação federal da receita fiscal, em detrimento das outras esferas de governo.
A revisão da distribuição da receita tributária afetou, sobretudo, os estados. O ganho de receita alcançado em 1988 logo se perdeu e esses entes perderam participação na distribuição da receita tributária disponível, enquanto os municípios, de forma inédita, assumiram posição de maior destaque.
A expansão da agenda liberal e o abandono das políticas de caráter regional deixaram em aberto a disputa entre entes de poder econômico assimétrico por novos investimentos. A falta de mecanismos institucionais de combate às disparidades e o caráter competitivo do desenvolvimento regional alçaram a guerra fiscal à situação de (quase) única alternativa. O esforço em atrair recursos e elevar a arrecadação, acabou por ampliar o montante de gastos tributários e afetar o potencial de arrecadação do ICMS, com reflexo no poder financeiro estadual.
O redesenho da proposta de federação idealizada em 1988 ganhou novas cores com o avanço da União no controle da questão fiscal e na definição de encargos e de arranjos na estruturação das políticas públicas. O seu poder jurisdicional deu a base necessária à concentração do poder da esfera federal, com a edição de um conjunto de normas legais responsáveis pela regulação do modelo de atuação de várias áreas23 23 Cabe lembrar, entre outras, as normas: de restrição à criação de municípios (EC n. 15); a imposição de limites de gastos dos legislativos (EC n. 25); a reforma previdenciária (EC n. 20); a aprovação do Fundef (EC n. 14); a fixação de gastos na saúde (EC n.29); a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (EC n. 31) e as regras de gestão do SUS. .
O processo obedeceu a uma dupla démarche. De um lado, a configuração anterior mudou com a crescente descentralização dos gastos com políticas públicas. O movimento, iniciado de forma caótica na operação desmonte, transformou-se em política deliberada de alteração da estrutura institucional do federalismo brasileiro. A centralização do regime militar deu lugar à transferência das políticas públicas aos governos subnacionais, com relevante peso dos municípios, acompanhada do aumento dos recursos federais no atendimento dos vários programas. De outro, o deslocamento das políticas públicas e o repasse de recursos federais ocorreram em condições particulares, com o centro assumindo a tarefa de definir os programas, fixar as normas de gestão e de aplicação financeira, enquanto os entes subnacionais, em busca das verbas prometidas, aceitaram participar e se obrigaram a direcionar parte dos recursos próprios como contrapartida dos repasses federais24 24 Para a análise do processo de descentralização das políticas públicas veja, entre outros, os trabalhos de Arretche (2012; 2005) .
A descentralização, idealizada em nome da equidade federativa, percorreu outro caminho. O domínio federal foi além do esperado no retorno à democracia. Os diferentes programas de gastos subordinaram-se aos preceitos definidos no centro e os governos subnacionais perderam autonomia na condução de política própria, sobretudo, os municípios, transformados em caudatários, dependentes, mesmo que em diferentes graus, das condições de articulação com a esfera federal25 25 Serralha (2018) discute a perda de autonomia das capitais brasileiras na definição de programas de gastos e na alocação de receitas próprias. .
A outra face da centralização do poder ocorreu na gestão das finanças públicas. O governo FHC, com o sucesso do Plano Real e a fragilização dos entes subnacionais, desfrutou de correlação de forças favorável para levar adiante o projeto político liberal e adequar o regime fiscal brasileiro às diretrizes determinadas pela visão macroeconômica convencional (Lopreato, 2013LOPREATO, F. L. C. Caminhos da política fiscal do Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2013., cap. 1).
A renegociação das dívidas (Lei n. 9496/1997) definiu normas, consistentes com a visão do hard budged constraint, que levaram à União a arbitrar o comportamento das finanças públicas e a impor políticas de ajuste como norma de conduta fiscal dos entes subnacionais. A União abandonou a prática de garantir apoio financeiro sem exigir contrapartidas, presente em renegociações passadas, e passou a cobrar a geração de superávits primários no valor necessário à cobertura do montante de juros e amortização e à redução gradual da relação entre a dívida e a receita fiscal.
A norma legal foi além do movimento tradicional de ajustar o serviço da dívida ao fluxo das receitas. Usou a diferenciação de juros (6%, 7,5% ou 9%), no caso de os entes amortizarem parte (20%, 10% ou nada) do valor negociado à vista, como instrumento de reforma patrimonial. A aceleração das privatizações das empresas e bancos estaduais – estes no bojo do programa federal de reestruturação bancária (PROES) – alteraram, duplamente, a organização administrativa e o modelo de atuação dos governos estaduais (Lopreato, 2013LOPREATO, F. L. C. Caminhos da política fiscal do Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2013., cap. 4).
A privatização das empresas estatais e, consequentemente, o fim das articulações entre as unidades federais e as congêneres estaduais, eliminou um dos tradicionais elos de barganha política usados no manejo do pacto federativo. Os governadores, nas relações com o centro, negociavam o acesso aos investimentos das estatais federais e usavam como moeda de troca o apoio às ações do governo e à formação de maioria no Congresso. Por outro lado, o controle dos gastos das estatais, associado aos empréstimos dos bancos estaduais, colocava em suas mãos poderoso instrumento usado na costura política com os prefeitos e outros interesses do poder local.
Além disso, as privatizações afetaram as articulações no interior dos próprios estados. A perda de empresas e bancos reconfigurou as práticas administrativas e financeiras estaduais ao eliminar as conexões entre Tesouros, empresas e bancos estaduais. A possibilidade até então presente de alavancar os gastos acima do limite definido pelo caixa do Tesouro deixou de existir. Os governadores, sem contar com os recursos das empresas e o apoio dos bancos estaduais e sem poder recorrer a operações de crédito enquanto o estado não se enquadrasse nos parâmetros fixados no acordo de renegociação da dívida, perderam a capacidade de ampliarem os gastos correntes e de investimentos, já que o campo possível de atuação ficou restrito ao espaço delineado pelo orçamento fiscal.
A aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101/2000) tornou a regulação federal perene e consolidou o novo regime fiscal. O conjunto de regras enquadrou as finanças de estados e municípios à lógica de ajuste traçada no centro. Os memorandos técnicos de entendimento, acordados com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), ao determinarem metas fiscais periódicas e normas de gestão orçamentária, cortaram graus de autonomia dos entes subnacionais e os tornaram reféns da negociação de condições específicas.
Os estados, em particular, envoltos pela crise fiscal, deixaram para trás o período de retomada do poder político na volta da democracia e, sem condições de sustentarem os seus espaços de atuação, perderam expressão na configuração do arranjo federativo. O medíocre comportamento econômico, refletido no baixo dinamismo do ICMS, a perda de arrecadação por conta da guerra fiscal e as restrições de acesso a crédito, ao lado da obrigação de gerar os superávits primários exigidos no pagamento do serviço da dívida, restringiram os programas de expansão de gastos e geraram as políticas de ajuste fiscal.
Os anos de crescimento moderado do governo Lula deram algum fôlego aos estados. O momento favorável abriu algumas frentes de investimentos, sem alterar o campo de ação, o alcance político dos governadores ou a lógica de inserção estadual na estrutura federativa.
O novo formato da estrutura federativa realçou a força da União, com funções ampliadas, em que aliou o poder tradicional de comando da política econômica e da estratégia de desenvolvimento, ao relacionamento direto com os estados e municípios e às novas funções de regulação na área fiscal e no campo das políticas públicas (Figura 2).
A centralização das diretrizes observadas nas diferentes áreas ganhou espaço inusitado com o comando das normas de conduta fiscal e de gestão das políticas públicas. Em questões de ordem fiscal, a STN tornou-se a interlocutora principal, gestora do programa de ajuste e das normas de acesso a crédito. Nas políticas públicas, a esfera federal usou os ministérios e outros órgãos para a realização de convênios, repasses de recursos e edição de normas diretivas, de modo a definir o modelo de gestão de programas e de aplicação dos recursos financeiros.
O modelo atual deixou para trás as características do tempo de arbítrio do regime militar e os anos de apogeu da liderança estadual, dando lugar ao que se pode chamar de um federalismo centralizado, onde prevalece a posição federal de ditar a conduta nas diferentes áreas, além de mudanças no modo de atuação de estados e municípios.
Os governos estaduais, sem as condições vigentes que os colocavam em posição privilegiada anteriormente, perderam espaços na interlocução com os entes locais e na mediação do jogo das relações intergovernamentais.
A inflexão do poder estadual ganhou corpo nos anos 90. Os barões da federação, como chamou Abrucio (1998)ABRUCIO, F. L. Os Barões da Federação. Os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo: Ed. Hucitec/Departamento Ciências Sociais USP, 1998., não sustentaram o desempenho passado e, gradativamente, apresentaram queda de relevância. A falta de soluções próprias no enfrentamento da crise fiscal e o custo financeiro explosivo da rolagem integral da dívida (principal e juros) comprometeram o quadro financeiro estadual e, fragmentados, não lograram um acordo de encaminhamento da dívida pública e de revisão do pacto nacional. A ausência de posições acordadas levou ao arbítrio e a centralização das decisões, com os estados relegados à posição de reféns das deliberações federais (Lopreato, 2000LOPREATO, F. L. C. O endividamento dos governos estaduais nos anos 90. Economia e Sociedade, Campinas, Instituto de Economia, Unicamp, v. 15, p. 117-158, dez. 2000.).
As reformas do governo FHC e as condições de renegociação da dívida pública sacramentaram a retração do protagonismo estadual, manifesta por diferentes canais: Primeiro, a perda das empresas e bancos estaduais, além da intermediação das ações federais, restringiu os instrumentos e o alcance de suas atuações. Segundo, a capacidade financeira e o poder de alavancar gastos perderam-se, em razão do medíocre comportamento do ICMS e do FPE, aliado aos custos da guerra fiscal e da dívida pública. Terceiro, a falta de fôlego financeiro deixou os governadores com poucas condições de responder às reivindicações e de costurar as alianças com o setor privado.
Além disso, as dificuldades comprometeram a interlocução com os prefeitos, essenciais no desenho de alianças políticas. Os dirigentes locais, cientes de que tinham pouco a ganhar, colocaram em plano secundário o modelo anterior de articulação com os estados porque a aliança com os governadores deixou de ter centralidade na reprodução do poder político e no sucesso da administração local. Finalmente, os estados, fragmentados e sem vigor na negociação de alternativas, cederam campo na interlocução nacional e tornaram-se subalternos aos ditames do governo federal.
A queda do protagonismo estadual contrariou a tradição federalista brasileira baseada na força da política regional e dos governadores. Não obstante, os estados, mesmo que em outros termos, importam e cumprem tarefas relevantes no arranjo federativo (Silva, 2020SILVA, A. L. N. da. Os estados importam! Determinantes da cooperação subnacional nas políticas de educação e saúde do Brasil. Tese (Doutorado)–Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2020.). No modelo presente, em que prevalece o controle federal e a descentralização das políticas públicas, com perda de autonomia das unidades executoras, os governos estaduais diferenciam-se cada vez mais pelas condições atreladas à capacidade de coordenar, de dar suporte técnico e financeiro, de colaborar na realização de políticas e ser o interlocutor privilegiado da esfera federal. A diversidade de situações reflete, em grande parte, a condição financeira, técnica e organizacional de cada estado e o tipo de relações estabelecidas com os diferentes municípios, capazes de fazer a diferença na prestação de políticas públicas.
Os municípios, por sua vez, ganharam dimensão inusitada e os prefeitos reposicionaram-se no jogo político. Eles se afastaram da situação anterior em que predominava o atrelamento aos interesses dos governadores e a dependência de repasses, empréstimos, gastos de empresas estaduais e nomeação de correligionários, necessários à sustentação da administração local e dos projetos pessoais dos dirigentes. O menor alcance da atuação estadual levou ao afrouxamento dos elos econômicos e políticos com os governadores. O espaço acabou ocupado pela articulação direta com o centro, mais atuante no atendimento das demandas municipais e o responsável principal pelo repasse de verbas, assinatura de convênios e definição de programas de atendimento das demandas dos cidadãos, determinantes do sucesso do projeto político local.
O aumento de participação na receita tributária final disponível (ver Gráficos 4 e 5) e o estreitamento dos laços com a esfera federal, levaram os municípios a expandirem a oferta de serviços em diferentes áreas (saúde, educação, políticas sociais, habitação) e a presença na execução de políticas públicas, simultaneamente à colocação dos prefeitos como atores políticos no cenário nacional. Entretanto, a força inusitada dos governos locais na federação brasileira tem, em contradição, a expansão de normas limitantes à autonomia de realização das tarefas e da dependência de convênios e do valor de repasses, além da obediência às regras emanadas do centro.
Enfim, o novo modelo federativo mudou a composição das relações intergovernamentais e, como bem colocou Tavares de Almeida (2005)TAVARES DE ALMEIDA, M. H. Recentralizando a Federação. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, 24, p. 29-40, jun. 2005., as questões envolvidas dificilmente podem ser definidas em termos simples, que tomam por base a dicotomia centralizada x descentralizada, já que são um arranjo complexo, de tendências que interagem de formas distintas e produzem resultados variados.
4 Considerações finais: os desafios da questão federativa
A análise até aqui discutiu a evolução do arranjo federativo brasileiro. As medidas da CF88 e do governo FHC promoveram a última grande mudança da ordem federativa e, desde então, alterações pontuais não delinearam o limiar de outra fase. Os traços gerais mantiveram-se e o sistema reproduziu velhas questões, alimentou conflitos, ora abertos ora latentes, sem força de romper o notório imobilismo e mudar.
O propósito neste tópico, com nível de abstração menor, é abordar entraves e desafios da ordem federativa, além de indicar medidas buscando rever a situação presente.
A dificuldade de mudar não está geralmente em reconhecer os problemas e sim em alcançar o consenso mínimo exigido na adoção de novos caminhos; sobretudo, em uma sociedade como a brasileira, com ampla diversidade econômica e social, em que a realização de acordos é complexa e esbarra no obstáculo de conciliar o coletivo, com os desejos particulares, setoriais e regionais.
A paralisia provoca tensões, amenizadas em momentos de crescimento, como no governo Lula, em que a expansão tributária acomodou interesses e permitiu atender demandas dos entes subnacionais. O alívio nas contas públicas, ao contornar as restrições fiscais dos primeiros anos pós-renegociação das dívidas, descortinou a possibilidade de avanços. O revigorar de estados e municípios, a ascensão da renda nacional e a queda das disparidades regionais, resultantes da expansão econômica, facilitaram as negociações e a adequação de prioridades, sem traumas e sem reformas. O sonho logo se desfez. A crise e a contração da receita tributária, desde 2014, recolocaram em cena as disputas federativas, envolvendo a repartição da renda disponível, as disparidades regionais e os problemas fiscais dos entes subnacionais, revelando, mais uma vez, os entraves em alcançar metas comuns e resolver problemas.
A disparidade regional, negligenciada na fase liberal, voltou a chamar a atenção. As alterações da inserção brasileira no mercado internacional, com o avanço do centro oeste e a diferenciação de centros urbanos transformados em polos de concentração de riqueza, mexeram na realidade brasileira. As alterações do peso relativo das regiões e a recomposição territorial de estados e municípios reclamam um olhar diferenciado sobre o problema regional, com novas políticas de desenvolvimento e de transferências tributárias. Porém, a institucionalidade não se adaptou à nova realidade. Nos anos de políticas liberais, a questão não se colocou no radar e, nos demais, não se adotaram medidas efetivas capazes de alterar esse quadro. Não se mexeu no sistema de partilha nem no sistema tributário. O modelo de transferências continuou fortemente atrelado aos fundos constitucionais e a índices praticamente fixos, enquanto que não avançou a reforma do ICMS, com impacto direto na distribuição regional de renda.
Os atuais mecanismos de distribuição regional de renda, há muito considerados ineptos em lidar com os desequilíbrios federativos, passaram ao largo das transformações recentes e reclamam alterações urgentes. O FPE, apesar de ter mexido nos critérios de distribuição em 2013, continuou a ser um instrumento rígido26 26 O congelamento dos índices de rateio definido na LC 62 de 1989 só foi alterado, por meio da LC n. 143 de 2013, após o STF considerar inconstitucional a legislação então vigente e tratou de mudar para deixar tudo como antes, uma vez que as mudanças só terão algum resultado em um prazo muito longo, graças às regras de transição adotadas. e incapaz de responder aos desafios presentes. O seu caráter distributivo não é suficiente para enfrentar as alterações da dinâmica regional nem o desigual desenvolvimento das unidades. O esvaziamento parcial do FPE afetou os estados de menor renda e a aplicação de critérios de distribuição não integrados às outras partes do sistema de transferências elevou a dispersão das receitas per capita dos entes27 27 O trabalho de Prado (2013) descreve exaustivamente o sistema de partilha e suas implicações .
O FPM, por sua vez, preservou critérios de distribuição semelhantes aos da reforma de 1966 e continuou a validar a falsa relação entre pobreza e tamanho do município. O fato de a distribuição dos recursos tomar por base o critério populacional beneficia os municípios de pequeno porte e penaliza os maiores, sobretudo as capitais, que enfrentam dificuldades de gestão dos serviços metropolitanos por concentrarem parcela expressiva da população de cada estado (Resende, 2006).
Além disso, o método de repartição, ao não levar em conta os outros elementos da receita potencial do governo local (nível de atividade econômica, transferências do ICMS e royalties do petróleo), reforça o quadro de desequilíbrio de renda. Os municípios pouco populosos, com expressiva atividade econômica ou acesso a outras formas de transferências, recebem alto valor de receita tributária per capita em comparação às unidades com população elevada e baixa densidade econômica, criando diferenças significativas de gasto per capita e cidadãos de primeira ou segunda linha de acordo com o local de moradia.
O uso do critério populacional justificava-se na reforma de 1966, por ser a fonte confiável de informação à época. Atualmente, não é aceitável manter condições semelhantes, pois se sabe que a disparidade de renda municipal é um problema presente no âmbito nacional, no interior dos estados e das regiões metropolitanas e existem condições de aperfeiçoar o sistema (Prado, 2013PRADO, S. Cinco ensaios sobre federalismo e federação brasileira. Tese (Livre-Docência)–Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2013., cap. 4)28 28 É interessante notar que, em termos nacionais, a repartição do FPM privilegia MG e RS, estados com elevado número de municípios de baixa população. O instrumento vai contra o retrato da distribuição regional de renda e amplia as disparidades de municípios de diferentes regiões por se ater a regras de repasses do fundo atreladas apenas ao tamanho da população. .
Os critérios atuais dos fundos constitucionais atrelam o volume de recursos à situação específica de cada unidade, conforme o momento, e de forma independente. Ou seja, a distribuição dos recursos, como bem colocou Prado (2013, cap. 4)PRADO, S. Cinco ensaios sobre federalismo e federação brasileira. Tese (Livre-Docência)–Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2013., transformou-se no resultado aleatório de uma somatória de transferências definidas por critérios próprios, reguladas por normas isoladas, desconsiderando outras transferências, e modificadas sem levar em conta o conjunto.
Tem-se então que o atual sistema de partilha é inadequado para enfrentar as disparidades de renda. A reforma do arranjo federativo requer mudanças, integradas, dos sistemas tributário e de partilha. Todavia, a questão não recebeu atenção até o momento e não há sinais de que mecanismos dinâmicos de equalização fiscal, similares aos adotados, por exemplo, na Alemanha e Austrália, tornem-se objeto de discussão e favoreçam a redução dos desequilíbrios de renda pública per capita.
A inaptidão do sistema de partilha e a falta de políticas de desenvolvimento regional, associada à fragmentação estadual, provocam conflitos latentes ou escancarados, travestidos de buscas de ganhos tributários, em que o uso da guerra fiscal colocou-se como instrumento básico de acesso a investimentos e de melhor arrecadação.
O reconhecimento dos problemas não foi suficiente para romper o imobilismo. As sugestões de reforma tributária, quando ocorreram, não tiveram como ponto de partida a discussão do modelo de federação desejável. As propostas, no trato da distribuição horizontal da receita tributária, tomaram o status quo como dado e visaram causar o menor impacto possível. A defesa da redistribuição, mesmo considerando o longo prazo, é quase um tabu, aceita só quando se trata de abocanhar parte da receita federal29 29 A LC n. 143/2013, revisora dos critérios de distribuição do FPE, em resposta à exigência do STF, é um exemplo dessa posição. A lei manteve, em essência, condição semelhante à anterior e não buscou atacar as distorções da distribuição interestadual da receita tributária per capita. . Na ausência de espaços de coordenação federativo, as disputas ocorrem, em geral, como reações individuais e desordenadas, em que a falta de consenso, graças à fragmentação de interesses, inviabiliza as mudanças.
As propostas de reformar o ICMS e acabar com a guerra fiscal colocaram em confronto a questão federativa e o direito de os estados manipularem as alíquotas do imposto. A disposição de cobrar o tributo no destino emperrou diante da incerteza dos resultados da reforma e do risco de o estado, sem medidas compensatórias, perder o seu instrumento de política de desenvolvimento. A falta de acordo sobre a questão regional e os rumos da federação constitui-se em entrave à alteração do ICMS. O risco de os estados, sobretudo os de menor renda, perderem a autonomia de comandar políticas próprias de atração de investimentos sem algo em troca e a ameaça de que a cobrança do tributo no destino provocará queda da receita tributária em outros paralisaram o processo.
O malogro em reformar o ICMS tem reflexo direto na dinâmica federativa. Na avaliação de Afonso et.al. (2019)AFONSO, J. R.; CASTRO, K. P. Carga Tributaria Brasileña en perspectiva histórica. Estadísticas Revisadas. Revista de Administración Tributaria, n. 45, Sept. 2019., o menor peso do tributo na carga tributária e no PIB é fator determinante da queda da participação estadual na distribuição da receita tributária. O atual modelo do ICMS não parece capaz de acompanhar as recentes transformações econômicas, uma vez que a sua base de arrecadação concentra-se fortemente na indústria de transformação e a economia cada vez mais se baseia em serviços. A retração só não foi maior em razão de o tributo incorporar os antigos impostos únicos sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações, responsáveis por elevada parcela da arrecadação estadual.
A perda de potencial de arrecadação e a necessidade de conter a deterioração da capacidade tributária levaram os estados a buscarem alternativas não negociadas de receitas e agregarem disfunções ao sistema tributário. A superexploração dos antigos impostos únicos elevou a tributação de insumos essenciais e de uso geral na economia, com implicações no custo de atividades econômicas. O uso desordenado da substituição tributária (ST) trouxe graves distorções. As operações internas e interestaduais ganharam complexidade, cresceu o custo operacional das empresas trabalhando com regimes distintos e gerou conflitos, elevando o volume de demandas judiciais, a ponto de o STF ser forçado a intervir e arbitrar as pendências30 30 O STF interveio e determinou a devolução do tributo no caso de existir diferença entre a que de fato ocorreu e a arrecadação arbitrada segundo o método de ST. .
A reforma tributária tornou-se matéria essencial diante do acúmulo de distorções do atual sistema. O difícil é delinear a linha demarcatória entre o sistema tributário e os problemas federativos. A imbricação dos dois campos leva a que mudanças nos tributos interfiram na lógica federativa. Sem aprofundar essa discussão, a solução tributária não avança. A tentativa de simplificar o problema, altamente complexo, levou os governos, desde FHC, a deixar de lado o debate do pacto federativo e a assumir o compromisso de não haver alteração da distribuição funcional da renda, restringindo as mudanças à reformulação da tributação sobre bens e serviços e à simplificação da estrutura tributária.
O escopo limitado da reforma, visto como facilitador do debate, teve efeito contrário. A falta de um projeto de federação e dos sinais de como devem caminhar vários pontos da questão tributária dificulta conhecer a distribuição dos recursos, o potencial de arrecadação, a repartição do ônus tributário e o espaço a ser ocupado pelos estados e municípios. As discussões, presas às dúvidas sobre a cobrança no destino, acabaram restritas ao embate entre estados perdedores x ganhadores e deixaram de lado a questão do arranjo federativo. O governo buscou garantir que os estados não perderiam receita tributária, mas, sem ter clara a evolução de outros pontos, a incerteza acabou por paralisar a reforma31 31 O texto de Orair e Gobetti (2019) faz uma ótima análise da atual proposta de reforma tributária, mostra os efeitos federativos e os mecanismos propostos de transição, envolvendo longo período, a fim de reproduzir a atual distribuição de receita tributária. .
A federação, com os seus múltiplos problemas, demanda uma visão abrangente e a reforma, necessariamente, envolve diferentes dimensões: as disparidades regionais, a distribuição vertical e horizontal da receita tributária, em que se destaca a questão da equalização fiscal, e a redução da regressividade do sistema tributário. Alterações desse vulto requerem mudanças do sistema tributário e o de partilha, com reflexos nos impostos sobre bens e serviços e sobre o patrimônio e a renda, de pessoas físicas e jurídicas, além de revisões dos critérios de distribuição dos fundos constitucionais. Isto implica em enfrentar o desafio de não limitar o alcance da reforma à busca imediata da eficiência econômica e atentar aos problemas das desigualdades pessoal e regional de renda, aliado à revisão do arranjo federativo.
A solução é complexa. Não existe varinha de condão em condições de resolver o problema sem um debate longo e maduro, principalmente, em um país onde o sentido de cooperação federativo é praticamente nulo e, diante de carências sempre presentes, ninguém se vê em condição de ceder nada. A dimensão do desafio gera a incredulidade no sucesso, mas, vale lembrar, a reforma tributária restrita aos tributos sobre bens e serviços é igualmente desafiadora.
A alternativa de realizar uma reforma geral coloca a chance de trabalhar com o valor da receita disponível de cada ente, arrecadação própria e transferências, o que facilita a construção de mecanismos de compensação das distorções da repartição da receita e da regressividade do sistema tributário, de modo a se buscar, no tempo, a aproximação das receitas per capita.
O desafio maior está em saber se, como nação, existe o desejo de combater as desigualdades. Em um país de herança escravocrata, em tempos de neoliberalismo, a inabilidade de negociar mudanças, de firmar acordos e de os vencedores cederem parte pequena de seus ganhos talvez reflita a situação confortável dos formuladores das regras desse jogo.
A incapacidade de avançar soluções gerais, associada ao imobilismo sempre presente, levou o embate a se concentrar em questões pontuais, todas relevantes e antigas, transformadas em matérias urgentes, parciais e recorrentes, necessárias diante da crise das finanças públicas. As medidas adotadas, descoladas de modelo próprio de federação, consistiram em proposições de ocasião, abertas a conflitos e sujeitas a revisões ao sabor da conjuntura.
O movimento centrado, inicialmente, na repartição vertical da receita tributária, voltou-se à luta para conter a queda da arrecadação dos governos subnacionais, abrindo diferentes flancos de disputa. Os municípios saíram à frente: depois de obterem 1 p.p. de aumento do FPM em 2007 (EC55) ganharam outro ponto adicional em 2014 (EC 84), elevando a participação do fundo constitucional a 24,5% do IR e IPI. Os estados, por sua vez, abriram duas frentes de luta, com reflexo na repartição horizontal e vertical das receitas tributárias.
A primeira envolveu a disputa sobre os critérios de distribuição dos royalties de petróleo do regime de concessão32 32 O critério de distribuição do regime de concessão, definido em lei de 1997, determinou que, na exploração em terra, as receitas dos royalties até 5% caberiam, fundamentalmente, aos estados (70%) e municípios (20%) produtores e os outros 10% aos municípios afetados na operação. Nos recursos excedentes aos 5%, a participação destas unidades cairia, respectivamente, para 30%, 30% e 10% e o restante seria distribuído aos demais entes subnacionais (10%) e para a União (20%). No caso da exploração no mar, a repartição dos recursos seria mais equitativa, a fim de contemplar as outras unidades. Os estados e municípios produtores ficariam com parcelas iguais de 22,5%, os municípios afetados na operação teriam direito a 7,5% e igual montante seria destinado aos demais entes subnacionais, enquanto à União caberia 40% dos recursos totais. e os do regime de partilha utilizado na exploração do pré-sal. A revisão da norma colocou em disputa as unidades produtoras e não produtoras e dividiu o executivo federal e o poder legislativo sobre os caminhos a seguir. O caráter não cooperativo da federação brasileira ajudou a acirrar as desavenças e inibir o consenso. Na falta de projeto abrangente de federalismo, prevaleceu a máxima popular de que se a farinha é pouca quero o meu pirão primeiro.
A Lei 12.734/2012 definiu que valeria no regime de partilha a distribuição prevista na lei anterior e os critérios seriam os mesmos nos antigos e nos novos contratos, enquanto a distribuição dos recursos do regime de concessão adotaria a legislação de 1997 na produção em terra, a ser alterada caso a produção ocorresse no mar. A grita dos estados produtores levou a Presidente Dilma a vetar parte do projeto. O Congresso derrubou o veto e restabeleceu o conteúdo da lei, logo questionada pelo Rio de Janeiro, por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), que alterou novamente os critérios de distribuição dos royalties e deixou o processo em aberto33 33 A ADIN suspendeu parcialmente os efeitos da lei e atrelou a distribuição dos royalties às regras definidas nas Leis 9478/1997 e 7990/1989, alterada em parte pela lei de 2012. De acordo com a ANP atualmente a distribuição ocorre da seguinte forma: No regime de concessão, em terra, segue a lei de 1997, com distribuição de 70% e 30%, respectivamente, aos estados e municípios produtores e 10% aos municípios afetados pelo processo, nos casos de 5% do valor da produção. No caso da parcela com mais de 5%, vale a Lei 9478/12 alterada pela Lei 12734, cabendo 52,5% aos estados e 15 aos municípios produtores; a União – fundo social fica com 12,5% e a União – educação e saúde com outros 12,5%, os restantes 7,5% são dos municípios afetados. Na produção em mar, nos regimes de concessão, cessão onerosa e partilha, na parcela até 5%, estados e municípios produtores ficam cada um com 30%, a União com 20%, municípios afetados com 10%, o fundo especial dos estados e municípios ficam, respectivamente, com 2% e 8%. Na parcela acima de 5%, cabe à União 40%, os estados e municípios produtores recebem cada 22,5%, os municípios afetados 10% e o fundo especial 7,5%. .
A segunda frente de conflito resultou da reivindicação dos governos subnacionais de substituir o indexador das dívidas negociadas em 1997 (IGP-DI + juros). A longa negociação levou a um acordo inicial34 34 A LC 148/2014 fixou o IPCA + 4% ou a Selic, o que fosse menor, como novo indexador e determinou a obrigatoriedade de a União conceder descontos sobre os saldos devedores dos contratos no valor correspondente à diferença do montante em 1º de janeiro de 2013 e o valor calculado pela variação acumulada da Selic desde a assinatura dos respectivos contratos. , aproveitando a disposição federal, de momento, de facilitar o aumento dos gastos dos governos subnacionais como parte da estratégia de crescimento. A crise econômica e política de 2015 reconfigurou o embate e a União deixou de cumprir o acordo até que outra legislação (LC 151/2015) definiu o imbróglio e estabeleceu o final de janeiro de 2016 como data limite de revisão dos contratos.
O ganho estadual mostrou-se efêmero. A fragilização financeira deixou os estados sem condições de cumprirem as obrigações da dívida renegociada e sujeitos às diferentes formas de pressão. A União, ainda no governo Dilma, usou sua posição de força para adotar um modelo ad hoc no trato das unidades em crise, exigindo, como parte do acerto de renegociação do pagamento do serviço da dívida de 199735 35 O propósito era alongar os contratos negociados em 1997 por até 240 meses, com redução de 40% do valor da prestação mensal por um período de 24 meses, como meio de os estados reduzirem os gastos e enfrentarem a crise. , duras contrapartidas. A tratativa gerou resistências e atritos, superados, momentaneamente, no governo Temer (LC 156/2016). A redução extraordinária da parcela mensal dos encargos das dívidas com a União e o BNDES ocorreu em troca do compromisso de os estados aprovarem leis fixando, nos dois anos seguintes à assinatura do trato, normas de controle orçamentário emulando a política federal de teto de gastos (Lopreato, 2018LOPREATO, F. L. C. Governos estaduais: o retorno à debilidade financeira. Campinas: IE. Unicamp, maio 2018. (Texto para Discussão, n. 338).).
Os menores gastos com a dívida trouxeram algum alívio fiscal, sem solucionar a questão. Na ausência de normais institucionais de tratamento do problema, restou o vácuo. A solução, veio por meio de proposta ad hoc de ajuda financeira, o RRF – Regime de Recuperação Fiscal (LC 159/2017), negociado individualmente, em condições particulares36 36 O estado para aderir ao programa tem que atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I - receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; II – despesas liquidadas com pessoal, com juros e amortizações, que somados representem, no mínimo, 70% (setenta por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e III – valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação. , em que a esfera federal usou a frágil situação da unidade para definir regras não pactuadas previamente e propor outro modelo de controle das contas fiscais.
A circunstância refletiu o desbalanceamento de forças entre as esferas de governo. A renegociação de 1997 definiu normas de conduta orçamentária. A aprovação da LRF institucionalizou esse processo, fixou os parâmetros fiscais e reforçou o poder de supervisão federal. A novidade agora está no alcance do controle federal e as implicações na ordem federativa. O programa não se limita a fixar parâmetros gerais de conduta de gestão pública, como limites de endividamento ou de gastos com pessoal. As normas assumiram caráter estrito e posturas detalhadas, com indicações específicas de gestão orçamentária37 37 Conforme coloca o Art. 8º: São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal: I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal; II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício; V - a realização de concurso público, ressalvadas as hipóteses de reposição de vacância; VI - a criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares; VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado; VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou de outro que vier a substituí-lo, ou da variação anual da receita corrente líquida apurada na forma do inciso IV do caput do art. 2º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, o que for menor; IX - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, ressalvados os concedidos nos termos da alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal; X - o empenho ou a contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação no trânsito e outras de demonstrada utilidade pública; XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil, ressalvados: a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal; b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o art. 6º; d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens em situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites constitucionais; XII - a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a concessão de garantia, ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal, na forma estabelecida pelo art. 11. Parágrafo único. O Regime de Recuperação Fiscal impõe as restrições de que trata o caput deste artigo a todos os Poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado. . Não se trata de ruptura do preceito de adoção de regras fiscais no trato das finanças subnacionais. A novidade está no rigor e, sobretudo, na força da ingerência federal em determinar as formas de conduta fiscal.
O reflexo na ordem federativa é notório. As unidades perdem a autonomia de definirem até a própria política de ajuste e são forçadas a seguirem os parâmetros ditados do poder central. O grau de concentração de poder atingiu patamar inusitado, mesmo em se tratando de país com federalismo centralizado, em que a esfera federal dita as políticas públicas e as diretrizes de atuação. Na ausência de discussões sobre o que ser quer da federação, as soluções pontuais definem o arranjo de momento, com estados e municípios, isolados, cumprindo as determinações.
O uso de arenas intermediárias de negociação pode ser pensado como caminho alternativo na revisão do alcance do poder de cada esfera de governo e do próprio sentido de federação. Não há tal preocupação atualmente. Os caminhos trilhados nas propostas de reforma tributária38 38 A referência aqui abrange as principais propostas de reforma tributária em discussão no Congresso e as PECs 186, 187 e 188 encaminhadas ao legislativo em fins de 2019. e de revisão do pacto federativo39 39 Proposta de Emenda à Constituição n. 188, de 2019. vão em direção contrária, pois se a primeira se limita a reformular e simplificar o tributo sobre bens e serviços, a outra coloca em xeque a própria ideia de federação. O contraponto surgiu diante da necessidade de responder ao caos gerado pela pandemia. A criação do consórcio do Nordeste40 40 Grupo de governadores dos estados do Nordeste com o objetivo de tratar os impactos da pandemia e de defender os interesses estaduais. , visando sustentar, de modo articulado, a posição de um grupo de estados no enfrentamento do vírus e no embate com o governo central, pode vir a ser, com a ampliação das negociações, o embrião de um poder intermediário capaz de devolver aos governos estaduais parte do protagonismo de outros tempos.
-
JEL H77.
-
*
Texto em homenagem aos queridos professores e amigos Wilson Cano e Carlos Lessa, com saudades.
-
1
As considerações sobre o pacto imperial ancoram-se no trabalho de Dolhnikoff (2004)DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005..
-
2
De acordo com Dolhnikoff (2004, p. 147)DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.: “Mesmo depois da Interpretação do Ato Institucional, continuava prevalecendo o cerne do arranjo institucional implementado na década de 1830. [...] as Assembleias brasileiras tinham competência para decidir unilateralmente sobre matéria tributária e outras de igual importância. [...] dispunham de meios para fiscalizar e opor-se aos presidentes e ao governo central e estavam organizadas de modo a possibilitar o exercício de autonomia nas decisões de matéria de sua competência. As Assembleias brasileiras não dependiam da convocação do Executivo para se reunir e não podiam ser dissolvidas, características que não perderam com a revisão conservadora.” Ou ainda (p. 153): “Realizada a Interpretação do Ato Institucional, as Assembleias Provinciais continuavam desfrutando da mesma autonomia tributária, com o direito de criar impostos e decidir sobre o destino das rendas arrecadadas. Mantinham ainda a prerrogativa de criar uma força policial própria e seguiam responsáveis pelo controle da Câmara Municipal; além de se manterem encarregados das obras públicas, da instrução e das divisões civil, judiciária e eclesiástica da respectiva província.”
-
3
Cf. Dolhnikoff (2004, p. 153)DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.: “Realizada a Interpretação do Ato Institucional, as Assembleias Provinciais continuavam desfrutando da mesma autonomia tributária, com o direito de criar impostos e decidir sobre o destino das rendas arrecadadas. Mantinham ainda a prerrogativa de criar uma força policial própria e seguiam responsáveis pelo controle da Câmara Municipal; além de se manterem encarregados das obras públicas, da instrução e das divisões civil, judiciária e eclesiástica da respectiva província.” Torres (2017, p. 142)TORRES, J. C. de OLIVEIRA. A formação do federalismo no Brasil. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017. parece concordar com essa interpretação: “Ora, as províncias do Império brasileiro, posto que em situação ambivalente – órgãos do Estado e coletividades autônomas, como diz o visconde de Ouro Preto, possuíam todos elementos distintivos do Estado-membro da federação. Senão vejamos:a) A competência das assembleias provinciais não era de caráter puramente administrativo e, sim, efetivamente político e governamental. Os presidentes de província, como órgão dependente do governo imperial e através dos serviços da secretaria de governo aplicados na execução de medidas da competência nacional, exerciam funções de agentes da administração descentralizada; os mesmos presidentes, quando aplicavam leis provinciais, participavam de um poder autônomo, o das assembleias. b) Gozavam de um Poder Legislativo específico, possuíam rendas próprias, serviços administrativos exclusivos. E, se uma lei geral é que fundamentou esta autonomia, esta lei geral foi aprovada pelo povo das províncias num verdadeiro referendum. c) As províncias possuíam polícia militar própria. Se considerarmos, ademais, que o Ato Adicional não atribui poderes às províncias, mas às suas assembleias, e se as leis negavam direito aos presidentes de apresentar projetos, devemos considerar que, afinal de contas, as províncias eram autônomas, muito embora esta autonomia fosse sujeita a uma inspeção por parte do governo central, o que existe em toda a parte.”
-
4
Cf. Dolhnikoff (2004, p. 107)DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.: “os presidentes podiam, em alguns casos específicos, suspender a apreciação da lei e enviá-la para ser examinada pela Câmara, quando elas atentavam contra os interesses de outras províncias ou contra disposições firmadas em tratados assinados com outras nações.”
-
5
A Lei de 12 de maio de 1840, de interpretação do Ato Adicional de 1834, ao estabelecer que: “Art. 2º A faculdade de crear, e supprimir Empregos Municipaes, e Provinciaes, concedida ás Assembléas de Provincia pelo § 7º do art. 10 do Acto Addicional, sómente diz respeito ao numero dos mesmos Empregos, sem alteração da sua natureza, e atribuições, quando forem estabelecidos por Leis Geraes relativas a objectos sobre os quaes não podem legislar as referidas Assembléas.”, limitou o poder provincial de lidar com a questão do emprego nos governos locais, mas pouco mexeu na relação de subordinação entre essas esferas de governo.
-
6
De acordo com Tavares Bastos (1870, p. 151)BASTOS, T. A Província – Estudo sobre a descentralização no Brazil. Rio de Janeiro, 1870.: “E, em verdade, depois do golpe de estado de 1840, não puderam mais as assembléas legislar, por medida de caracter geral, sobre a economia e a policia municipal. Só o pódem agora fazer diante de cada hypothese, a proposito de cada postura, de cada obra, de cada orçamento municipal. Tal é o fim da exigencia de prévia proposta das camaras (art. .1° da lei de 1840). Muito menos podem alterar a symetria dos serviços locaes, crear novos empregos ou supprimir os antigos, dar e tirar-lhes attribuições (artigo 2°). Desde então, pois, a autoridade das assembléas sobre as camaras somente se faz sentir pelo lado máu, pela excessiva dependencia e concentração dos negocios nas capitaes das provincias. Privadas as assembléas de poderem regular os interesses municipaes por modidas de caracter geral, por leis organicas adaptadas ás circunstancias de cada região, ficou sua missão reduzida a uma impertinente tutela, requintada pelas perniciosas práticas introduzidas desde 1840 na administração publica.”
-
7
Como colocou Roure (1920, p. 72)ROURE, A. A Constituinte Republicana. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1920. v. I e II.: “O regime federativo foi adotado entre nós, na Constituinte Republicana, simplesmente porque a ideia da Federação vinha do Império já amadurecida, tendo sido objeto de estudo na Constituinte de 1823, na assembleia que votou o Ato Adicional e nos debates do parlamento ordinário. Todos eram federalistas na Constituinte de 1890-91.”
-
8
Como colocou W. P. Costa (1998, p. 143)COSTA, W. P. A questão fiscal na transformação republicana – continuidade e descontinuidade. Economia e Sociedade, n. 10, p. 141-174, jun. 1998.: “A força da pregação federalista advinha particularmente das fissuras que se abriam a partir do momento em que o Estado Imperial iniciou o processo de emancipação da escravidão, datando com isso, o destino da instituição que lhe servira contraditoriamente de fundamento. O fulcro da questão radicava, entretanto, na crescente diversificação da base econômica a partir da década de 1870, com o florescimento da cafeicultura do Oeste paulista e a heterogeneidade que se aprofundava, a partir daí, entre o Centro-Sul e o Nordeste. O timing da emancipação, a forma e o preparo da transição para o trabalho livre, encontravam demandas regionais diferenciadas e divergentes: a imigração em São Paulo, os engenhos centrais no Nordeste, as ferrovias em toda parte. A partir do momento em que se rompia o consenso básico que sustentara o Império, o Estado como biombo externo para a manutenção da escravidão e garantidor interno de tráfico interprovincial, não era mais possível pensar políticas capazes de satisfazer interesses que se tornavam cada vez mais diferenciados. O federalismo, pois, ganhava espaço ao propor que essas questões (a questão servil e a questão de substituição do trabalho escravo) fossem definidas pelas unidades federadas de acordo com seus interesses.”
-
9
Dolhnikoff (2004, p. 299)DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005. chega a indagar se as novidades republicanas não foram muito mais um rearranjo do que uma fundação do federalismo brasileiro.
-
10
A medida afetou, sobretudo, os pontos referentes à intervenção nos estados (Art. 6º), à competência privativa do Congresso Nacional (Art. 34º) e às atribuições da justiça federal (Art. 59º).
-
11
Cf. Lopreato (2002, p. 17)LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo: Editora Unesp; IE Unicamp, 2002. A precária base tributária obrigava-os a usar um sem-número de novos impostos e taxas, respondendo por parcela ínfima no total da receita, a recorrer a sistemáticos empréstimos externos e ainda a elevar a carga do imposto de exportação, acarretando sensíveis perdas de competitividade a seus produtos (Bouças, 1934). Esse procedimento mereceu, desde cedo, atenção por parte do governo. Em 1904, o Decreto-Lei n. 1.185 proibiu a cobrança dos impostos interestaduais, mas a base tributária estreita e a autonomia com que os Estados decidiam sobre as questões fiscais levaram o decreto a tornar-se letra morta. As receitas dos impostos interestaduais constituíam norma e representavam parcela importante da receita tributária de que os governos estaduais se valiam para atender aos gastos.
-
12
Cf. Nunes Leal (2012, p. 49)NUNES LEAL, V. Coronelismo, enxada e voto – o município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Cia das Letras, 2012.: “As Constituições estaduais não tardaram a ser reformadas; reduzindo-se o princípio da autonomia das comunas ao mínimo compatível com as exigências da Constituição federal, que eram por demais imprecisas, deixando os Estados praticamente livres, no regular o assunto.”
-
13
De acordo com o Art. 17 do referido decreto, compete ao Departamento Administrativo: a) aprovar os projetos dos decretos-leis que devam ser baixados pelo Interventor, ou Governador, ou pelo Prefeito; b) aprovar os projetos de orçamento do Estado e dos Municípios, encaminhados pelo Interventor, ou Governador, e pelos Prefeitos, propondo as alterações que nos mesmos devam ser feitas; c) fiscalizar a execução orçamentária no Estado e nos Municípios, representando ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ou ao Interventor, ou Governador, conforme o caso, sobre as irregularidades observadas; d) receber e informar os recursos dos atos do Interventor, ou Governador, na forma dos arts. 19 a 22; e) proceder ao estudo dos serviços, departamentos, repartições e estabelecimentos do Estado e dos Municípios, com o fim de propor, do ponto de vista da economia e eficiência, as modificações que devam ser feitas nos mesmos, sua extinção, distribuição e agrupamento, dotações orçamentárias, condições e processos de trabalhos; f) dar parecer nos recursos dos atos dos Prefeitos, quando o requisitar o Interventor, ou Governador; Parágrafo Único: Das decisões do Departamento o Interventor, ou Governador poderá recorrer para o Presidente da República.
-
14
O embate a respeito da cobrança do IVC exigiu a intervenção federal com seguidas normas, a começar com a Lei n. 187 de 1936, sobretudo art. 37, alterada posteriormente pelos DL n. 840 de 29-12-37; DL n. 348 de 1938; DL n. 915, de 1-12-1938 e Lei n. 1061 de 20-1-1939, preservando o princípio de origem quando se tratar de venda efetuada diretamente pelo próprio fabricante ou produtor.
-
15
Os municípios da capital e de estâncias hidro minerais, no entanto, poderiam ser nomeados pelo governo do Estado (Art 13 § 1).
-
16
Como parte desse processo, a Constituição de 1946, art. 58, cumpriu papel relevante ao definir um modelo de representação política no Congresso, com um mínimo de 7 representantes por unidade da federação e um máximo distante da proporcionalidade populacional, capaz de preservar o peso político de segmentos de menor poder econômico (Campelo de Souza, 2006).
-
17
Ver Lopreato (2013LOPREATO, F. L. C. Caminhos da política fiscal do Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2013., cap. 2) para a discussão ampliada desses pontos.
-
18
O montante de 10% do IR e do IPI destinados a cada um dos fundos (FPE e FPM) foi reduzido para 5%, enquanto o Decreto Lei n. 838 e o Ato Complementar n. 40, respectivamente, de setembro e dezembro de 1968 definiram os critérios de aplicação.
-
19
Os bancos estaduais recebiam os chamados repasses internos de diferentes instituições federais, como o Banco Central, o Banco do Brasil, CEF, BNB e o BNH, usados como meio de alavancar as suas operações de crédito.
-
20
A crise dos governos subnacionais agravou-se nos primeiros anos da década de 1990 com a rolagem integral da dívida pública (juros + principal) a taxas de juros elevadas, a recessão no governo Collor, a proibição da contratação de novos empréstimos, o agravamento da situação dos bancos estaduais e a queda da inflação com o Plano Real (Lopreato, 2002LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo: Editora Unesp; IE Unicamp, 2002.). .
-
21
Sergio Prado (2013)PRADO, S. Cinco ensaios sobre federalismo e federação brasileira. Tese (Livre-Docência)–Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2013. a denomina de federação trinária.
-
22
Como colocou Arretche (2012, p. 36)ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; Editora Fiocruz, 2012. “Os formuladores da Constituição de 88 criaram um modelo de Estado federativo que combina ampla autoridade jurisdicional à União com limitadas oportunidades institucionais de vetos aos governos subnacionais.”
-
23
Cabe lembrar, entre outras, as normas: de restrição à criação de municípios (EC n. 15); a imposição de limites de gastos dos legislativos (EC n. 25); a reforma previdenciária (EC n. 20); a aprovação do Fundef (EC n. 14); a fixação de gastos na saúde (EC n.29); a criação do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (EC n. 31) e as regras de gestão do SUS.
-
24
Para a análise do processo de descentralização das políticas públicas veja, entre outros, os trabalhos de Arretche (2012ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV; Editora Fiocruz, 2012.; 2005)ARRETCHE, M. Quem taxa e quem gasta: a barganha federativa na federação brasileira. Rev. Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, jun. 2005.
-
25
Serralha (2018)SERRALHA, F. O difícil encontro entre a autonomia para arrecadar recursos próprios, versus a rigidez orçamentária das capitais brasileiras, entre 1995 a 2010. Dissertação (Mestrado)–IE-Unicamp, Campinas, 2018. discute a perda de autonomia das capitais brasileiras na definição de programas de gastos e na alocação de receitas próprias.
-
26
O congelamento dos índices de rateio definido na LC 62 de 1989 só foi alterado, por meio da LC n. 143 de 2013, após o STF considerar inconstitucional a legislação então vigente e tratou de mudar para deixar tudo como antes, uma vez que as mudanças só terão algum resultado em um prazo muito longo, graças às regras de transição adotadas.
-
27
O trabalho de Prado (2013)PRADO, S. Cinco ensaios sobre federalismo e federação brasileira. Tese (Livre-Docência)–Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2013. descreve exaustivamente o sistema de partilha e suas implicações
-
28
É interessante notar que, em termos nacionais, a repartição do FPM privilegia MG e RS, estados com elevado número de municípios de baixa população. O instrumento vai contra o retrato da distribuição regional de renda e amplia as disparidades de municípios de diferentes regiões por se ater a regras de repasses do fundo atreladas apenas ao tamanho da população.
-
29
A LC n. 143/2013, revisora dos critérios de distribuição do FPE, em resposta à exigência do STF, é um exemplo dessa posição. A lei manteve, em essência, condição semelhante à anterior e não buscou atacar as distorções da distribuição interestadual da receita tributária per capita.
-
30
O STF interveio e determinou a devolução do tributo no caso de existir diferença entre a que de fato ocorreu e a arrecadação arbitrada segundo o método de ST.
-
31
O texto de Orair e Gobetti (2019)ORAIR, R. O.; GOBETTI, S. W. Reforma Tributária e Federalismo fiscal: uma análise das propostas de criação de um novo imposto sobre o valor adicionado para o Brasil. Brasília; Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, dez. 2019. (Texto para Discussão, n. 2530). faz uma ótima análise da atual proposta de reforma tributária, mostra os efeitos federativos e os mecanismos propostos de transição, envolvendo longo período, a fim de reproduzir a atual distribuição de receita tributária.
-
32
O critério de distribuição do regime de concessão, definido em lei de 1997, determinou que, na exploração em terra, as receitas dos royalties até 5% caberiam, fundamentalmente, aos estados (70%) e municípios (20%) produtores e os outros 10% aos municípios afetados na operação. Nos recursos excedentes aos 5%, a participação destas unidades cairia, respectivamente, para 30%, 30% e 10% e o restante seria distribuído aos demais entes subnacionais (10%) e para a União (20%). No caso da exploração no mar, a repartição dos recursos seria mais equitativa, a fim de contemplar as outras unidades. Os estados e municípios produtores ficariam com parcelas iguais de 22,5%, os municípios afetados na operação teriam direito a 7,5% e igual montante seria destinado aos demais entes subnacionais, enquanto à União caberia 40% dos recursos totais.
-
33
A ADIN suspendeu parcialmente os efeitos da lei e atrelou a distribuição dos royalties às regras definidas nas Leis 9478/1997 e 7990/1989, alterada em parte pela lei de 2012. De acordo com a ANP atualmente a distribuição ocorre da seguinte forma: No regime de concessão, em terra, segue a lei de 1997, com distribuição de 70% e 30%, respectivamente, aos estados e municípios produtores e 10% aos municípios afetados pelo processo, nos casos de 5% do valor da produção. No caso da parcela com mais de 5%, vale a Lei 9478/12 alterada pela Lei 12734, cabendo 52,5% aos estados e 15 aos municípios produtores; a União – fundo social fica com 12,5% e a União – educação e saúde com outros 12,5%, os restantes 7,5% são dos municípios afetados. Na produção em mar, nos regimes de concessão, cessão onerosa e partilha, na parcela até 5%, estados e municípios produtores ficam cada um com 30%, a União com 20%, municípios afetados com 10%, o fundo especial dos estados e municípios ficam, respectivamente, com 2% e 8%. Na parcela acima de 5%, cabe à União 40%, os estados e municípios produtores recebem cada 22,5%, os municípios afetados 10% e o fundo especial 7,5%.
-
34
A LC 148/2014 fixou o IPCA + 4% ou a Selic, o que fosse menor, como novo indexador e determinou a obrigatoriedade de a União conceder descontos sobre os saldos devedores dos contratos no valor correspondente à diferença do montante em 1º de janeiro de 2013 e o valor calculado pela variação acumulada da Selic desde a assinatura dos respectivos contratos.
-
35
O propósito era alongar os contratos negociados em 1997 por até 240 meses, com redução de 40% do valor da prestação mensal por um período de 24 meses, como meio de os estados reduzirem os gastos e enfrentarem a crise.
-
36
O estado para aderir ao programa tem que atender, cumulativamente, aos seguintes requisitos: I - receita corrente líquida anual menor que a dívida consolidada ao final do exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; II – despesas liquidadas com pessoal, com juros e amortizações, que somados representem, no mínimo, 70% (setenta por cento) da receita corrente líquida aferida no exercício financeiro anterior ao do pedido de adesão ao Regime de Recuperação Fiscal; e III – valor total de obrigações contraídas maior que as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa de recursos sem vinculação.
-
37
Conforme coloca o Art. 8º: São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal:I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal;II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacância de cargo efetivo ou vitalício;V - a realização de concurso público, ressalvadas as hipóteses de reposição de vacância;VI - a criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares;VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou de outro que vier a substituí-lo, ou da variação anual da receita corrente líquida apurada na forma do inciso IV do caput do art. 2º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, o que for menor;IX - a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, ressalvados os concedidos nos termos da alínea "g" do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;X - o empenho ou a contratação de despesas com publicidade e propaganda, exceto para as áreas de saúde, segurança, educação no trânsito e outras de demonstrada utilidade pública;XI - a celebração de convênio, acordo, ajuste ou outros tipos de instrumentos que envolvam a transferência de recursos para outros entes federativos ou para organizações da sociedade civil, ressalvados:a) aqueles necessários para a efetiva recuperação fiscal;b) as renovações de instrumentos já vigentes no momento da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal;c) aqueles decorrentes de parcerias com organizações sociais e que impliquem redução de despesa, comprovada pelo Conselho de Supervisão de que trata o art. 6º;d) aqueles destinados a serviços essenciais, a situações emergenciais, a atividades de assistência social relativas a ações voltadas para pessoas com deficiência, idosos e mulheres jovens em situação de risco e, suplementarmente, ao cumprimento de limites constitucionais;XII - a contratação de operações de crédito e o recebimento ou a concessão de garantia, ressalvadas aquelas autorizadas no âmbito do Regime de Recuperação Fiscal, na forma estabelecida pelo art. 11.Parágrafo único. O Regime de Recuperação Fiscal impõe as restrições de que trata o caput deste artigo a todos os Poderes, aos órgãos, às entidades e aos fundos do Estado.
-
38
A referência aqui abrange as principais propostas de reforma tributária em discussão no Congresso e as PECs 186, 187 e 188 encaminhadas ao legislativo em fins de 2019.
-
39
Proposta de Emenda à Constituição n. 188, de 2019.
-
40
Grupo de governadores dos estados do Nordeste com o objetivo de tratar os impactos da pandemia e de defender os interesses estaduais.
Referências bibliográficas
- ABRUCIO, F. L. Os Barões da Federação Os governadores e a redemocratização brasileira. São Paulo: Ed. Hucitec/Departamento Ciências Sociais USP, 1998.
- ABRUCIO, F. L. A Coordenação Federativa no Brasil: a experiência do período FHC e os desafios do governo Lula. Rev. Sociol. Polít., Curitiba, 24, p. 41-67, jun. 2005.
- AFONSO, J. R.; CASTRO, K. P. Carga Tributaria Brasileña en perspectiva histórica. Estadísticas Revisadas. Revista de Administración Tributaria, n. 45, Sept. 2019.
- ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil Rio de Janeiro: Editora FGV; Editora Fiocruz, 2012.
- ARRETCHE, M. Quem taxa e quem gasta: a barganha federativa na federação brasileira. Rev. Sociologia e Política, Curitiba, n. 24, jun. 2005.
- BASTOS, T. A Província – Estudo sobre a descentralização no Brazil. Rio de Janeiro, 1870.
- CAMARGO, A. Do federalismo oligárquico ao federalismo democrático. In: PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. 345p.
- COSTA, W. P. A questão fiscal na transformação republicana – continuidade e descontinuidade. Economia e Sociedade, n. 10, p. 141-174, jun. 1998.
- DINIZ, Eli. Engenharia institucional e políticas públicas: dos conselhos técnicos às câmaras setoriais. In: PANDOLFI, Dulce (Org.). Repensando o Estado Novo Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. 345p.
- DRAIBE, S. Rumos e metamorfose – Estado e industrialização no Brasil:1930/1960. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.
- DOLHNIKOFF, M. O Pacto Imperial – Origens do federalismo no Brasil. São Paulo: Globo, 2005.
- FONSECA, P. C. D. Instituições e política econômica: crise e crescimento do Brasil na década de 1930. In: BASTOS, P. P. Z.; FONSECA, P. C. D. (Org.). A Era Vargas: desenvolvimentismo, economia e sociedade. São Paulo: Editora Unesp, 2012.
- KUGELMAS, E. Difícil hegemonia – Um estudo sobre São Paulo na Primeira República. Tese (Doutorado)–Universidade de São Paulo, 1986.
- LOPREATO, F. L. C. Caminhos da política fiscal do Brasil São Paulo: Editora Unesp, 2013.
- LOPREATO, F. L. C. Governos estaduais: o retorno à debilidade financeira. Campinas: IE. Unicamp, maio 2018. (Texto para Discussão, n. 338).
- LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação São Paulo: Editora Unesp; IE Unicamp, 2002.
- LOPREATO, F. L. C. O endividamento dos governos estaduais nos anos 90. Economia e Sociedade, Campinas, Instituto de Economia, Unicamp, v. 15, p. 117-158, dez. 2000.
- NUNES LEAL, V. Coronelismo, enxada e voto – o município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo: Cia das Letras, 2012.
- NUNES, E. A gramática política do Brasil: clientelismo e insulamento burocrático. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.; Brasília: Déficit, Enap, 1997.
- OLIVEIRA, F. A. A evolução da estrutura tributária e do fisco brasileiro: 1889-2009. Brasília: Ipea, jan. 2010. (Texto para Discussão, n. 1469).
- ORAIR, R. O.; GOBETTI, S. W. Reforma Tributária e Federalismo fiscal: uma análise das propostas de criação de um novo imposto sobre o valor adicionado para o Brasil. Brasília; Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, dez. 2019. (Texto para Discussão, n. 2530).
- PRADO, S. A questão fiscal na Federação Brasileira: diagnóstico e alternativas. Cepal – Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, Mar. 2007. (LC/BRS/R.179).
- PRADO, S. Cinco ensaios sobre federalismo e federação brasileira Tese (Livre-Docência)–Instituto de Economia, Universidade Estadual de Campinas, 2013.
- REZENDE, F. Autonomia política e dependência financeira: uma análise das transformações recentes nas relações intergovernamentais e seus reflexos sobre a situação financeira dos Estados. Pesquisa e Planejamento Econômico, Rio de Janeiro, v. 12, n. 3, p. 489-540, dez. 1982.
- RODRIGUEZ, V. Federalismo e interesses regionais. In: AFFONSO, Rui; SILVA, Pedro Luiz B. (Org.). A Federação em perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: Fundap, 1995.
- ROURE, A. A Constituinte Republicana Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1920. v. I e II.
- SCHWARTZMAN, S. (Org.). Estado Novo, um auto retrato Brasília: CPDOC/FGV/Editora Universidade de Brasília, 1982. Capítulo 3, Finanças Públicas. (Coleção Temas Brasileiros, 24).
- SERRALHA, F. O difícil encontro entre a autonomia para arrecadar recursos próprios, versus a rigidez orçamentária das capitais brasileiras, entre 1995 a 2010 Dissertação (Mestrado)–IE-Unicamp, Campinas, 2018.
- SILVA, A. L. N. da. Os estados importam! Determinantes da cooperação subnacional nas políticas de educação e saúde do Brasil. Tese (Doutorado)–Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, 2020.
- SOUZA, M. C. C. C. de. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930 a 1964). São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1976.
- TAVARES DE ALMEIDA, M. H. Recentralizando a Federação. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, 24, p. 29-40, jun. 2005.
- TORRES, J. C. de OLIVEIRA. A formação do federalismo no Brasil Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
04 Abr 2022 -
Data do Fascículo
Jan-Apr 2022
Histórico
-
Recebido
21 Ago 2020 -
Aceito
22 Mar 2021
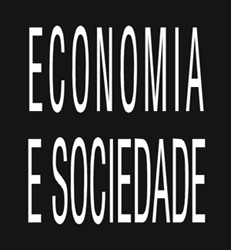









 Fonte: IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil, 2. ed., 1990.Obs.: Valores em mil réis de 1907 a 1941 e milhares de cruzeiro de 1942 a 1945.
Fonte: IBGE. Estatísticas Históricas do Brasil, 2. ed., 1990.Obs.: Valores em mil réis de 1907 a 1941 e milhares de cruzeiro de 1942 a 1945.
 Fonte: IBGE. Estatísticas do Século XX.
Fonte: IBGE. Estatísticas do Século XX.

 Fonte:
Fonte:  Fonte:
Fonte:  Fonte:
Fonte: