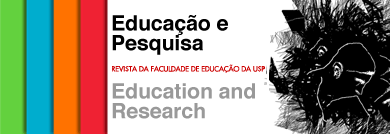Resumo
A noção de ideologia pode ser compreendida como um corpus de representações e de normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir. Com o objetivo de impor os interesses particulares da classe dominante, esse corpus produz uma universalidade imaginária. A eficácia da ideologia depende, justamente, da sua capacidade de produzir um imaginário coletivo em cujo interior os indivíduos possam localizar-se, identificar-se e, pelo autorreconhecimento assim obtido, legitimar involuntariamente a divisão social. Sua coerência está atrelada a uma lógica da lacuna e do silêncio sobre sua própria gênese, isto é, sobre a divisão social das classes. A anterioridade do corpus, a universalização do particular, a interiorização do imaginário como algo coletivo e comum e a coerência da lógica lacunar fazem com que a ideologia seja uma lógica da dissimulação (da existência de classes sociais contraditórias) e uma lógica da ocultação (da gênese da divisão social). A partir da análise de alguns temas correntes nas discussões pedagógicas, este ensaio pretende avaliar até que ponto o discurso educacional, marcado em grande medida pela regra da competência, encobre ou não alguma ideologia.
Ideologia; Divisão social; Educação; Regra da competência
Abstract
The notion of ideology can be understood as a set of representations and rules which set and prescribe beforehand what one should be and how one should think, act, and feel. In order to impose the particular interests of the ruling class, this corpus produces an imaginary universality. The effectiveness of ideology depends precisely on its ability to produce a collective imaginary within which individuals can locate, identify themselves and, thus, by such self-recognition, unwittingly legitimize social division. Its consistency is linked to a logic of gap and silence about its own genesis, that is, about the social division of classes. The anteriority of the corpus, the universalization of the particular, the internalization of the imaginary as something collective and common, and the consistency of lacunar logic make ideology be a logic of dissimulation (of the existence of contradictory social classes) and a logic of concealment (of the genesis of social division). From the analysis of some recurring themes in educational discussions, this essay intends to assess to what extent the educational discourse, marked largely by the competence rule, conceals some ideology.
Ideology; Social division; Education; Competence rule
Falar sobre “ideologia e educação” é quase como tentar uma dissertação sobre “Deus e sua época”, isto é, uma certa dose de insensatez. Tanto um tema como outro são inesgotáveis, pois não se pode falar de ideologia em geral nem de educação em geral, e, portanto, reuni-los parece rematada loucura. A tentativa aqui, hoje, limita--se ao levantamento de alguns temas correntes nas discussões pedagógicas, para avaliar até que ponto encobrem ou não alguma ideologia. Por outro lado, como o termo ideologia tem adquirido os sentidos mais variados nos últimos decênios, tentarei, apenas para evitar algum mal-entendido entre nós, delimitar brevemente o campo no qual defino os traços da ideologia, sem pretender com isso esgotar a questão nem mesmo tratá-la de modo suficientemente detalhado.
Ideologia
De modo sumário e para os fins que nos interessam aqui, poderíamos “resumir” a noção de ideologia nas seguintes determinações:
-
Um corpus de representações e de normas que fixam e prescrevem de antemão o que se deve e como se deve pensar, agir e sentir. Por sua anterioridade, a ideologia predetermina e pré-forma os atos de pensar, agir e querer ou sentir, de sorte que os nega enquanto acontecimentos novos e temporais.
-
O corpus assim constituído tem a finalidade de produzir uma universalidade imaginária, pois, na realidade, apenas generaliza para toda a sociedade os interesses e o ponto de vista particulares de uma classe: aquela que domina as relações sociais. Assim, a produção desse universal visa não só ao particular generalizado, mas sobretudo a ocultar a própria origem desse particular, isto é, a divisão da sociedade em classes.
-
Como forma do exercício da dominação de classe, a eficácia da ideologia depende de sua capacidade para produzir um imaginário coletivo em cujo interior os indivíduos possam localizar-se, identificar-se e, pelo autorreconhecimento assim obtido, legitimar involuntariamente a divisão social. Portanto, a eficácia ideológica depende da interiorização do corpus imaginário, de sua identificação com o próprio real e especialmente de sua capacidade para permanecer invisível. Pode-se dizer que uma ideologia é hegemônica quando não precisa mostrar-se, quando não necessita de signos visíveis para se impor, mas flui espontaneamente como verdade igualmente aceita por todos.
-
É nuclear, na ideologia, que ela possa representar o real e a prática social através de uma lógica coerente. A coerência é obtida graças a dois mecanismos: a lacuna e a “eternidade”. Isto é, por um lado, a lógica ideológica é lacunar, ou seja, nela os encadeamentos se realizam não a despeito das lacunas ou dos silêncios, mas graças a eles; por outro lado, sua coerência depende de sua capacidade para ocultar sua própria gênese, ou seja, deve aparecer como verdade já feita e já dada desde todo o sempre, como um “fato natural” ou como algo “eterno”. Esses dois mecanismos permitem que cheguemos a duas conclusões de grande envergadura no que concerne à crítica das ideologias. Como lógica da lacuna e do silêncio, a ideologia não se opõe a um discurso pleno que viria “preencher os brancos” e tornar explícito tudo quanto ficara implícito. Em geral, é pela oposição entre o lacunar e o pleno que se costuma distinguir ideologia e ciência. Ora, não há qualquer possibilidade de tornar o discurso ideológico um discurso verdadeiro pelo preenchimento de seus brancos. Quando fazemos falar o silêncio que sustenta a ideologia, produzimos um outro discurso, o contradiscurso da ideologia, pois o silêncio, ao ser falado, destrói o discurso que o silenciava. Não é, pois, a ampliação ou a plena explicitação das representações ideológicas que constituem uma crítica da ideologia transformada em ciência, mas a destruição das representações e das normas pela destruição de seus andaimes, isto é, as lacunas. A segunda consequência concerne à questão da gênese. A lógica ideológica só pode manter-se pela ocultação de sua gênese, isto é, a divisão social das classes, pois, sendo a “missão” da ideologia dissimular a existência dessa divisão, uma ideologia que revelasse sua própria origem se autodestruiria. Por essa razão, a ideologia deve fabricar teorias a respeito da origem da sociedade e das diferenças sociais de modo a poder negar sua origem verdadeira. Trata-se, pois, da produção de uma gênese imaginária sustentada por determinadas “teorias” da história nas quais ideias, como as de progresso ou de desenvolvimento, têm a finalidade de colocar o presente como uma fase necessária do desdobrar do passado e do advento do futuro, estabelecendo continuidade entre eles. Assim, por exemplo, nos primórdios da ideologia burguesa, a gênese da sociedade era explicada por um pacto social como um “progresso” humano em face da Natureza, enquanto, na ideologia burguesa contemporânea, a origem e a finalidade da sociedade são dadas pelas ideias de racionalidade, organização e planificação, entendidas como um “progresso” no conhecimento “objetivo” das relações sociais.
-
A anterioridade do corpus, a universalização do particular, a interiorização do imaginário como algo coletivo e comum e a coerência da lógica lacunar fazem com que a ideologia seja uma lógica da dissimulação (da existência de classes sociais contraditórias) e uma lógica da ocultação (da gênese da divisão social). Por esse motivo, uma das operações fundamentais da ideologia consiste, segundo Claude Lefort, em passar do discurso de ao discurso sobre. Assim, podemos quase detectar os momentos nos quais ocorre o surgimento de um discurso ideológico: por exemplo, quando o discurso da unidade social se tornou realmente impossível em virtude da divisão social, surgiu um discurso sobre a unidade; quando o discurso da loucura tem que ser silenciado, em seu lugar, surge um discurso sobre a loucura; onde não pode haver um discurso da revolução, surge um outro, sobre a revolução; ali onde não pode haver o discurso da mulher, surge um discurso sobre a mulher etc. Ora, essa passagem do discurso de ao discurso sobre caracteriza várias de nossas atividades intelectuais, como a ciência (a psiquiatria que fala sobre a loucura, a sexologia que fala sobre o sexo, a tecnologia que fala sobre o trabalho, a pediatria que fala sobre a criança), a filosofia (que fala sobre as coisas e sobre as ideias) e, talvez, a pedagogia, discurso sobre a educação. O discurso sobre, em geral, oculta seu caráter ideológico chamando-se a si mesmo de Teoria. A distinção entre duas formas de discurso pode permitir que distingamos algo que tendemos a não diferenciar muito: o conhecimento e o pensamento. O conhecimento é a apropriação intelectual de um certo campo de objetos materiais ou ideais como dados, isto é, como fatos ou como ideias. O pensamento não se apropria de nada – é um trabalho de reflexão que se esforça para elevar uma experiência (não importa qual seja) à sua inteligibilidade, acolhendo a experiência como indeterminada, como não-saber (e não como ignorância) que pede para ser determinado e pensado, isto é, compreendido. Para que o trabalho do pensamento se realize, é preciso que a experiência fale de si para poder voltar-se sobre si mesma e compreender-se. O conhecimento tende a cristalizar-se no discurso sobre; o pensamento se esforça para evitar essa tentação apaziguadora, pois quem já sabe, já viu e já disse não precisa pensar, ver e dizer e, portanto, também nada precisa fazer. A experiência é o que está, aqui e agora, pedindo para ser visto, falado, pensado e feito.
Alguns temas para discussão
Os temas que enumerarei a seguir não obedecem a qualquer critério lógico de encadeamento, nem pretendem abranger todos os problemas suscitados pelo trabalho pedagógico. A escolha foi aleatória e sem pretensão a qualquer “esgotamento” das questões.
a) Quem silencia o discurso da educação?
Como sabemos, em nossa sociedade, é tacitamente obedecida uma regra que designarei como a regra da competência e cuja síntese poderia ser assim enunciada: não é qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Em outras palavras, o emissor, o receptor e o conteúdo da mensagem, assim como a forma, o local e o tempo de sua transmissão dependem de normas prévias que decidem a respeito de quem pode falar e ouvir, o que pode ser dito e ouvido, onde e quando isso pode ser feito. A regra da competência também decide de antemão, portanto, quais são os excluídos do circuito de comunicação e de informação. Essa regra não só reafirma a divisão social do trabalho como algo “natural”, mas sobretudo como “racional”, entendendo por racionalidade a eficiência da realização ou execução de uma tarefa. E reafirma também a separação entre os que sabem e os que “não sabem”, estimulando nestes últimos o desejo de um acesso ao saber por intermédio da informação (isto é, por meio do discurso sobre).
A regra da competência nos permite indagar: quem se julga competente para falar sobre a educação, isto é, sobre a escola como forma de socialização? A resposta é óbvia: a burocracia estatal que, por intermédio dos ministérios e das secretarias de educação, legisla, regulamenta e controla o trabalho pedagógico. Há, portanto, um discurso do poder que se pronuncia sobre a educação, definindo seu sentido, finalidade, forma e conteúdo. Quem, portanto, está excluído do discurso educacional? Justamente aqueles que poderiam falar da educação enquanto experiência que é sua: os professores e os estudantes. Resta saber por que se tornou impossível o discurso da educação.
A ideologia contemporânea está montada sobre o mito da racionalidade do real entendida como razão inscrita nas próprias coisas e expressa através das ideias de organização e de planejamento. Como sabemos, a origem dessa ideologia encontra-se no mundo econômico da produção, isto é, no taylorismo como forma de racionalizar o processo de trabalho. A racionalidade taylorista opera em dois níveis: no primeiro, fragmenta ao máximo o processo de trabalho a fim de torná-lo cada vez mais “produtivo”, isto é, cada vez mais rentável pelo controle exercido sobre cada parte do corpo do trabalhador; no segundo, procura reunificar o que foi fragmentado, recorrendo à organização e à planificação. Ora, essas duas esferas concernem à decisão acerca do processo de trabalho e encontram-se separadas da esfera da simples execução. A “racionalidade” consiste pura e simplesmente em separar de modo radical aqueles que decidem ou dirigem e aqueles que executam ou são dirigidos, retirando destes últimos todo e qualquer poder sobre sua própria atividade. O mito da racionalidade assim concebida permite, por um lado, o surgimento das burocracias como forma de reunificar o disperso, reproduzindo-se nelas próprias (através do sistema de autoridade fundado na hierarquia) a mesma divisão efetuada na esfera produtiva, mas permite ainda, por outro lado, o surgimento da ideia de administração. Administrar é organizar e planejar. Ora, o que caracteriza a sociedade de mercado ou o modo de produção capitalista é o fato de engendrar, a partir de uma equivalência (as mercadorias), um sistema universal de equivalentes graças a vários processos de abstração, ao final dos quais tudo se equivale a tudo ou qualquer coisa vale por qualquer outra. Essa homogeneização do social equalizando abstratamente todas as esferas de socialização e todas as obras sociais é o que torna possível o advento da noção e da prática da administração. Com efeito, a administração possui seu próprio sistema de regras, normas e preceitos, seus próprios princípios acerca do ato administrativo independentemente do objeto ou realidade que será administrada. Em outras palavras, do ponto de vista da administração, a Volkswagen, a universidade, o ensino fundamental e o ensino médio, o Detran [Departamento de Trânsito], a PM [Polícia Militar], o museu de arte, o cinema, o teatro, a Bombril ou a Bendix são absolutamente equivalentes. Nada há, do ponto de vista da administração, nada que individualize ou singularize esses “objetos”, pois são todos igualmente administráveis, isto é, organizáveis e planejáveis.
Assim, a regra da competência, somada ao mito da racionalidade encarnada no taylorismo e na burocracia (com suas sequelas, isto é, hierarquia, fragmentação, separação entre dirigentes e dirigidos), acrescida dos padrões de organização e planejamento sob a forma “neutra” da administração, silencia o discurso da educação, para que o poder fale sobre ela. A educação não pode falar porque, se o fizer, obrigará ao reconhecimento de sua existência singular ou específica articulada a outras singularidades que diferenciam as relações sociais, de sorte que, de diferença em diferença, acabaria levando ao reconhecimento das divisões sociais.
Postas as coisas nesses termos, poderíamos levantar algumas questões, como, por exemplo, por que há interesse em regionalizar a educação (aparentemente, portanto, admitindo diferenças)? Mas por que há interesse em articular a regionalização com as ideias generalizadoras de segurança e desenvolvimento nacionais (apagando a diferença inicialmente afirmada)? Por que há interesse em cursos profissionalizantes (supondo, outra vez, a diferença, agora no plano da demanda e da clientela)? Mas por que há interesse numa seriação tal que, a partir de um determinado ponto, a profissionalização mude de significado, isto é, profissionalizar-se no ensino médio e na universidade não têm o mesmo sentido (aumentando, portanto, a diferenciação ao mesmo tempo em que esta fica escondida sob a designação meramente quantitativa dos “graus”)? Enfim, o que é, quem é e para que serve um administrador escolar?
b) A noção de maturidade e a confecção de currículos e programas de ensino
Em um outro trabalho (“A reforma do ensino”, Discurso, Dep. de Filosofia-USP, n. 8, 1978) procurei assinalar qual a ideia de educação e de conhecimento que se encontrava subjacente à reforma do ensino. No entanto, naquele trabalho, não fiz referência a um aspecto que, hoje, gostaria de sugerir como tema de discussão: a relação entre programas, currículos e a noção de maturidade. Aparentemente, essa ideia encontra fundamento real e objetivo graças às pesquisas das ciências biológicas e psicológicas. Todavia, se focalizarmos nossa atenção numa outra noção, deixada no silêncio, poderemos desconfiar um pouco da cientificidade e da neutralidade da noção de maturidade. Refiro-me à noção de imaturo. Quem, nas sociedades ocidentais modernas, tem sido sistematicamente definido como imaturo? A criança, a mulher, as “raças inferiores” (negros, índios e amarelos) e o povo. Qual a consequência fundamental da imputação de imaturidade a essas figuras? A legitimidade de dirigi-las e governá-las, isto é, de submetê- -las. Ora, se a noção de imaturidade é claramente política e ideológica, por que sua contraface, isto é, a maturidade, haveria de ser científica (vale dizer, real e verdadeira)? E, uma vez que programas e currículos são montados sobre essa noção, não caberia analisá-la um pouco mais a fundo para que se pudesse averiguar a quem serve e a que serve? Se fizermos falar o silêncio da imaturidade, o discurso sobre a maturidade permanecerá intacto?
c) Escola e comunidade
Que se entende por comunidade numa sociedade de classes? Quem são os representantes da comunidade junto à escola? Que são e quais os serviços que a escola deve prestar à comunidade? Nas universidades, não há qualquer dificuldade para responder a essas questões. Basta examinar a composição dos Conselhos Universitários para verificar que os representantes da comunidade são os membros do patronato e que os serviços à comunidade consistem em fornecer determinados tipos de mão de obra às empresas. Mas, nas escolas de ensino fundamental e médio, quem é a comunidade?
Na verdade, a própria ideia de comunidade mereceria uma certa atenção. Como sabemos, na conceituação weberiana, a comunidade é constituída pelas relações tradicionais de serviço e defesa mútuos prestados por membros de um mesmo grupo cuja solidariedade se funda na família, na tribo, no clã, na religião etc. Na análise de Marx acerca das formas pré-capitalistas, os três tipos de comunidades estudadas (primitiva, oriental e germânica-feudal) são constituídos por uma determinação fundamental, qual seja, a forma comunitária da propriedade (da terra) e dos instrumentos de trabalho (no artesanato). Ora, seja do ponto de vista weberiano, seja do ponto de vista marxista, onde estão as comunidades na sociedade de mercado (Weber) ou no modo de produção capitalista (Marx)? Seria por obra do acaso que a ideia de Nação e de comunidade nacional tenham surgido exatamente quando a realidade das comunidades desapareceu? Se a comunidade não for a Nação (pois esta se encontra dividida em classes), onde estará? Na perspectiva da teologia da libertação, surge a ideia da comunidade como uma comunidade de destino, de sorte que o vínculo que une os membros de uma comunidade é o destino comum. Ora, dada a divisão das classes, haveria diferença entre comunidade de destino e classe social? Se houver, qual poderá ser?
Quando, portanto, aceitamos os termos da lei segundo a qual a escola recebe e presta serviço à comunidade, não estaremos confundindo o bairro, a vila, a periferia, isto é, os agrupamentos, com a comunidade? Mas o que há de ser uma comunidade assim definida? O que se oculta sob ela? O que está sendo silenciado quando se fala sobre comunidade numa sociedade de classes onde as condições objetivas da vida comunitária não podem existir?
d) O critério da autoavaliação
Em que medida, numa sociedade, como a nossa, pode haver autoavaliação? Até que ponto essa ideia não simplifica problemas complexos que vão desde o plano metafísico até o plano pedagógico?
No plano metafísico, se considerarmos a vida intersubjetiva como originária e na qual somos pelo e para o outro, o que seria autoavaliar--se? No plano antropológico, se considerarmos a cultura como sistema simbólico que define regras e valores para seus membros e por cujo intermédio podem reconhecer-se e identificar-se, o que seria autoavaliar-se? Considerando-se a questão pelo ângulo metafísico e antropológico, seria possível admitir a autoavaliação como caminho para a autonomia? Não seria o inverso que ocorreria? Isto é, não haveria na ideia de autoavaliação uma simplificação psicologizante que deixa em silêncio seus riscos?
Em termos sociológicos e políticos, não caberia perguntar o que é autoavaliar-se numa sociedade dividida em classes e unificada através do Estado? Quem fornece os critérios da avaliação? Quais são eles? Qual seu sentido e finalidade? Até que ponto esses critérios são ou não instrumentos para inculcar no aluno determinadas expectativas e valores que não só anulem sua individualidade, mas sobretudo forneçam uma direção prévia às suas expectativas sociais? Em termos psicológicos, a autoavaliação não seria um sutil mecanismo de interiorização da regra, da lei e da repressão? Em lugar de ser um momento da consciência de si mediada pela consciência do outro (no caso, o professor), não seria o puro apagamento da exterioridade das regras para torná-las internas, tornando impossível lutar efetivamente contra elas, visto que o combate se reduziria a um conflito psicológico interior?
A questão colocada nessa perspectiva não permitiria indagar, em termos ideológicos, se a autoavaliação não seria apenas a dissimulação da exterioridade da autoridade, tornando-a invisível porque internalizada? E, se for esse o caso, a quem e por que interessa a invisibilidade da autoridade e por que interessa batizá-la com os nomes de liberdade e responsabilidade? Liberdade com relação a quê? Responsabilidade pelo quê?
Donde uma última questão: a que e a quem serve uma pedagogia fundada no critério da autoavaliação que escamoteia problemas metafísicos (a identidade consigo mesmo como conquista da autonomia no interior da vida intersubjetiva), antropológicos (o papel da cultura na criação dos símbolos de reconhecimento), sociológicos, políticos e ideológicos (o exercício da dominação graças ao apagamento das diferenças de classes pela universalidade ilusória atribuída à regra particular interiorizada) e psicológicos (a autoavaliação como mecanismo de controle e como instrumento de adaptação)? Não estaríamos aqui diante de uma das formas mais sutis e eficazes de manipulação ideológica, onde a liberdade é definida através de uma autonomia imaginária?
e) Os recursos audiovisuais
À primeira vista, os recursos visuais corresponderiam a uma concepção inteiramente nova da educação, na medida em que fariam o aluno atuar como totalidade corporal e espiritual, de sorte que ver, ouvir e tocar sejam considerados atos tão significativos quanto ler e escrever. No entanto, quando nos aproximamos um pouco da realidade dos recursos audiovisuais, ou pelo menos daqueles mais comumente empregados no Brasil, nota-se que realizam o oposto do que talvez pretendessem. Em primeiro lugar, verifica-se que o aluno fica reduzido à posição de mero consumidor e que sua passividade é aumentada pela ilusão de atividade ou de “participação” que tais recursos supostamente lhe pediriam, uma vez que não é criador deles, mas seu receptor e, quando muito, seu imitador. Em segundo lugar, há nesses recursos uma tendência a simplificar enormemente as questões, banalizando o conhecimento, freando o pensamento, tornando o mundo da cultura algo “divertido”, porque na “diversão” desaparece o trabalho criador como trabalho (isto é, como transformação da realidade imediata numa obra que a exprime e a compreende). Em terceiro lugar, há nesses recursos uma redução da dimensão simbólica da cultura porque sua dimensão expressiva ou significativa é achatada numa concepção binária e puramente denotativa dos signos, uma vez que os recursos audiovisuais estacionam na esfera da correspondência biunívoca entre um signo e uma coisa, anulando aquilo que torna possível tal correspondência: a significação ou expressão. A conotação desaparece e, com ela, o simbólico, o imaginário e a possibilidade da crítica, pois como se poderia criticar aquilo que é puramente denotativo? Isto é, aquilo cujo sentido parece como inteiramente dado na relação transparente do signo com a coisa?
Diante dos recursos audiovisuais, poderíamos indagar: a quem interessa uma relação com a cultura na forma do consumismo? A quem interessa a banalização e simplificação da cultura? A quem interessa ocultar a dimensão do trabalho cultural sob a ilusão da “criatividade”? A quem interessa que a educação seja apenas mais um item da cultura de massa e da indústria cultural? Quem lucra, do ponto de vista econômico, com a fabricação desses recursos? Quem lucra, social e politicamente, com seu uso? A quem interessa que a democratização da cultura seja sinônimo de massificação, de tal modo que o “direito igual de todos à educação” se converta automaticamente na suposição de que, para ser um “direito igual”, a educação deve reduzir-se à vulgarização dos conhecimentos através da mídia. Assim como a autoavaliação inventa uma pseudoliberdade, o recurso audiovisual tende a transformar a igualdade educacional em nivelamento cultural pelo baixo nível dos conhecimentos transmitidos.
f) A dinâmica de grupo
À primeira vista, se considerarmos, por exemplo, a ideia de Sartre do grupo em fusão como acontecimento histórico e social decisivo porque destrói (ainda que momentaneamente) a multidão como massa sem rosto, a dinâmica de grupo parece ser um recurso valioso: diminui a competição e o individualismo típicos do universo burguês, cria condições para uma intersubjetividade na qual as tensões podem ser trabalhadas em lugar de ser camufladas ou mantidas numa situação de pura destrutividade recíproca, torna possível uma participação efetiva dos estudantes em seus próprios problemas e nos de suas relações com o professor e com a escola, abre campo para discussões coletivas e, portanto, para o entendimento recíproco das diferenças.
Todavia, quando examinamos mais de perto as “teorias” acerca da dinâmica de grupo, tendemos a desconfiar de seus resultados, ou melhor, podemos perceber que viabilizam resultados opostos aos que eram esperados. Há pelo menos dois efeitos da dinâmica de grupo que merecem atenção por parte dos pedagogos. O primeiro deles concerne ao fato de que tal dinâmica tende a gerar uma forma nova e mais sutil de dependência recíproca. De fato, ao abolir, em decorrência da força numérica do grupo, a autoridade visível do professor, a dinâmica recria no interior do próprio grupo autoridades invisíveis porque as relações têm a aparência de serem paritárias, quando não o são. Surgem líderes e liderados. E há toda uma parafernália psicologizante para “explicar” esse surgimento como algo natural e inevitável, sem que se questione sua origem verdadeira, isto é, a dinâmica de grupo como reprodução, no interior da escola, daquilo que a racionalidade organizatória promove dentro das empresas: a diferença entre dirigentes e dirigidos, sob a ilusão da vida em grupo. O segundo efeito da dinâmica de grupo consiste em criar nos seus membros a expectativa de ampliar para além do espaço grupal (no caso, espaço escolar e de classe) a mesma experiência, o que, sendo impossível, gera frustração permanente, pois o microcosmo artificial criado pela dinâmica de grupo não pode transformar-se em macrocosmo social. A tendência, portanto, poderá ser a de tornar os membros do grupo incapazes de enfrentar e resolver conflitos reais toda vez que o “modelo do grupo” não puder ser aplicado, ou, então, torná--los apáticos e indiferentes a tudo quanto ocorra “fora” do grupo. Assim, em lugar do espaço ser ampliado, encontra-se reduzido pela dicotomia entre o “dentro” e o “fora”.
Evidentemente, quando se procura examinar o que se oculta sob a proposta da dinâmica de grupo, não se trata de eliminar uma forma de trabalho pedagógico que a experiência tem revelado ser extremamente rica: refiro-me ao trabalho em grupo. Mas sua riqueza advém justamente do fato de ser um trabalho, isto é, das relações entre os membros do grupo estarem mediadas por uma tarefa comum, sendo ela o elemento que une e diferencia os membros do grupo. Neste caso, já não estamos diante da pura relação interpessoal em cujo interior a educação não só tende a tornar-se psicoterapia ilusória, mas ainda pode servir para reproduzir e preparar os estudantes para modelos de relações sociais desejadas pela ideologia contemporânea (como, por exemplo, aquelas produzidas pelas “relações humanas” nas empresas).
g) Educação como formação e como conscientização
Em geral, costuma-se opor educação como formação e educação como informação, oposição que reaparece quando se distinguem aprendizagem e treinamento, conscientização e pragmatismo, espírito crítico e autômatos. Aqueles que privilegiam o polo formação/aprendizagem/conscientização têm a esperança de que a educação possa ser um instrumento de conhecimento e de transformação do real, graças à sua compreensão crítica. Não podemos também ignorar o fato de que tais oposições implicam uma outra, qual seja, entre uma visão humanista e uma visão tecnocrática da educação.
O que é “formar”? Quem lê o Emílio de Rousseau, O que são as luzes? de Kant, a Fenomenologia do espírito de Hegel, A educação para a liberdade de Dewey, as propostas da escola nova e da escola ativa, as de Summer Hill ou as de Freinet, para não mencionar a República de Platão, o Dos ofícios de Cícero e o De magistro de Santo Agostinho, há de perceber que a ideia de formação é inseparável de um determinado campo teórico e do contexto histórico no qual é formulada a proposta pedagógica, de sorte que esta não pode ser compreendida sem a compreensão do papel atribuído ao pedagogo com relação à sociedade, à política e ao saber. Lembradas essas obviedades, a questão colocada – que é “formar”? – permanece inteiramente aberta à procura de resposta.
Parece-me um tanto duvidosa a oposição formação/informação e aprendizagem/treinamento, não porque quem forma informa e quem ensina treina, mas porque, ao contrário, informar já é também uma maneira determinada de conceber a formação, assim como treinar já é uma maneira determinada de conceber o aprendizado. Os termos não são dicotômicos e opostos, mas complementares. Evidentemente, poder-se-ia argumentar dizendo que a diferença entre as duas concepções se estabelece num outro plano, ou seja: num dos casos, há uma opção humanista na qual o estudante, como homem, é o fim da educação, enquanto, no outro caso, há uma opção tecnocrática na qual o estudante, e o ser humano, é meio ou instrumento da educação. Ora, se fizermos a distinção entre as duas alternativas pedagógicas usando tais critérios, estaremos apenas optando entre duas versões da ideologia burguesa, pois o homem tanto como fim (Kant, Mounier) quanto como meio (Skinner, Taylor) é uma abstração. Foi em nome da “humanidade” que os povos da África, Ásia e América foram escravizados e trucidados, isto é, colonizados para que de bárbaros se tornassem civilizados. Foi em nome da “humanidade” que, durante o processo da acumulação primitiva do capital, decretou-se que todos os homens eram livres, se bem que a “natureza” tivesse feito alguns mais aptos e outros menos aptos para a liberdade. Foi para salvar o “homem integral” que fascismo e nazismo eliminaram os que eram “menos” homens do que outros etc., etc., etc. Se for em nome do humanismo e da humanidade como fim que estabelecemos oposições entre alternativas pedagógicas, corremos o sério risco de andar em má companhia. Mesmo que se argumente que não se trata dessas concepções deturpadas ou oportunistas do humanismo, mas de um humanismo “verdadeiro” ou “autêntico”, não creio que tenhamos saído do campo definido pela ideologia burguesa, pois é nela que, pela primeira vez, se definiu o Homem como fim, de sorte a legitimar a existência dos homens como meio. Em uma palavra, optar pelo humanismo não é, ainda, criticar a ideologia, mas permanecer no interior de um campo cujas regras são dadas por ela. Suponhamos um professor que, tendo trabalhado as ideias de Freud e de Marx, se decidisse pela crítica do humanismo burguês. A partir desse momento, a educação seria para ele um problema e não uma solução, pois que há de se formar um outro quando se conhece a força irredutível do inconsciente e a dissimulação sistemática da exploração através da moral da responsabilidade? Para tal professor, formar não seria informar aos alunos acerca dessas questões e discuti-las com eles? Mas como poderia esse professor ter a pretensão de formar para a “liberdade” conhecendo o papel corrosivo e repressivo da cultura como superego e o significado de uma sociedade que se reproduz pela reposição da repressão (do corpo e do espírito) através da exploração econômica? Não estaria esse professor tocando justamente nos limites e nas ilusões do humanismo?
Com isso, talvez seja necessário rever a ideia da educação como conscientização. Como sabemos, o surgimento da consciência de si como subjetividade livre e autônoma inaugura o pensamento moderno (Reforma e Filosofia Moderna). Mas sabemos também que papel foi dado a essa ideia na formação da ideologia burguesa. Sob certos aspectos, aliás, poderíamos considerar a ideologia contemporânea da organização/administração como mais “honesta” do que a formulação inicial da ideologia burguesa. Com efeito, nesta, a consciência servia para definir a igualdade, a liberdade e a responsabilidade, isto é, a identidade de todos os homens, garantindo a dissimulação das diferenças de classe. Na ideologia contemporânea, o elemento “consciência” já não exerce qualquer papel, tendo sido substituído pelas ideias de eficiência e de competência no interior dos quadros definidos pela organização. É nisso que a nova ideologia é mais “honesta” do que a anterior. Nela, a consciência permanece apenas a título de retórica no discurso do poder (o apelo à consciência dos cidadãos) e como espetáculo oferecido pelo poder (o prêmio ao melhor operário, estudante, policial, empresário, professor, cientista, isto é, aos mais conscientes de seus deveres e responsabilidades para com o mundo capitalista).
Poder-se-ia argumentar aqui exatamente como se argumentou no caso do humanismo, isto é, dizendo-se que a conscientização seria justamente a formação de um espírito crítico que contestasse as duas versões dominantes acerca da consciência (seja como igualdade, liberdade e responsabilidade abstratas, seja como resíduo retórico ou como espetáculo de reafirmação ideológica). Cabe, portanto, aprofundarmos um pouco a discussão indagando se há ou não riscos ideológicos na concepção da educação como conscientização.
É verdade que a ideia de conscientização pressupõe a aceitação (e a crítica) das diferenças de classe a partir da divisão social e que, sob esse aspecto, é anti-ideológica. Todavia, cabe agora uma pergunta: como a classe social tende a ser tomada na perspectiva da conscientização? Como uma coisa (um fato social) e como uma ideia (a consciência de classe), ou traduzindo para uma linguagem mais conhecida: a classe em si e a classe para si. No caso pedagógico, teríamos o aluno em si e o aluno para si ou o aluno ser-social-em si e o aluno ser-social-para si. Ora, uma classe social e um aluno não são coisas (como pensa a sociologia) nem são ideias (como pensa a filosofia): são um acontecer, um fazer-se, ação e reação, conflito e luta, movimento de autodescoberta e de autodefinição pelo seu próprio agir em cujo curso a classe tanto quanto o aluno se constituem sabendo de si. Qual seria, então, o risco ideológico da noção de conscientização?
Em primeiro lugar, haveria o risco de imaginar o aluno (e a classe social) como uma consciência latente ou virtual, adormecida no seu ser em si e que o professor (ou a vanguarda) viria atualizar ou despertar. Há o risco da atitude iluminista.
Em segundo lugar, haveria o risco de imaginar o aluno (e a classe social) como uma consciência de si que, por ignorar-se a si mesma, isto é, não ser ainda para si, tenderia a manifestar-se através de palavras e de ações alienadas ou como “falsa consciência”. Assim sendo, parecerá necessário esperar que a desalienação ou a consciência “verdadeira” lhe seja trazida de fora por aqueles que “sabem”. Há o risco ideológico de diferenciar o aluno (e a classe social) do professor (e da vanguarda) em termos de imaturidade/maturidade, ignorância/saber, alienação/verdade, em suma, diferenciar hierarquizando e fazendo com que um dos polos seja uma espécie de receptáculo vazio e dócil no qual venha depositar-se um conteúdo exterior trazido pelo outro polo. Com isso, sob o nome de conscientização, reedita-se sob nova roupagem o conservadorismo e o autoritarismo da educação que se pretendia combater.
Não se trata, evidentemente, de abandonar a questão da conscientização, mas apenas de reavaliá-la para poder colocar algumas questões novas. Não seria mais rico, em termos educacionais, se o professor, na relação com os alunos, levasse em conta um fenômeno que encontramos entre aqueles genericamente definidos como oprimidos e dominados (fenômeno, aliás, que encontramos em nós mesmos enquanto professores), qual seja, o da contradição interna entre uma consciência que sabe e uma consciência que nega seu saber? Isto é, a divisão interna entre a clara e total consciência que se tem de uma dada situação e, diante do sentimento ou da percepção da impossibilidade de transformá-la (apesar de conhecê-la), o surgimento de uma segunda consciência, um segundo discurso, uma segunda prática que negam ou anulam aquilo que realmente se sabe. Levar em conta esse fenômeno não seria enfrentar cara a cara o enigma da dominação? Não seria mais rica (em termos pedagógicos, políticos e históricos) uma pedagogia que percebesse e interrogasse esse fenômeno no qual um saber real, uma consciência verdadeira das condições objetivas, é sufocada internamente sob o peso da adversidade que impede à verdade conhecida e reconhecida propagar-se numa prática e que, ao contrário, cinde essa consciência que sabe, fazendo-a produzir atos e discursos negadores de seu saber? Em lugar de nos comprazermos no maniqueísmo apaziguador de certas dicotomias, nas quais tanto a ignorância quanto a verdade vêm de fora, tanto o mal (a opressão) quanto o bem (a liberação) também vêm de fora, não seria mais rica uma pedagogia que levasse a sério o fenômeno da consciência contraditória? Por que essa pedagogia seria mais rica (poderíamos mesmo dizer libertária)? Porque a contradição sendo interna (tanto no aluno quanto no professor), pode pôr-se em movimento por si mesma sem que precise aguardar a ação um “bom” motor-imóvel para movê-la, tirando-a da suposta passividade para levá-la a uma não menos suposta atividade. Uma pedagogia desse tipo não seria iluminista, intervencionista, dirigista, mas tentaria captar aqueles momentos objetivos e subjetivos nos quais a contradição possa vir a explicitar-se. Não se trata de um espontaneísmo aguardando que cada um faça quando puder e como puder a autodescoberta de suas contradições; trata-se apenas de uma pedagogia capaz de criar condições (o que pode ser obra tanto dos alunos quanto do professor quanto de todos) para que a descoberta possa acontecer. Por isso, o primeiro tema que sugeri para o debate foi o da retomada da noção de maturidade e de seu papel na confecção de programas e currículos. De que garantia dispomos para nos certificarmos de que a noção de maturidade não é um dos grandes obstáculos para essa pedagogia?
h) O que seria o professor?
Platão diria: aquele capaz de fazer com que o outro se lembre da verdade, reconhecendo-a. Rousseau diria: aquele capaz de fazer da cultura uma astúcia que reproduza, por novos caminhos, a vida natural perdida. Kant diria: o que traz as luzes, ensinando a pensar em lugar de fornecer pensamentos. O jesuíta disse: aquele capaz de estabelecer uma distância absoluta entre o conhecimento e o real, ensinando, por exemplo, a crianças que falam o português, o latim por meio das regras da gramática latina. Hegel diria: aquele capaz de fazer lembrar e de trazer as luzes, respeitando as etapas de desenvolvimento da consciência. Victor Cousin disse: um funcionário posto pelo Estado a fim de transmitir moral e civismo, formando espíritos aptos necessários ao próprio Estado. Um marxista perguntaria: quem educa o educador? Paulo Freire disse: aquele capaz de conscientizar, revelar a opressão e anular a colonização.
Essa multiplicidade de afirmações díspares (quase um samba do crioulo doido) e abstratas, pois foram feitas sem qualquer consideração do contexto histórico que as solicitava, tem apenas a finalidade de um lembrete óbvio: quando propomos uma pedagogia, além de possuirmos determinadas ideias acerca do conhecimento e de sua transmissão e uma ideia acerca do aluno, qual o professor que pressupomos?
Na qualidade de professora e de alguém que há pouco fez sugestões pedagógicas a partir da visão do aluno como consciência contraditória, sinto-me na obrigação de explicitar brevemente qual seria o professor aqui pressuposto. Gostaria de adiantar que se trata de um professor utópico. Por utópico não entendo ideal e impossível, pois a utopia não é isso. Trata-se de um professor que é utópico porque ora pode existir e ora pode desaparecer, cuja permanência é fugaz porque, como seus alunos, também é uma consciência dividida que substitui o que realmente sabe por uma prática negadora de seu saber efetivo. É um professor possível (e não provável), isto é, que tanto pode existir quanto não existir, tudo dependendo das condições contingentes de seu trabalho. É, portanto, um professor que não possui modelos para imitar porque aceitou a contingência radical da experiência pedagógica.
O trabalho pedagógico, por ser um trabalho, não é transmissão de conhecimento (para isso existem outros instrumentos), mas também não é um diálogo, uma comunicação intersubjetiva entre o professor e seus alunos. O professor trabalha para suprimir a figura do aluno enquanto aluno, isto é, o trabalho pedagógico se efetua para fazer com que a figura do estudante desapareça. Para isso, o professor precisa fazer um esforço cotidiano para que seu lugar permaneça vazio, pois seu trabalho é tornar possível o preenchimento desse lugar por todos aqueles que estão excluídos dele e que aspiram a ele e ao qual não poderiam aspirar se já estivesse preenchido por um senhor e mestre. Porque existe o lugar do professor, mas existe como lugar vazio, todos podem desejá-lo e ninguém pode preenchê-lo senão sob o risco de destruí-lo. A relação professor-aluno é assimétrica e sem diálogo: este se torna possível quando o aluno desaparece e em seu lugar existe o novo professor. O diálogo é ponto de chegada e não ponto de partida, só se torna real quando o trabalho pedagógico termina e o professor encontra-se com o não-aluno, o outro professor, seu igual. É preciso aceitar a assimetria com rigor para não forjar a caricatura do diálogo e exercer disfarçadamente a autoridade. Ausência de diálogo não significa presença da autoridade: o lugar do professor está vazio, pois seu ocupante ali se encontra para deixá-lo através de seu próprio trabalho. Ao professor não cabe dizer “faça como eu”, mas “faça comigo”. O professor de natação não pode ensinar o aluno a nadar na areia fazendo-o imitar seus gestos, mas leva-o a lançar-se n’água em sua companhia para que aprenda a nadar lutando contra as ondas, fazendo seu corpo coexistir com o corpo ondulante que o acolhe e repele, revelando que o diálogo do aluno não se trava com seu professor de natação, mas com a água. O diálogo do aluno é com o pensamento, com a cultura corporificada nas obras e nas práticas sociais e transmitidas pela linguagem e pelos gestos do professor, simples mediador.
Por que esse professor é utópico ou possível? Por que ora aparece, ora desaparece? Porque sua posição é muito arriscada: está sempre a um passo de tornar-se guru, de assenhorear-se do lugar do mestre e manter os alunos, para sempre, na condição de discípulos. Uma pedagogia crítica deveria interrogar esse risco cotidiano: de onde vem e por que vem a sedução de tornar-se guru? De onde vem e por que vem em nós e nos alunos o desejo de que haja um Mestre, o apelo à figura da autoridade? E por que, divididos que somos, não cessamos de ter consciência desse risco e dessa sedução sem cessarmos de agir para promovê-los? Que forma mais sutil poderia haver para reconciliar nossa divisão do que fazer com que os alunos dialoguem conosco e não com o pensamento e com o mundo que os rodeia, dissimulando nesse diálogo imaginário o deslocamento operado para conduzir a assimetria real até uma simetria ilusória? A ideologia não está fora de nós como um poder perverso que falseia nossas boas intenções: ela está dentro de nós, talvez porque tenhamos boas intenções.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
Jan-Mar 2016