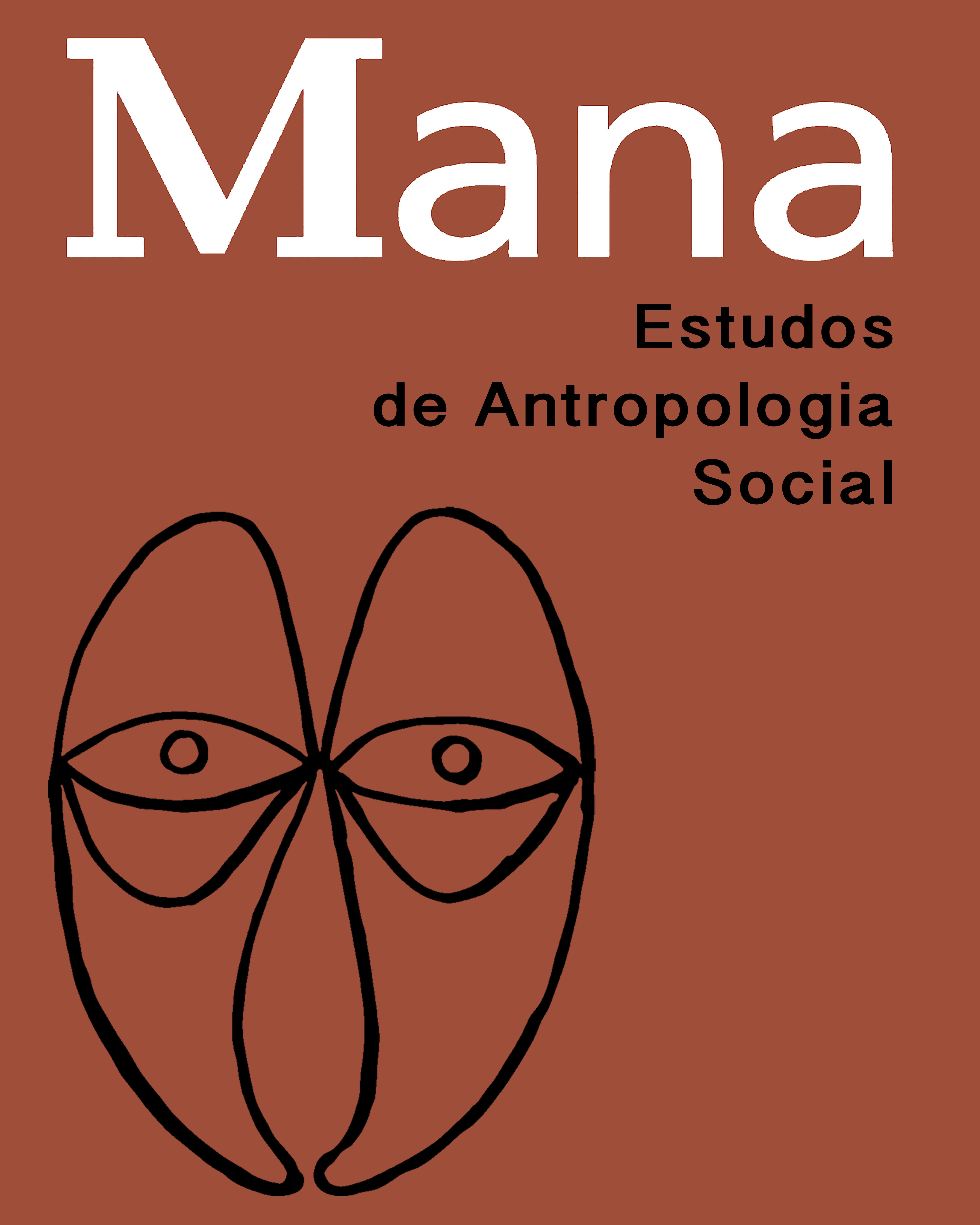Resumo
Nos últimos anos, assiste-se a uma onda de remoções e derrubadas de monumentos públicos, intensificadas após as manifestações antirracistas de 2020, depois o assassinato de George Floyd, homem negro asfixiado por um policial branco, nos Estados Unidos. A partir dos atos que contestaram o monumentalismo na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Chile, busca-se refletir neste artigo sobre a forma com que tais eventos desestabilizam a concepção predominante da existência de um comum no espaço e no tempo. Propõe-se como exercício imaginar o surgimento dos possíveis incomuns da história através de casos que, neste ensaio, serão apresentados enquanto uma especulação ontológica. Serão abordadas as dissonâncias em torno dos debates que se seguiram aos atos de contestação das representações monumentais mostrando que, embora eles tenham ocorrido no mesmo recorte temporal e em lugares distintos, persiste a impossibilidade de traçar uma linha de similitudes que enquadre cada um destes casos a fundo comum.
Palavras-chave:
Monumentalização; Descolonização; Espaço público; Mapuche; Antirracismo
Abstract
Over the past years, we have seen a wave of removals and demolitions of public monuments, which intensified after the anti-racist demonstrations of 2020 following the murder of George Floyd, a black man choked to death by a white police officer in Minneapolis in the United States. Looking at acts challenging monumentalism in England, the United States and Chile, we seek to reflect on how such events destabilize the prevailing conception of the existence of a common in space and time. We propose as an exercise the imaging of the emergence of a possible uncommon of history through cases that, in this essay, will be presented as ontological speculation. We will address the dissonances surrounding the debates that followed the acts of contesting monumental representations, showing that, although they occurred in the same time frame and in different places, it is impossible to draw a common line of similarities that fits each of these cases into a shared framework.
Keywords:
Monumentalization; Decolonization; Public space; Mapuche; Antiracism
Resumen
En los últimos años se ha producido una ola de remociones y derrumbes de monumentos públicos, intensificada tras las manifestaciones antirracistas de 2020, tras el asesinato de George Floyd, un hombre negro asfixiado por un policía blanco, en Estados Unidos. A partir de los actos que desafiaron el monumentalismo en Inglaterra, Estados Unidos y Chile, este artículo busca reflexionar sobre cómo tales hechos desestabilizan la concepción imperante de la existencia de un común en el espacio y el tiempo. Se propone como ejercicio imaginar el surgimiento de lo posible incomún de la historia a través de casos que, en este ensayo, se presentarán como una especulación ontológica. Se analizan las disonancias en torno a los debates que siguieron a los actos de impugnación de las representaciones monumentales, mostrando que, aunque ocurrieron en el mismo marco temporal y en diferentes lugares, persiste la imposibilidad de trazar una línea de similitudes que enmarca cada uno de estos casos en un trasfondo común.
Palabras clave:
Monumentalización; Descolonización; Espacio público; Mapuche; Antiracismo
Introdução
Convidado por Jean-Paul Ameline, curador da exposição “Face à l’Histoire” (1996-1997, Centro Georges Pompidou, Paris) e por Sylvie Astric, organizadora da mostra de cinema memorialista realizada no marco da exposição, Jacques Rancière escreveu dois ensaios atrelados à temática do evento. Inspirado pelas colocações ao redor de um campo das artes plásticas chamado de pintura histórica, assim como pelo cinema memorialista, documental e ficcional, o filósofo elaborou sobre as maneiras em que a história se conforma através das formas estéticas.
De certo modo, esses textos, já publicados em português (Rancière 2018aRANCIÈRE, Jacques. 2018a. Figuras da história. São Paulo: Editora Unesp.), são experimentos para pensar o tempo através das figurações e, neste sentido, mostrar como as diferentes formas da história se condensam, se apresentam como um todo acoplado à estética documental e plástica tematizada pela mencionada exposição. Formam, portanto, uma analogia que permite que a história seja pensada e, como consequência, examinada como se faz com uma imagem. Um dos argumentos de Rancière é o de que, entendida como o tecido do agir humano na tradição euro-americana, a história configura a indicação de que se pertence a um mesmo tempo e que, neste sentido, se compartilha de um comum. Este último conduz à potência ontológica da história, isto é, sua capacidade enquanto engendradora de realidades. O problema está, no entanto, no fato de que "a história sempre foi história apenas daqueles que 'fazem história'" (Rancière 2018aRANCIÈRE, Jacques. 2018a. Figuras da história. São Paulo: Editora Unesp.:19).
Reposicionando os nexos do argumento de Rancière, talvez descaradamente a nosso favor, temos o seguinte problema: aqueles que fazem história produzem, como pressuposto, um tempo ao qual tudo e todos pertencem e que fundamenta o comum sobre o qual o próprio pertencimento se edifica e se faz como real. No entanto, fazer história não quer dizer responder às perguntas colocadas pelos outros que não seus fazedores, mas recortar o campo do sensível a partir daquilo que interessa, não como uma esfera genérica, mas à política do ser e não ser da história e seus fazedores. Assim, a estética da história é uma divisão do sensível que diz o que é em oposição ao que não é; numa imagem que dificilmente inverte as posições entre figura e fundo, ela recorta o mundo dando forma ao que interessa sobre o fundo daquilo que não interessa. Se este último não cessa, no entanto, de fazer-se presente, ele termina ocupando o lugar do silêncio e do invisível; de seu outro que não é.
Vazio de densidade ontológica, este outro não existe como história, seu tempo e seu pertencimento. Segundo Rancière (2018aRANCIÈRE, Jacques. 2018a. Figuras da história. São Paulo: Editora Unesp.:38), há na estética do ser da história um "pacto de opressão entre aqueles que sempre perguntam e os que nunca respondem", o que implica que não estamos tão longe de dizer que, mesmo compondo tal imagem, os outros da história não são, não podem ser escutados ou vislumbrados em sua própria densidade ontológica. Eles são parte da composição do que interessa aos fazedores de história, em seus termos. O problema não parece ser, assim, o de ausência de voz, mas o da incompatibilidade entre gramáticas de mundo (Spivak 2010SPIVAK, Gayatri. 2010 [1988]. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG.; Maciel 2021aMACIEL, Lucas da Costa. 2021a. "Spivak, pós-colonialismo e antropologia: pensar o pensamento e o colonialismo-em-branco dos nossos conceitos”. Revista de Antropologia, 64 (2), e186659. https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2021.186659.
https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.20...
).
Cabe perguntar-nos, então, o que aconteceria se os outros da história aprendessem sua gramática, sua forma de dizer o que é e o que importa para, desta maneira, recusar sua distribuição do sensível e deslocar o tempo do comum. E se, em lugar do comum, a recusa a essa gramática permitir a emergência do incomum? Quais seriam as figuras de tempo que poderiam emergir da política dos incomuns? Em um exercício de pensar com as demandas de diferença que atravessam a contemporaneidade, gostaríamos de nos voltar, agora, para uma pulsão que atravessa o mundo pós-colonial: aquilo que, como fenômeno de identidade de superfície, configura uma aversão às figuras de história distribuídos pelos espaços que os governos e as filosofias euro-americanas imaginam como públicas, assim como o ímpeto iconoclasta que parece acompanhá-la.
Referimo-nos, assim, ao esforço de "mandar os malditos embora" (Menezes 2020MENEZES, Hélio. 2020 (junho 19). “Mandar os malditos embora. Deslocamentos informam o que já não se pode mais tolerar”. Folha de São Paulo.). Em outros termos, nos dedicaremos a explorar alguns eventos associados ao processo de descolonização das cidades, da noção de público e da história monumentalizada, por assim dizer, tratando, ao mesmo tempo, de qualificar alguns contornos do que isto pode significar. O exercício é assumir que não sabemos do que se trata a descolonização quando ela emerge no campo da política, este lugar das disputas para determinar do que estão feitas as coisas (Rancière 2018bRANCIÈRE, Jacques. 2018b. O desentendimento. São Paulo: Editora 34.).
Acompanharemos a derrubada de monumentos históricos - estátuas, bustos e análogos - em diferentes contextos, tratando de imaginar, numa nova partilha do sensível, o que estes atos nos mostram.1 1 Cientes dos debates acirrados que envolvem os termos monumento, estátua e escultura, entre outros, optamos por não esmiuçar as discordâncias que deles se desdobram, uma vez que muitos dos autores que se dedicaram ao tema partem da perspectiva dos estudos de patrimônio. Dentre eles, destaca-se Pierre Nora (1993) que pensou, a partir do caso da identidade nacional francesa, as relações entre memória, monumento e espaço, elaborando o conceito de “lugares de memória”. Para o autor, as instalações, sobretudo públicas, ocupam os espaços como celebrações de determinada memória nacional convertida em elemento simbólico por meio do jogo de justaposições entre a memória e a história (Nora 1993:22). A pergunta que perseguimos se interessa pelo que se torna visível, ainda que apenas parcialmente, quando o sensível deixa de estar ocupado pelo busto ou pela estátua de determinadas personagens históricas. Em outros termos, nos perguntamos pelos problemas que pululam quando a política do visível passa a responder à multiplicidade do incomum e não à identidade do tempo comum da história e seus monumentos. Queremos apresentar o que as remoções e derrubadas, proliferadas durante os anos de 2019 e 2020, tornam visíveis para nós, autoras desta reflexão, quando decidimos torná-las um problema de especulação ontológica.
Com este último, queremos nos referir a uma prática de criação de aberturas e possíveis interessada em fazer diferir conjuntos que predispõem o ser das coisas e dos eventos, isto é, dedicada a fazer aparecer problemas distintos que, de outro modo, poderiam emergir como unívocos. Para tanto, buscamos resistir ao ímpeto de reinscrição ontológica enquanto descrevemos a questão. A ideia é nos precavermos de que as perguntas que abrem uma especulação terminem em novas predisposições sobre o que derrubadas de monumentos podem ser. Nosso engajamento é com o modo com que certa "imaginação radical" (cf. Hartman 2019HARTMAN, Saidiya. 2019. Wayward Lives, Beautiful Experiments. Intimate Histories of Riotous Black Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals. New York: W. W. Norton & Company.) aponta para formas autonômicas que, em risco constante de reinscrição, escapam às formas previstas de ser. Por isso, se enfrentamos as derrubadas enquanto forma de medir e governar a política dos incomuns, é porque nos interessa exceder esse marco de regulação da política. Por isso, nosso exercício herda preocupações do pensamento negro e transferminista radical, remontando também às afinidades conceituais com o pensamento de Ferreira da Silva (2019FERREIRA DA SILVA, Denise. 2019. A Dívida Impagável. São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Casa do Povo.), Harney e Moten (2013HARNEY, Stefano & MOTEN, Fred. 2013. The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study. New York: Minor Composition.), Brasileiro (2022BRASILEIRO, Castiel Vitorino. 2022. Quando o sol aqui não mais brilhar: a falência da negritude. São Paulo: N-1 Edições.), Mombaça (2021MOMBAÇA, Jota. 2021. Não vão nos matar agora. São Paulo: Cobogó.) e Mbembe (2018MBEMBE, Achille. 2018. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 Edições .), entre outros.
Assim, menos do que escrutinar o que cada um quer em processos de derrubadas, como se aqui se alojasse de fato uma verdade única e compartilhada, interessa debruçar-nos sobre o que seus atos e suas enunciações podem nos dizer quando compatibilizados com o nosso próprio esforço de pensamento. Veremos, então, de que modo essa iniciativa nos permite falar de políticas incomuns, justamente, ainda que conectadas pelo ato comum de derrubar monumentos. Neste caminho, trataremos de diferenças avizinhadas na necessidade de expurgar os elementos contenedores da estética da história, que, nos contextos que nos interessam, fazem pertencer ao tempo compartilhado da violência colonial.
No entanto, nos enganaremos se imaginarmos que pertencer a esse tempo é habitá-lo coerentemente. Ao contrário, nosso esforço será mostrar como práticas de derrubada e de relação com essas figuras da história - agora ausentes - excedem o comum e o pertencimento histórico. Guiadas por estas recentes retiradas de monumentos, refutamos o modo em que o genocídio é apresentado como identidade (cf. Arqueros et al. 2015ARQUEROS, Gonzalo; AZÚA, Andrés; HIDALGO, Jorge; MENARD, Andés; MORALES, Héctor; QUIROZ, Loreto; RADJL, Giannina; URIBE, Mauricio & URRUTIA, Francisca. 2015. “Patrimonio como extinción: Magallanes en el imaginário chileno”. Sophia Austral, 16 (2):15-40.). Buscaremos mostrar o quanto essa transformação, impulsionada e/ou permitida pelo Estado, tanto como instituição quanto imagem e procedimento vinculado à potência ontológica do tempo da história, é um dos mecanismos da operação colonial.
Para tanto, começaremos remontando à derrubada da estátua de Edward Colston, em Bristol, no Reino Unido, e à remoção do monumento de Theodor Roosevelt, em Nova York, Estados Unidos. A partir de declarações públicas e notícias em jornais, reconstituiremos parte do debate público incitado pela derrubada e pela remoção, tratando de elucidar os critérios a partir dos quais ele se deu. Depois disso, passaremos à exploração etnográfica da derrubada do busto de Hurtado de Mendoza, em Cañete, Chile, por parte de manifestantes de origem mapuche. Daí extrairemos implicações imprevistas para a noção de descolonização quando ela se encontra com o monumentalismo público chileno. Por fim, contrastaremos a exploração etnográfica com as declarações públicas de um proeminente historiador de Concepción, Chile, em torno da derrubada da estátua do colonizador espanhol Pedro de Valdivia, na mesma cidade. Com isso, esperamos tornar evidente a ferida colonial que organiza o monumentalismo e o quanto o tempo comum da história colonial impede formas de relações que escapam dos seus critérios.
Desfazendo armadilhas: os casos de Bristol e dos Estados Unidos
Em 7 de junho de 2020 a pequena praça situada na rua Colston, região central da cidade britânica de Bristol, foi tomada por uma multidão concentrada ao redor da estátua de Edward Colston. O imponente monumento, criado em 1865, se tornou a imagem pública de disputas que ganharam novas visibilidades no contexto dos protestos antirracistas que se seguiram ao assassinato de George Floyd, homem negro asfixiado pelo policial branco Derek Chauvin, em Minneapolis, Estados Unidos. Os manifestantes situados juntos à estátua de bronze, com cinco metros de altura, diziam frases como "sem justiça, sem paz" [no justice, no peace] e distribuíam no entorno do pedestal da estátua de Colston cartazes com frases, como "fim da brutalidade policial" [end police brutality], "a história está observando #vidasnegrasimportam" [history is watching #blacklivesmetter], "tolerar o racismo é racismo" [tolerating racism is racism] e "silêncio é violência" [silence is violence].
Saídos do coro dos manifestantes, dois homens subiram ao pedestal da estátua de Colston e o amarraram com uma corda nos pés e no pescoço. Em seguida, a estátua foi puxada pela multidão até despencar, transformando o ato em um momento festejado pelo grupo, que recebeu com xingamentos, chutes e pulos a imagem, antes tida como virtuosa e nobre, que figura um homem cuja maior parte da riqueza adveio do comércio de escravizados durante os anos 1680 e 1692, período no qual pertenceu à Royal African Company. A entidade privada, responsável por comercializar pessoas de diversas origens africanas entre 1660 e 1752, marcava suas iniciais, RAC, com ferro quente no peito dos escravizados, transportando-os em embarcações superlotadas com a finalidade de extrair o máximo de lucro no transporte cobrado por pessoa. Além disso, as precárias condições do trajeto e os maus-tratos, que seguiam os moldes gerais do tráfico transatlântico, faziam com que a maior parte deles morresse no trajeto.
Já no chão, aos pés dos manifestantes, a estátua foi pintada com tinta das cores branca e vermelha em seu rosto, e suas pernas foram cobertas de tinta azul. A estátua foi pisoteada, arrastada e arremessada no rio Avon, onde aportavam, séculos antes, embarcações do então senador, filantropo e promissor comerciante Colston. Os protestos em Bristol, motivados pelo movimento Black Lives Matter, colocaram em questão todos estes adjetivos publicamente atribuídos à figura monumentalizada do antigo escravocrata. Durante a semana seguinte à derrubada da estátua, os meios de comunicação apresentaram opiniões divergentes sobre o ocorrido.
De modo geral, o debate se estendia na divisão entre duas caracterizações contrastantes. Para alguns, tratava-se de uma derrubada legítima de grupos com reivindicações justas. Contrapondo-se a esta, e mais predominante no que se refere à mídia, estava a opinião de que atos similares a este configurariam tanto uma demonstração de vandalismo quanto o apagamento arbitrário do passado por meio do revisionismo histórico impulsionado por grupos ditos “minoritários”. Diversas colocações apresentadas nos noticiários indicavam, além disto, que os atos deveriam ser precedidos de debates envolvendo a população local e seus representantes políticos, algo que foi ensaiado através de petições levadas às autoridades locais, sem resultados, contudo.
No desenrolar das opiniões apresentadas pela mídia, a prefeitura de Bristol viu-se envolvida em disputas e debates acalorados que trouxeram luz para a produção dos espaços da cidade e dos elementos que os compõem. Uma das discussões com as quais as autoridades de Bristol tiveram de lidar referiu-se aos destinos possíveis para a estátua do escravocrata. As principais hipóteses levantadas foram a destruição do monumento, a exposição da obra em um museu ou, como expressaram as alas mais conservadoras, devolver-lhe o estatuto de monumento público, recolocando-a no mesmo local de onde nunca deveria ter saído. A este respeito, no que parecia depender do prefeito da cidade, Marvin Rees, do Partido Trabalhista, a estátua não retornaria ao espaço público. Em entrevista à BBC, Rees manifestou o fato de a estátua constar como uma afronta a ele e às pessoas como ele, rememorando o fato de ser filho de pai jamaicano negro e de mãe britânica branca (BBC 2020BBC. 2020. “Bristol slave trader statue: Mayor receives racist letters”. BBC.). Como disse uma das manifestantes presentes no ato do dia 7 de junho, passar em frente da estátua de Colston era como receber um soco no rosto todos os dias, porque, segundo ela, foram as pessoas pretas que construíram Bristol, não aquele homem que estava sendo homenageado sobre o pedestal.2 2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cs36SAytfuE&list=PLjA6fD6h-ewXgBDQrL9TnLujLDc4VZjwP&index=13&t=298s. Acesso em agosto de 2020.
Em meio aos debates sobre a vandalização e a depredação de bens públicos culturais por parte dos manifestantes, a obra permaneceu protegida em um galpão, cujo endereço ficou oculto, conforme aponta o jornal The Telegraph.3 3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d4fBx5X6Fvw&list=PLjA6fD6hewXgBDQrL9TnLujLDc4VZjwP&index=16&t=3s. Acesso em agosto de 2020. Um dia após os protestos, funcionários responsáveis pela manutenção dos monumentos públicos de Bristol vasculharam o rio Avon, com o auxílio de um mergulhador, em busca do antigo monumento. A estátua foi içada por cordas, coberta totalmente com lona azul e secretamente levada para o tal galpão, onde permanece até o término de sua restauração e até que uma decisão oficial sobre o seu novo destino seja tomada.
Ao vasculhar o estatuto público do qual a estátua de Colston desfrutava, vemos que ela é tema de debate por parte dos moradores da cidade desde 2016, quando um abaixo-assinado solicitando a remoção foi realizado e encaminhado às autoridades correspondentes. Eventualmente, ela sofria intervenções artísticas que colocavam em questão seu status monumental, quase unânime entre os habitantes da cidade inglesa. Alguns exemplos cabem ser destacados.
Ainda em 2006, a intervenção Restoration cobriu a estátua com correntes douradas, aludindo ao ouro e à riqueza adquiridos por Colston a partir da comercialização de escravizados (Trilling 2020TRILLING, Daniel. 2020 (junho 10). “The art of creative destruction”. Apollo Magazine.). No ano de 2017, outra intervenção, não identificada, foi responsável pela instalação no pedestal de sustentação da estátua de uma placa de bronze, protótipo de placas descritivas oficiais, com a frase: “Herança não autorizada: Bristol, capital do comércio atlântico de escravos, 1730-1745. Isto comemora os 12.000.000 de escravos, dos quais 6.000.000 morreram como cativos”.4 4 Do original: “Unauthorised heritage: Bristol Capital of the Atlantic Slave Trade 1730-1745. This commemorates the 12,000,000 enslaved of whom 6,000,000 died as captives” (PIPE, 2017). Já em 2018, no dia Antiescravidão, celebrado na Inglaterra em 18 de outubro, uma série de estátuas em miniatura foram dispostas em frente ao monumento dedicado a Colston. Feitas de concreto, as miniaturas estavam acompanhadas, ainda, pelas palavras: “manicures, trabalhadoras do sexo, lavadores de carro, empregadas domésticas, coletores de fruta, trabalhadores de restaurantes e trabalhadores agrícolas”,5 5 Do original: “nail bar workers, sex workers, car wash attendants, domestic servants, fruit pickers, kitchen workers and farm workers” (Inspiring City 2018). em referência à situação de desigualdade em que a população negra local se encontra nos dias atuais (Inspiring City 2018). Em outras intervenções de protesto, mais recentemente, Colston foi pintado parcialmente com tinta branca e recebeu uma corrente vermelha nos pés, remetendo aos grilhões que eram atados aos pés dos escravizados, impedindo que eles fugissem.
Dias após sua remoção, outra intervenção ganhou a cena dos debates a respeito dos monumentos dispostos pelo espaço público. O artista britânico Marc Quinn produziu a escultura intitulada A Surge of Power [Uma Onda de Poder], instalada sobre o pedestal onde antes se encontrava a estátua do escravocrata Colston. O escultor responsabilizou-se pela obra feita em aço e resina preta, com pouco mais de dois metros de altura, instalada em uma operação às escondidas, na madrugada do dia 15 de julho. Bristol acordou na manhã daquele dia com essa imagem substituindo a de Colston. Em seu lugar, agora estava a estátua de uma mulher negra, de vestido, botas, luvas, jaqueta de couro e boina sobre o cabelo crespo, empunhando o braço direito, com punhos cerrados, em homenagem ao gesto característico dos manifestantes do movimento norte-americano Panteras Negras. Com a estátua, o artista buscou reproduzir a fotografia que a manifestante negra Jen Reid publicou em suas redes sociais durante os protestos de Bristol.
Ao longo das manifestações, Reid subiu ao pedestal da estátua recém-removida e foi fotografada por seu marido. Reid relatou ter sido tomada por um impulso irresistível de subir ao pedestal enquanto retornava para casa depois dos protestos6 6 Disponível em:o http://marcquinn.com/studio/news/a-joint-statement-from-marc-quinn-and-jen-reid. Acesso em 20/08/2020. e, inconscientemente, acabou suspendendo seu braço com a saudação dos Panteras Negras. A espontaneidade do movimento direcionou seu pensamento aos escravizados que morreram em decorrência da brutalidade e da violência do processo de escravização, do qual Colston foi agente, ela contou. Ao concluir seu relato, disponível na página do artista Quinn, Reid afirmou que a escultura que a mimetiza “é uma declaração sobre minha mãe, minha filha, negros como eu. É sobre crianças negras vendo isso lá em cima. É algo para se sentir orgulhoso, ter um sentimento de pertencimento, porque realmente pertencemos a este lugar e não vamos a lugar nenhum”.7 7 Do original: “This sculpture is about making a stand for my mother, for my daughter, for Black people like me. It’s about Black children seeing it up there. It’s something to feel proud of, to have a sense of belonging, because we actually do belong here and we’re not going anywhere”. Disponível em: http://marcquinn.com/studio/news/a-joint-statement-from-marc-quinn-and-jen-reid. Acesso em 20/08/2020.
Segundo o artista, a estátua tanto aponta para um momento histórico quanto produz um questionamento sobre o racismo institucionalizado. Ela foi pensada como uma homenagem às manifestações antirracistas ocorridas pelo mundo e teve o objetivo de ser uma intervenção temporária, que trouxesse reflexões em torno da representatividade negra, sem qualquer intenção de torná-la um substituto permanente da estátua de Colston. A despeito disso, a temporalidade da instalação sobre o espaço físico, conforme almejada pelo artista, terminou se prolongando através da circulação de imagens, notícias e reflexões por ela desencadeadas, o que termina indicando o papel ativo da própria obra na produção de elementos que sustentam o mesmo momento histórico ao qual se reporta. De fato, o monumento A Surge of Power permaneceu instalado por menos de 24 horas, mas sua presença ainda se estende pela virtualidade, por exemplo. O prefeito Marvin Rees alegou que a obra precisou ser removida por ter sido instalada sem autorização. Como a estátua não teve fins lucrativos, cogitou-se a possibilidade de sua venda, para reverter seu valor às instituições Cargo Classroom, um programa voltado para a construção de histórias negras dedicadas ao público adolescente, e para The Black Curriculum, empresa responsável por incentivar a inserção de histórias negras nos currículos escolares ingleses. Mas, dias depois da remoção, a obra acabou sendo destruída por Quinn em seu ateliê. Agora, a performance da manifestante Reid, materializada pela estátua, consta como um evento arquivado em imagens.
O ato ocorrido na pequena cidade inglesa suscitou outras remoções e intervenções sobre monumentos em homenagem a figuras históricas. Ainda, trouxe à tona um debate de longa data mobilizado pelos movimentos sociais e pelos coletivos que questionam os papéis e os personagens monumentalizados, dispostos em espaços públicos urbanos projetados como local de compartilhamento de um suposto comum. Protestos similares ao de Bristol que, por sinal, já vinham ocorrendo pela Europa, ganharam visibilidade internacional.
As mobilizações dos belgas em busca da remoção das estátuas do rei Leopoldo II em distintos lugares do país servem de exemplo. Dias antes da derrubada de Colston, estátuas do rei belga espalhadas pelas cidades de Bruxelas, Tervuren, Halle, Ghent e Oostende receberam intervenções de protesto: pichações, mordaças, vendas nos olhos e pinturas de tinta vermelha. Uma dessas manifestações ocorreu em Antuérpia, onde um dos monumentos de homenagem a Leopoldo foi pichado de vermelho e queimado por manifestantes na madrugada do dia 4 de junho, ocasionando sua remoção pela prefeitura, que decidiu restaurá-la e levá-la para o acervo do Museu de Esculturas ao ar Livre de Middelheim. O porta-voz da câmara municipal, Johan Vermant, definiu o protesto sobre a estátua de Leopoldo como um ato severo de vandalismo (Presse 2020PRESSE, France. 2020 (junho 9). “Cidade da Bélgica retira estátua de polêmico rei, após protestos antirracistas”. G1.).
Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, monumentos em homenagem a personagens como Theodore Roosevelt, Cristóvão Colombo e alguns líderes e símbolos confederados também foram alvo de intervenções durante os protestos do Black Lives Matter. Instalado na entrada principal do Museu Americano de História Natural de Nova York,8 8 O Museu de História Natural foi fundado com o auxílio do pai de Roosevelt, Sr. Theodore Roosevelt, responsável por ajudar na fundação do Museu de Arte Metropolitano, em Nova York. Durante o processo de remoção da estátua de Roosevelt, o Museu de História Natural era administrado por seu bisneto, Theodore Roosevelt IV, que defendeu a remoção da estátua do bisavô como uma relíquia desnecessária, dissociada dos valores atuais. o monumento a Theodore Roosevelt foi alvo de um processo de remoção movido pela prefeitura. A diretora do museu, Ellen Futter, solicitou ao prefeito Bill de Blasio a retirada da estátua de Roosevelt, argumentando que o fato seria um marco para a construção de uma sociedade mais aberta e de um museu equitativo e inclusivo (Notícias Uol 2020NOTÍCIAS UOL. 2020 (junho 22). “Museu de NY anuncia retirada de estátua do ex-presidente Roosevelt por simbologia racista”. Notícias UOL.). Corroborando com a solicitação de Futter, Blasio anunciou, em junho de 2020, a remoção da estátua, uma vez que ela apresentava pessoas negros e indígenas como subjugados e inferiorizados.
A estátua de bronze foi instalada em 1940 em homenagem ao ex-presidente, considerado um dos primeiros naturalistas dos Estados Unidos. Roosevelt foi representado com imponência e valentia. Com queixo erguido e peito aberto, sobre um cavalo, a composição da imagem do destemido desbravador Teddy se completa pela presença de duas armas em sua cintura, presas por um cinto de cartuchos de bala. Uma de suas mãos encontra-se em uma das armas, como se estivesse pronto para o ataque, enquanto a outra segura a sela do cavalo. Para quem a observava pela porta de entrada do Museu, a estátua-cartão-de-visitas apresentava aos visitantes uma forma de tríade hierárquica ao posicionar um homem indígena americano e um homem negro nas laterais de Roosevelt, mais especificamente, na altura do cavalo montado por ele e atrás de suas pernas.
Assim, é explícito e inegável para o observador que o monumento evidenciava Roosevelt, ao posicioná-lo em cima do cavalo, do homem indígena e do homem negro, situando os dois últimos de forma marginal. Além disso, cabe notar que o único na composição da imagem representado completamente vestido era Roosevelt. Enquanto o homem indígena aparecia com cocar, um colar, uma túnica que cobria apenas a parte inferior do corpo, além de um par de sapatos fechados, o homem negro foi representado de modo a evidenciar seu corpo, com os pés descalços e praticamente nu, não fosse pelo corte de pano posicionado ao lado de seu corpo, recostado no cavalo. O semblante de ambos demonstrava certa placidez devido ao olhar baixo e queixo neutro, ao contrário de Roosevelt, que tinha o rosto levemente elevado, como se buscasse algo no horizonte.
Não muito distante de outras representações imagéticas euro-americanas como as telas a óleo A Liberdade Guiando o Povo, de Eugène Delacroix, e O Progresso Americano, de John Gast, ambas do século XIX, Roosevelt estava representado na posição de guia do povo norte-americano, trazendo abaixo de si o indígena e o negro. Similar às representações da liberdade e do progresso, tratados nas telas por meio de mulheres brancas responsáveis por guiar o povo, a representação monumental de Roosevelt direciona nossa imaginação para analogias deste tipo, trazendo sua figura como sinônimo de um verdadeiro, senão único, futuro possível para o povo estadunidense.
Tanto o homem indígena quanto o homem negro foram representados de modo genérico e despessoalizado, enquanto Roosevelt recebeu a personificação de símbolo da nacionalidade estadunidense solidificada na figura do homem branco. Na imagem concretizada pelo monumento, era aparente a crença segundo a qual o homem branco Roosevelt estava à frente e acima da personificação genérica do indígena e do negro.
Podemos deduzir ainda que a figuração monumental exposta na entrada do Museu nos sugeria uma suposta comunhão, quase harmônica, entre forças antagônicas do processo histórico de colonização e escravização nos Estados Unidos. Cada uma das personagens figuradas no monumento, Roosevelt enquanto branco, e os dois homens, um negro e outro indígena, parecia ser apresentada como agente participante da construção desse país. Em certa medida, trata-se de um monumento com um verniz multicultural, porém, apesar disso, era evidente a assimetria na condução de um horizonte buscado pelas personagens. O herói da história, por assim dizer, montava a cavalo e guiava os demais.
Se o prefeito nova-iorquino, Bill de Blasio, se posicionou favorável à remoção da estátua de Roosevelt, o mesmo não correu em relação às solicitações para a retirada da estátua de Cristóvão Colombo situada no Central Park, em Manhattan. Em relação a ela, Blasio defendeu o diálogo e a permanência do monumento, mas apresentou como saída a possibilidade de inserir elementos que questionassem a figura de descobridor e desbravador de Colombo, além de promover uma instalação em homenagem aos povos indígenas. O argumento do prefeito em defesa da permanência do monumento baseia-se na relevância da figura histórica de Colombo, nascido em Gênova, para a comunidade ítalo-americana, da qual Blasio faz parte.
Contrariando aqueles que defendiam a manutenção dos monumentos, estátuas de Cristóvão Colombo foram removidas em diversos locais dos Estados Unidos, algumas sob acordos com o poder público, outras não. Em Boston, por exemplo, uma estátua de Colombo foi decapitada pelos manifestantes e removida pelo poder municipal logo após um dos muitos atos de protesto contra a obra. No estado da Virgínia, outro monumento de Colombo foi derrubado de seu pedestal por manifestantes e, depois, acabou sendo lançado em um lago, remontando às cenas do ocorrido em Bristol. Em Minnessota, Miami e no Texas, estátuas de Colombo foram pichadas de vermelho (Guimón 2020GUIMÓN, Pablo. 2020 (junho 12). “Estátuas de Colombo são o novo alvo do movimento revisionista nos EUA”. El País.).
A lista de remoções de homenagens a figuras históricas espalhadas pelas cidades norte-americanas e em algumas cidades europeias, ocorridas apenas durante os meses de junho e julho de 2020, alcança o número aproximado de 450. São somadas a este cálculo produções artísticas variadas, dentre elas, estátuas, obeliscos, placas comemorativas, memoriais, murais, vitrais e quadros expostos em museus públicos, bem como dois museus onde outrora funcionavam mercados de pessoas escravizadas. A lista colaborativa, denominada List of monuments and memorials removed during the George Floyd protests, encontra-se disponível na página da Wikipédia para atualizações e certificação de referências.9 9 Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monuments_and_memorials_removed_during_the_George_Floyd_protests. Acesso em janeiro de 2020. Nela, é atribuído o fenômeno recente das derrubadas às manifestações que ocorreram durante e após o assassinato de George Floyd.
Cabe ressaltar, ainda, que durante os protestos antirracistas, bem como nas reinvindicações pela retirada das estátuas, não houve qualquer solicitação por parte dos manifestantes para uma possível instalação que homenageasse personagens negros ou indígenas, nos moldes do monumentalismo, fundamentado na personificação individualista de uma persona heroica. Como bem descreveu Achile Mbembe (2018MBEMBE, Achille. 2018. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 Edições .), a função primordial das estátuas coloniais dispostas no espaço público consiste em perpetuar no espaço-tempo um sujeito que se sobrepõe de modo elaborado a um mero objeto. O monumentalismo, materializado aqui nas estátuas coloniais, opera na lógica da evocação permanente de seus mortos. Ele funciona, como disse o autor, como uma espécie de necromancia dos espíritos dos colonizadores no espaço, uma vez que os evoca constantemente, impedindo efetivamente sua morte e seu esquecimento.
Nesse sentido, contrariando o que propôs o prefeito Bill de Blasio sobre uma possível instalação de um monumento em homenagem aos povos indígenas, capaz de equipará-lo ao monumento de Cristóvão Colombo, os manifestantes não trouxeram como pauta a monumentalização, ou qualquer outra forma de representação, de lideranças negras ou indígenas. Ao que tudo indica, não interessa aos manifestantes a adesão a uma linguagem cuja função é manter presente os
mortos funestos no espaço público [fazendo] com que o princípio do assassinato e da crueldade que personificaram continue a assombrar a memória dos ex-colonizados, a saturar o seu imaginário e os seus espaços de vida, neles provocando, assim, um estranho eclipse da consciência e impedindo-os, ipso facto, de pensar com clareza (Mbembe 2018MBEMBE, Achille. 2018. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 Edições .:227).
Assim, contestam-se, nestes casos, não apenas as produções imagéticas presentes nos espaços das cidades, personificadas nos monumentos, mas, sobretudo, coloca-se sob questão o próprio espaço enquanto um lugar do comum e da múltipla representação através do abstrato que nega os incomuns que neles vivem. A exemplo de um dos manifestos produzido pelo Decolonize This Place (DTP) - movimento atuante nos protestos recentes do Black Lives Matter, cuja ação se concentra na formação decolonial, abarcando coletivos indígenas, negros, feministas e anticapitalistas - a luta anticolonial passa necessariamente pelos espaços. A organização tem como uma de suas ações principais a remoção das estátuas que reverenciam qualquer forma de dominação. Além do mais, busca a transformação de instituições museais e a repatriação dos objetos de cultura material classificados como arte étnica, ou arte primitiva nelas expostos, pois acreditam que por intermédio dessas ações será possível construir o caminho para uma sociedade solidária e autônoma.
Os manifestos e as táticas mobilizadas pelo movimento DTP reforçam o argumento defendido por E. Tuck e K. Yang (2012TUCK, Eve & YANG, Wayne. 2012. “Decolonization is not a metaphor”. Decolonization: Indigeneity, Education & Society. 1 (1):1-40.), segundo o qual a luta decolonial não é uma metáfora, mas um meio de ação e transformação efetiva do mundo. As remoções aqui apresentadas servem como exemplo ao levantarem a necessidade de descolonização dos espaços de um modo objetivamente incisivo. Isto nos leva de volta às reflexões que abriram este artigo: poderíamos imaginar, a partir dos elementos antes indicados, cenários possíveis para o surgimento do incomum? Os outros da história, nos parece, deslocam o comum no tempo e no espaço, abrindo caminho ao incomum por meio da contestação da linguagem monumental pautada no rito de evocação dos mortos (Mbembe 2018MBEMBE, Achille. 2018. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 Edições .:227) materializados pelas estátuas. Aos olhos de muitas pessoas negras e indígenas, as estátuas não servem senão como tormento de um passado colonial que persiste através de seus restos petrificados nos espaços. Elas operam como armadilhas (Mbembe 2018MBEMBE, Achille. 2018. Crítica da Razão Negra. São Paulo: N-1 Edições .:223) na medida em que tornam o tempo passado uma força inesgotável e latente que ainda persiste em existir.
Relacionalidade não humana e descolonização: antimonumentalismo mapuche
O mês de outubro de 2019 figura como um marco relevante da história recente da política chilena. Devido à repressão desmedida do governo do país em face dos protestos estudantis, que se contrapunham ao aumento da tarifa de transporte público na região metropolitana de Santiago, a capital nacional, uma sublevação social que não se via há décadas iniciou-se na noite de 18 de outubro. As demandas judiciais apresentadas pela chefia do Ministério do Interior, na tarde daquele mesmo dia, enquadravam os estudantes que se manifestavam nas categorias delitivas previstas pela Lei de Segurança do Estado, um resquício jurídico autoritário da ditadura de Augusto Pinochet, frequentemente usada para transformar demandas por direitos fundamentais em terrorismo. A situação gerou enorme comoção social, e os protestos contra o aumento da tarifa de transporte tornaram-se um ponto de inflexão na discussão e no questionamento do projeto de contínua neoliberalização social, política e econômica promovido pelo Estado chileno desde a ditadura.10 10 Por neoliberalismo indicamos, especialmente, um processo de reengenharia e reestruturação estatal que se dá, por um lado, como abandono das políticas de bem-estar social e de privatização das funções públicas (Crouch 1997), colocando as instituições estatais a serviço principalmente da defesa e da promoção da propriedade privada e da extensão do mercado (Harvey 2005), mas que, por outro, reconhece as formas contextuais que dão corpo às práticas concretas de neoliberalização em cada lugar (Ong 2007); no caso chileno, um agressivo processo de privatização de recursos naturais, o que inclui os leitos dos rios, de precarização dos direitos trabalhistas e uma série de incentivos públicos ao fortalecimento de empresas privadas. Neste sentido, longe de apontar para uma minimização do Estado, como afirma o discurso liberal, redireciona os esforços estatais para fortalecer o mercado como um fruto de sua ação política. Para isso, intensifica a máquina punitiva e intervencionista no que se refere aos trabalhadores e aos povos racializados, enquanto alavanca e expande as opções de vida das elites financeiras e culturais (Wacquant 2012). Não à toa, o Estado chileno tornou-se uma máquina de aprisionamento durante as reformas neoliberais iniciadas pela ditadura de Pinochet. Em poucos dias, as manifestações se tornaram uma enorme pulsão por novo processo constituinte, buscando redimensionar os custos sociais sobre os quais se fundamenta o país e redesenhar a agenda de serviços do Estado. Vale mencionar que o atual sistema privado de aposentadorias do país tornou-se a imagem privilegiada das assimetrias sociais e, neste sentido, converteu-se no centro do debate público que se desdobrou de outubro. Enquanto parte dessa mesma pulsão, assistiu-se como uma série de monumentos históricos associados ao Estado e à história oficial do Chile se tornavam alvo de intervenções e derrubadas.
Referindo-se à categorização operada pelo Estado e pela mídia chilena, que tratou de transformar a imagem dos manifestantes na figura delitiva do terrorista, no sul do Chile se dizia que, por fim, "os chilenos estavam sendo tratados pelo Estado do modo com que ele lidava com os Mapuche". Em certa medida, a violência desatada ao longo do país, ainda que parecesse absurda e incongruente para muitos chilenos, era velha conhecida das agrupações e pessoas mapuche que, em sua luta por autonomia, justiça e território, são tratados como terroristas e violentamente reprimidos pelo Estado há décadas, especialmente a partir do recrudescimento da violência, nos anos 80. Apesar de serem correntes entre pessoas mapuche a recusa e o questionamento da nacionalidade chilena e de uma certa noção de dignidade cidadã a ela atrelada, e que de certo modo estão pressupostas em muito das demandas das manifestações de outubro, também se multiplicaram protestos convocados pelos coletivos indígenas no sul do país.
Na Província do Arauco, região do BíoBío, sul do Chile, convocou-se, em nome dos lonko (chefes) e dos pu lov (as agrupações territoriais de parentesco) em resistência, uma grande Caravana Lavkenche por Territorio y Autonomía. As demandas mencionadas pela convocatória eram: a renúncia do presidente Sebastián Piñera, a construção de uma nova Constituição para o Chile - transformando-o num Estado plurinacional -, a expulsão das empresas madeireiras do território mapuche, a oposição ao acordo de livre-comércio da Parceria Transpacífica, a anulação da Lei de Pesca e a liberdade para os presos políticos mapuche. A orientação entregue era de que as pessoas se encontrariam no setor de San Ramón, próximo ao lago Lleulleu, antigo território de atuação da Coordenadora Arauco-Malleco (CAM) e cenário de um importante impulso autonomista mapuche, e dali seguiriam em automóveis pela estrada que conecta os municípios de Tirúa e Cañete até a Praça de Armas desta última. Uma vez ali, a manifestação abandonaria a carreata e seguiria a pé pela cidade, retornando, por fim, à mesma praça, itinerário que, devido à repressão desmedida das forças estatais, nunca se cumpriu.
Tão logo a caravana chegou ao centro de Cañete, ocupando a Praça de Armas, escutou-se em meio à multidão que retirariam dali a estátua do colonizador. Referiam-se ao busto de García Hurtado de Mendonza. Com cerca de dois metros de altura, contando com seu pedestal de concreto, o busto feito de bronze estava posicionado em uma das esquinas da praça, marco central da cidade. Este personagem, transformado em herói nacional pela historiografia oficial do Estado, foi governador do Chile entre 1556 e 1561 e virrey do Peru entre 1590 e 1596. A ele é atribuída a derrota e o assassinato do toki Kalfvlikan, um importante chefe de guerra mapuche, eleito pelos conselhos de chefes para comandar os esforços guerreiros contra a invasão e a conquista espanhola. Como governador do Chile, Hurtado de Mendoza também teria fundado a cidade de Cañete de la Frontera,11 11 Cañete é o nome da cidade de origem de Hurtado de Mendoza, na Província de Cuenca, Espanha, de modo que o nome do posto fundado no atual território chileno homenageia a terra natal do conquistador. Há de se mencionar, ainda, que seu pai e ele próprio tinham o título de Marquês de Cañete. um posto avançado dos esforços coloniais nas terras mapuche. Para as pessoas que participaram da caravana lavkenche, estava claro que se tratava de um genocida. “Imaginem quanta gente mapuche não matou esse desgraçado”, dizia uma senhora enquanto assistíamos à derrubada do busto.
Antes mesmo que fosse arrancado, o busto já havia sofrido intervenções em que se podia ler a expressão paco culiado, uma forma ofensiva de se referir aos integrantes de Carabineros de Chile, a força policial do Estado. Difícil dizer se a inscrição estava ali antes da chegada da caravana, conformando uma antessala da derrubada que se seguiria, ou se ela foi realizada no momento em que os primeiros manifestantes chegaram à praça. No entanto, parece crucial que o busto do conquistador espanhol tenha recebido o título de paco, de policial, isto é, de partícipe daquela que é a instituição repressiva que o Estado chileno mobiliza nos dias de hoje contra as populações mapuche em suas ações por autonomia política e em retomadas de terras. E há mais: a assertiva de que os winka (os não mapuche) desde sempre estão agredindo, roubando e massacrando os Mapuche, conforme a reflexão compartilhada pela mesma senhora que assistia à derrubada, é o indicativo de que, da guerra de conquista espanhola à contemporânea repressão colonial do Estado se vive, ainda, um fenômeno que pode ser pensado como um contínuo, apesar de seus matizes. Nenhuma novidade, então, que os espanhóis e os chilenos sejam vistos em continuidade como agentes da violência winka que instaura e aprofunda o regime colonial que submete, violenta e espolia pessoas e territórios mapuche.
Antes de ser derrubado, o busto foi ainda manchado com tinta vermelha e azul, sofreu pauladas de distintos manifestantes e foi alvo de uma série de ataques verbais, em espanhol e em língua mapuche. Por fim, cerca de trinta pessoas enlaçaram o pescoço do busto do espanhol com uma corrente e a ela atrelaram uma corda. Depois de poucos segundos puxando, escutou-se como ele se rompeu, soltando-se da base de concreto que o elevava do solo. Nesse momento, as pessoas ali presentes proferiram um eufórico afafan, grito guerreiro para, entre outras coisas, obter e distribuir newen (força, poder, energia) para que uma batalha ou uma cerimônia se cumpra de modo efetivo, mas também para dar resultado a alguma empreitada.
Ainda que de passagem, é importante dizer que newen configura tanto causa como efeito de ações conjuntas entre as pessoas mapuche e as pessoas outras que humanas com as quais o newen circula (Narahara 2022NARAHARA, Karine L. 2022. Em território mapuche: petroleiras e cosmopolíticas na Patagônia argentina. Rio de Janeiro: Ape’Ku.; Maciel 2022MACIEL, Lucas da Costa. 2022. Vidas em cativeiro: histórias do mogen e coleções em museu. Tese de Doutorado em Antropologia Social, Universidade de São Paulo.). Em outros termos, é uma forma de potencialização e presentificação das conexões com agências múltiplas, incluindo aquelas que, sendo outras que humanas, influenciam e participam das ações políticas mapuche, incluindo a guerra.
Já no chão, o busto arrancado sofreu novas marcações com tinta preta e vermelha e foi arrastado da praça até o meio da rua. Além do busto em si, também a placa que prestava homenagem ao personagem foi removida e arrastada. No lugar desta última, na praça, foram colados cartazes improvisados que falavam sobre autonomia e sobre a luta do povo mapuche, manifestando solidariedade com as demandas do povo chileno, então sublevado em dignidade.
Alguns minutos depois, as autoridades mapuche reuniram os manifestantes ao redor do busto do toki Lautaro, localizado na porção oposta da praça àquela em que estava o busto derrubado do conquistador espanhol. Ali, os chefes encabeçaram um jejipun, uma pequena rogativa cerimonial. Em seu discurso, mostravam apreciação pelas espiritualidades e pediam que elas os acompanhassem durante a marcha. Pedia-se não só pela segurança dos manifestantes, mas também pela eficácia daquela ação. Depois do diálogo cerimonial, se realizou um wiñomalvn, um ato em que as pessoas levantam seus wiño, um bastão de madeira usado na execução do palin (esporte cerimonial), mas que também se atrela à imagem do guerreiro, reunindo-os sobre suas cabeças e batendo-os um contra o outro. Enquanto alçavam os wiño, também gritavam, fazendo afafan.
Ainda que o busto de Lautaro tenha sido palco desse ato, não houve menção explícita à figura do toki no discurso cerimonial dos chefes, nem nos comentários que se escutaram antes, durante e depois do jejipun. A ênfase recaía, outrossim, na violência colonial e no newen (força, poder, energia) mapuche para liberar o território mapuche do jugo colonial winka (não mapuche). Ao que parece, a figura de Lautaro implicava, menos do que a imagem de um personagem histórico ou a encarnação dele ou de qualquer conjunto de chefes mapuche, a indicação de um lugar mais aceitável para a realização do jejipun. O lado da praça em que se localizava o busto de Lautaro estaria mais apto às agências de seres outros que humanos a serem convocadas à marcha do que aquele em que se localizava o busto do conquistador espanhol, ou inclusive o centro da praça, ocupado por uma fonte e um coreto. De certo modo, Lautaro marcava um lugar menos winka na paisagem colonial do centro de Cañete.
É importante esclarecer, no entanto, que não se trata de um desconhecimento sobre quem seja Lautaro, nos termos em que o mundo euro-americano entende a noção de memória. Ao contrário, a figura do toki não só é rememorada e querida por muitas pessoas mapuche, como, além disso, inspira a nomeação de muitas crianças. Em contextos em que as tecnologias tradicionais da onomástica deixaram de ser mobilizadas, proliferam os jovens mapuche chamados Lautaro ou Leftaro, em homenagem ao toki e, em certa medida, como recurso (mnemônico, talvez) para incorporar parte do newen associado ao nome. No entanto, o que estava em jogo naquele momento não era a figura histórica do toki, mas o que o busto poderia cogitar: uma presença não só winka, isto é, winka também, mas não apenas. A mesma lógica parece estar por trás da derrubada do busto de Hurtado de Mendoza. Ainda que o busto do conquistador tenha sido arrancado enquanto se rememorava a quantidade de pessoas mapuche que aquele homem havia assassinado em seu impulso colonial e genocida, era a presença do "conquistador espanhol" - num sentido genérico -que era questionada. Tratava-se da necessidade de arrancar a figura do colonizador, como vimos. Se fosse outra figura associada ao colonialismo espanhol e chileno, ela certamente também teria sido derrubada, como foi Hurtado de Mendoza.
Dias depois dos acontecimentos na praça de Cañete, enquanto assistíamos a uma reportagem da televisão chilena sobre as derrubadas que se multiplicaram por todo o país, um dos companheiros que haviam estado na marcha disse que aquilo - a multiplicação das derrubadas - significava que havia mapuche por todo o país. Um pouco sem entender, pedi explicação sobre o que dizia. Pues están haciendo eso de la descolonización, ¿no, peñi (irmão, vocativo de ego masculino para homem sem relação de parentesco)? Mapuchinidade e descolonização aparecem aqui como duas faces de um mesmo processo: a pulsão por se livrar das marcas que produzem não só o espaço, mas também o tempo da colonização é a possibilidade de mostrar-se mapuche.
É preciso dizer, antes de prosseguirmos, que, depois de terminar o jejipun na Praça de Armas, a manifestação seguiu por uma das ruas laterais. Os manifestantes mapuche sequer caminharam trezentos metros antes de serem confrontados pela tropa de choque de Carabineros do Chile. Enquanto os soldados cercavam os manifestantes pelas ruas paralelas, disparando gás lacrimogêneo das esquinas diretamente contra o corpo das pessoas, tanques de guerra soltavam gás pimenta e duchas de água de pressão por trás da marcha. Naquele dia, cerca de dez manifestantes foram presos pelas forças do Estado chileno e muitos outros foram agredidos. Ao final, os companheiros com os quais íamos à marcha saíram ilesos e a marcha foi noticiada em quase todo o país. Tendo em vista a crueldade repressiva, os colegas afirmavam não ter sido pior porque nos acompanhavam as espiritualidades convocadas no jejipun que, como mencionado, foi realizado ao lado do busto do toki Lautaro. Sobre isso, enquanto se diz que as pessoas mapuche seguem sobrevivendo à violência em razão de suas conexões com os seres outros que humanos, também se diz que eles encabeçam e governam o impulso de mapuchinização, isto é, a necessidade de recobrar o modo de vida e o território mapuche, o que, nos termos dos nossos colaboradores, dá os contornos conceituais à descolonização.
O fundamental é entender, então, que nem o busto de Hurtado de Mendoza, nem o do toki Lautaro importavam, para os manifestantes mapuche, como índice de uma memória histórica. Ao contrário, eles importam como marcas da oposição entre winka e mapuche. Eles operam como a capacidade deste e a incapacidade daquele de permitir as conexões com os seres outros que humanos a partir das quais, para os manifestantes, a descolonização se materializa.12 12 Mais detalhes sobre esta oposição e como ela se associa, a partir de outro caso etnográfico, às relações com seres outros que humanos estão disponíveis em Maciel (2021b). O busto do colonizador é a marca da inviabilidade das conexões que fazem das pessoas mapuche, mapuche. Hurtado de Mendoza é removido não por ser Hurtado de Mendoza e pela função que ele cumpre na narrativa histórica chilena. Certamente tem a ver com isso, mas não apenas. O busto é arrancado por incorporar a presença do colonizador que impede a vida mapuche para além do humano, vinculada como está às conexões com as espiritualidades, ou seja, para o modo com que as conexões mapuche excedem a política moderna que sustenta o monumentalismo do Estado.
A derrubada importa, então, não apenas como questionamento das versões únicas da história ou do patrimônio, ou como uma crítica à "história dos vencedores". Ela se mostra relevante na medida em que também retira a vigência local - espacial, se quisermos - do tempo da história, que coloca a colonização, através da figura do colonizador, no centro da paisagem relacional. Derrubar o busto é ativar a possibilidade de uma nova paisagem de relações, nas quais os seres outros que humanos se tornam os guias do impulso de descolonização. Na Plaza de Armas, a ausência do busto aponta para a possibilidade da conexão com os seres outros que humanos, o que, no que diz respeito a este evento, é o que dá os contornos mapuche à noção de descolonização.
Dias depois da derrubada do busto de Hurtado de Mendoza, em Cañete, foi a vez de derrubar a estátua de Pedro de Valdívia, localizada no centro da cidade de Concepción, a segunda maior do Chile e a capital da região do BíoBío. No final da tarde do dia 14 de novembro, a estátua do conquistador espanhol e fundador da cidade de Concepción, feita de bronze e elevada por um pedestal de cimento a mais de cinco metros, foi derrubada por cerca de cinquenta manifestantes.13 13 Imagens disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=VbQxdiL1qg8 e em https://www.youtube.com/watch?v=ji37k81iXRg. Acesso em 06/09/2022. O monumento foi doado pelo governo espanhol e inicialmente instalado na chamada Plaza España em celebração dos quatrocentos anos da fundação da cidade de Concepción. O lugar é estratégico, porque se localiza em frente à outrora movimentada estação de trens da cidade, por onde chegavam os transeuntes de todo o país, incluindo pessoas mapuche. Há pouco mais de trinta anos, a estátua foi deslocada: passou a ocupar uma das esquinas da Plaza Independencia, no centro da cidade; mais precisamente, a esquina norte.
Naquele dia, milhares de pessoas se reuniram no centro de Concepción no marco de um ano do assassinato do comunero mapuche Camilo Catrillanca, em Ercilla, no meio de uma operação policial. Este ato, um dos muitos realizados então em todo o Chile, era uma rememoração da violência racista e do terrorismo de Estado dos quais o povo mapuche é alvo. Depois de um ano, o assassinato de Catrillanca seguia sem desfecho, sem investigação contundente e confiável e sem imputação de responsabilidade aos executores do crime. Somado aos protestos pela Constituinte e pelo fim da era neoliberal no Chile, também em Concepción o ato se tornou uma pulsão iconoclasta.
Duas correntes acopladas a cordas foram amarradas na estátua de Pedro de Valdívia e, divididos em dois grupos, os cerca de cinquenta manifestantes a puxaram. Circundados por uma massa de outras pessoas, uma série de aplausos e gritos foram desferidos depois que a estátua começou a dar os primeiros sinais de que cederia. Quando por fim ela se soltou do pedestal, uma forte ovação percorreu a Plaza Independencia, e aqueles que assistiam à derrubada passaram a se aglomerar nas imediações da estátua derrubada. Entre os manifestantes que saltaram sobre ela, aqueles que desferiram pauladas e pontapés e os que intervieram de formas distintas, a impressão que fica é a de que todos queriam ter a chance de golpear a estátua. No entanto, menos de trinta segundos depois que a estátua tocou o solo, se escutou o disparo da primeira bomba de gás lacrimogêneo lançada pelas forças estatais. Daí em diante, o desfecho não foi muito distinto do que aconteceu em Cañete: repressão desmedida.
Como no caso da Plaza de Armas, em Cañete, na esquina inversa àquela antes ocupada pela estátua de um conquistador espanhol, localiza-se outro monumento, dedicado ao toki Lautaro. Consultado pelo portal digital SABES [sabes.cl], Armando Cartes, historiador chileno, diretor do arquivo histórico de Concepción e professor da Universidad de Concepción, teria dito o seguinte: "Eu sempre pensei que elas se complementavam, mas parece que muitos não pensam assim” [Yo pensaba siempre que se complementaban, pero parece que muchos piensan que no es así] (González 2019GONZÁLEZ, Antonio. 2019 (novembro 14). “La historia de la estatua de Pedro de Valdivia en Concepción que botaron este 14 de noviembre”. Sabes.). Segundo o historiador, que lamentou a derrubada do monumento, Pedro de Valdivia é parte da identidade chilena, apesar de "seus acertos e desacertos", palavras suas, assim como o toki Lautaro, razão pela qual a estátua deste último teria sido instalada na Plaza Independencia em 2007, - as porções opostas da praça, ocupadas uma pela estátua de Pedro de Valdivia, a outra pela de Lautaro, estariam relacionadas como partes de um todo que, juntas, elas compõem. Este todo é, evidentemente, a identidade chilena - ou a versão pública e multiculturalista dela. A ela se inscrevem, desta perspectiva, pessoas mapuche e não mapuche.
Se nos permitimos rearranjar os argumentos de Cartes, com a intenção exclusiva de ensaiar ideias, teríamos a incompreensão como a razão de fundo que levaria uma manifestação mapuche a derrubar a estátua de Pedro de Valdivia, uma vez que também elas - as pessoas mapuche - estariam representadas pela figura do toki Lautaro, complementar à do conquistador espanhol. Notem que esse arranjo, pressuposto por Cartes, parece compartilhar algumas das associações realizadas pelo prefeito de Nova York ao dizer que, antes de retirar a estátua de Colombo, seria preferível inserir outra, que preste homenagem aos povos indígenas e questione a figura colonial do navegador italiano.
No caso de Concepción, se assume que a estátua do chefe de guerra mapuche faz pelo povo mapuche contemporâneo o mesmo que o monumento a Pedro de Valdívia faz para a branquitude chilena. O interessante é como esse rearranjo parece tornar evidente uma equalização em que as pessoas mapuche - de hoje, que derrubam estátuas, e de ontem, através da figura do toki Lautaro - e os espanhóis - estes sim conquistadores de antanho - conformam a identidade chilena. Na economia deste argumento, o elemento mapuche deveria se ligar a uma das raízes do chileno e, neste sentido, sentir-se representado por ela. Se a história é uma potência ontológica, a historiografia chilena parece transformar a mapuchinidade em sua raiz e, como tal, numa parte representada - e que por esta razão deveria contentar-se - da identidade chilena.
Escapa a esta pretensão a recusa à monumentalização e ao papel que ela cumpre ao espacializar o tempo da colonização como o lugar comum em que, nesta seara, os chilenos têm lugar enquanto as pessoas mapuche figuram como raiz subsumida a estes. Talvez o que esteja em questão fuja à possibilidade da representação, inclusive quando pensada como autorrepresentação. Talvez o impulso iconoclasta corresponda, ao menos se visto através da derrubada do busto de Hurtado de Mendoza em Cañete, à necessidade de tornar visível não só a discussão sobre o racismo, sobre a violência colonial e as disputas pelas narrativas históricas, mas também à capacidade encapsuladora do Estado e do seu tempo ontológico.
Neste sentido, as derrubadas poderiam ser entendidas como um afastamento das figuras coloniais em relação à história da cidade e como um livramento da paisagem urbana de sua presença. Do ponto de vista daqueles que retiraram o busto cañetino, isto faz uma enorme diferença em termos do tipo de relações que se tornam possíveis a partir desse livramento. Em outros termos, isto implica que os monumentos históricos, tidos como odes às personagens da historiografia oficial chilena, funcionam como um tipo de selo do Estado sobre a paisagem urbana, de fato vedando possibilidades relacionais - como aquelas dadas pelas relações cosmopolíticas mapuche - que escapam ao poder ontológico da história.
Não se pode ignorar, ainda, como esse arranjo monumentalista pretende passar carta branca ao colonialismo ao dissolvê-lo numa aparente identidade multicultural que inclui igualmente indígenas e colonizadores. Assim, a copresença de Lautaro e de Pedro de Valdivia numa mesma praça pública permite que alguns intelectuais, como Armando Carte, pressuponham uma certa simetria. Simetria aparente que, neste caso, esconde profundas assimetrias racistas e coloniais. E, no entanto, Carte entende que a parte avariada desse processo cujas raízes dispares são profundas é a memória do colonizador. Sobre a derrubada do monumento de Pedro de Valdívia, o historiador afirmou que
Isso é muito lamentável. Esperamos que depois que terminem esses eventos possamos repô-lo em seu lugar e render um desagravo ao fundador de Concepción, que, com todos os seus acertos e desacertos, é parte da nossa identidade, como também o é Lautaro, que instalamos aí [na Plaza Independencia] em 2007 (TL13 2019).
Se dele dependesse, afirma Carte, o monumento retornaria ao lugar do qual foi arrancado. Para tanto, uma restauração que custaria cerca de trezentos mil reais seria necessária. No entanto, esta decisão, conta, caberá a um debate público. Apesar disso, sugere algo que foi feito em outros países: adicionar uma placa ao monumento que, preservando-o em praça pública, reflita melhor o olhar mais atual sobre o passado da personagem. Obviamente, a postura de Carte se relaciona à sua própria compreensão da derrubada do monumento, isto é, uma disputa pelos sentidos da história que não prevê o tipo de associação ontológica entre história, invalidação relacional e a compreensão de descolonização da paisagem urbana que decorre da derrubada do busto de Hurtado de Mendoza em Cañete.
Notas finais
De modo geral, os movimentos antirracistas e pela descolonização que acompanhamos têm se engajado na derrubada e na remoção de monumentos públicos associados a personagens históricos polêmicos. Normalmente vinculadas às narrativas nacionais sobre a história, essas personagens costumam ser homens brancos que participaram de atos de conquista, colonização e escravidão, entre outras coisas. Em face do comum como potência da história, tal como argumentado por Rancière (2018bRANCIÈRE, Jacques. 2018b. O desentendimento. São Paulo: Editora 34.), encontramos o comum das derrubadas e das remoções.
Vimos que muitas dessas disputas se associam aos sentidos atribuídos a atos genocidas e racistas e à necessidade de rever as implicações históricas de prestar homenagem e narrar as identidades nacionais a partir desses sujeitos. Questiona-se, aqui, a contradição entre pretensos valores democráticos e multiculturais, por um lado, e as assimetrias associadas a versões da história que constrói heróis e personagens valorizadas a partir do privilégio branco, de outro. Entre outras coisas, o comum das derrubadas e das remoções parece questionar a branquitude como critério de organização do público, mais especificamente o espaço urbano, relembrando o argumento de Almeida (2020ALMEIDA, Sílvio. 2020. Racismo Estrutural. São Paulo: Editora Jandaíra.), segundo o qual “[...] a nacionalidade e a dominação capitalista se apoiam em uma construção espaço-identitária que pode ser vista na classificação racial, étnica, religiosa e sexual dos indivíduos como estratégia de poder” (Almeida 2020ALMEIDA, Sílvio. 2020. Racismo Estrutural. São Paulo: Editora Jandaíra.:101).
Se a história produz um tempo comum ao qual todos pertencemos, como quer Rancière (2018aRANCIÈRE, Jacques. 2018a. Figuras da história. São Paulo: Editora Unesp.; 2018bRANCIÈRE, Jacques. 2018b. O desentendimento. São Paulo: Editora 34.), e esse pertencimento está fundamentado no racismo e no colonialismo, como nos alerta Almeida, fazer parte da história nos termos daqueles que fazem história implica viver o racismo e o colonialismo como normalização. Talvez as derrubadas e as remoções desses monumentos históricos indiquem um não pertencimento, então. Como vimos, muitos desses atos são elaborados em termos de rechaço a uma história única e uma recusa dos símbolos de supremacia branca. Poderíamos pensar que negar-se ao tempo comum da história que produz e descansa sobre pertencimentos racistas e coloniais configura um ímpeto que diz “não pertencemos”, o que de certo modo esfarela o tempo comum. Nos termos de Adichie (2019ADICHIE, Chimamanda Ngozi. 2019. O Perigo de uma História Única. São Paulo: Companhia das Letras.:32-33), “as histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. [...] quando rejeitamos a história única, quando percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, reavemos uma espécie de paraíso”.
No entanto, também vimos que muito desse comum se mostra como fator crítico não só da história única que quer fazer a que todos pertençam, mas dos seus próprios critérios. Enquanto o prefeito de Nova York e um historiador chileno entendem a pluralização e a crítica dessa história única como possível saída para as derrubadas e remoções - falamos, portanto, das polêmicas em torno dos monumentos a Cristóvão Colombo e a Pedro de Valdivia -, parece haver nesses atos um ímpeto profundamente antimonumentalização, isto é, ao mesmo tempo em que derrubam e solicitam remoções, a monumentalização de personagens indígenas e negras parece não ser fundamental. A solução dada por Bill de Blasio, de somar ao monumento de Colombo uma obra que preste homenagem aos povos indígenas, evitando assim sua remoção, não é, no entanto, uma solicitação dos movimentos e dos atores que impulsionam a pauta. Da nossa perspectiva, a solução de Blasio parece sustentar-se na ideia multicultural de que tanto europeus (italianos, neste caso) quanto ameríndios são partes da identidade nacional estadunidense. Nela, formula-se uma pretensa simetria que inexiste na prática, isto é, disfarça o supremacismo branco e as opressões raciais e coloniais de diversidade cultural. Neste sentido, não é de se espantar a recusa ao monumentalismo.
É nessa recusa, nos parece, que se assenta o incomum das derrubadas. Poderíamos dizer que aqueles que derrubam e removem monumentos com vistas a uma disputa sobre os sentidos da história estejam interessados em propiciar novos arranjos sociais, fundados em um outro comum que não aquele que o supremacismo branco quer fazer parecer como democrático e multicultural. De certo modo, esta é uma prática que beneficia novas formas de relações. Mesmo assim, se coloca aqui, como na pretensão de um tempo comum a todos, a primazia da história como eixo do colonialismo que se inscreve no espaço urbano. Monumentalizar ou desmonumentalizar parece apontar, então, para as definições em torno dos contornos da história. Quais histórias se contam e como o fazemos deveras importa, e este é um aprendizado que devemos extrair dos processos que elucidamos aqui.
Apesar disso, e sem pretender descartar a centralidade deste ponto, parece haver mais na derrubada de monumentos enquanto descolonização se vemos o problema a partir da prática mapuche. Em outros termos, queremos sugerir que o problema indica uma disputa pela história e outras mais, já antes indicadas, mas não apenas. Ao extrair a presença do colonizador da praça central de Cañete, são outras as relações que se possibilitam e se tornam visíveis e realizáveis para os manifestantes mapuche. Por trás da presença ou da ausência de um busto que presta homenagem a uma figura associada ao colonialismo branco, espanhol e/ou chileno está uma diferença de mundos. Se o busto objetifica relações associadas ao tempo comum do racismo e do colonialismo, sua derrubada permite que outras relações tomem a frente. Assumem, então, a forma de uma política mapuche mais que humana: uma atitude que busca se precaver do encerramento das agências políticas e daquilo que participa do que é/não é enquanto relação de figura e fundo. E do ponto de vista de quem beneficia essas relações, elas fazem toda a diferença: o acompanhamento das espiritualidades não só guia a descolonização mapuche, como conforma o eixo fundamental da sobrevivência à violência colonial, tanto no que diz respeito ao espólio territorial quanto à inviabilização de modos de ser que escapam do comum da história.
Neste sentido, recuperamos o incomum em torno das remoções e das derrubadas, pensado e manifesto através da etnografia mapuche, como um alerta e uma precaução. Inspiradas por ela, interessa a este ensaio chamar a atenção para o fato de que não podemos pressupor, como analistas, seja em Bristol, no Chile, nos Estados Unidos ou onde for, que o impulso iconoclasta a que estamos assistindo se encerre numa disputa pelos sentidos da histórica, pelo público e/ou pelos espaços da cidade. Ou, ainda, que esses fenômenos tenham, devido ao epifenômeno comum das derrubadas e das remoções, um mesmo problema de fundo. Desta forma, apostamos que é preciso interrogar esses eventos atentando não para o comum, facilmente inscrito num discurso ou numa análise generalista que compartilha critérios com os multiculturalismos e com os nacionalismos, mas para seu caráter incomum: há algo acontecendo que escapa à gramática corrente da história e do monumentalismo, das identidades e dos diálogos culturais. Para poder vislumbrar do que se trata, precisamos assumir que não sabemos o que são esses eventos. Esta é a atitude incomum que gostaríamos de ter.
Referências
- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. 2019. O Perigo de uma História Única São Paulo: Companhia das Letras.
- ALMEIDA, Sílvio. 2020. Racismo Estrutural São Paulo: Editora Jandaíra.
- ARQUEROS, Gonzalo; AZÚA, Andrés; HIDALGO, Jorge; MENARD, Andés; MORALES, Héctor; QUIROZ, Loreto; RADJL, Giannina; URIBE, Mauricio & URRUTIA, Francisca. 2015. “Patrimonio como extinción: Magallanes en el imaginário chileno”. Sophia Austral, 16 (2):15-40.
- BBC. 2020. “Bristol slave trader statue: Mayor receives racist letters”. BBC
- BRASILEIRO, Castiel Vitorino. 2022. Quando o sol aqui não mais brilhar: a falência da negritude São Paulo: N-1 Edições.
- CROUCH, Colin. 1997. “The Terms of the Neoliberal Consensus”. The Political Quarterly, 68 (4):352-360.
- FERREIRA DA SILVA, Denise. 2019. A Dívida Impagável São Paulo: Oficina de Imaginação Política e Casa do Povo.
- GONZÁLEZ, Antonio. 2019 (novembro 14). “La historia de la estatua de Pedro de Valdivia en Concepción que botaron este 14 de noviembre”. Sabes
- GUIMÓN, Pablo. 2020 (junho 12). “Estátuas de Colombo são o novo alvo do movimento revisionista nos EUA”. El País
- HARNEY, Stefano & MOTEN, Fred. 2013. The Undercommons: Fugitive Planning & Black Study New York: Minor Composition.
- HARTMAN, Saidiya. 2019. Wayward Lives, Beautiful Experiments. Intimate Histories of Riotous Black Girls, Troublesome Women, and Queer Radicals New York: W. W. Norton & Company.
- HARVEY, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism Nova York: Oxford University Press.
- INSPIRING CITY. 2018 (outubro 22). “Anti Slavery Art Installation by Colston Statue in Bristol”. Inspiring City
- MACIEL, Lucas da Costa. 2021a. "Spivak, pós-colonialismo e antropologia: pensar o pensamento e o colonialismo-em-branco dos nossos conceitos”. Revista de Antropologia, 64 (2), e186659. https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2021.186659
» https://doi.org/10.11606/1678-9857.ra.2021.186659 - MACIEL, Lucas da Costa. 2021b. “Ensaio sobre a zarza: monocultura e colonialidade vistas do wajmapu (território mapuche)”. Revista Ñanduty, 9 (13):45-63. https://doi.org/10.30612/nty.v9i13.15537
» https://doi.org/10.30612/nty.v9i13.15537 - MACIEL, Lucas da Costa. 2022. Vidas em cativeiro: histórias do mogen e coleções em museu Tese de Doutorado em Antropologia Social, Universidade de São Paulo.
- MBEMBE, Achille. 2018. Crítica da Razão Negra São Paulo: N-1 Edições .
- MENEZES, Hélio. 2020 (junho 19). “Mandar os malditos embora. Deslocamentos informam o que já não se pode mais tolerar”. Folha de São Paulo
- MOMBAÇA, Jota. 2021. Não vão nos matar agora São Paulo: Cobogó.
- NARAHARA, Karine L. 2022. Em território mapuche: petroleiras e cosmopolíticas na Patagônia argentina Rio de Janeiro: Ape’Ku.
- NORA, Pierre. 1993. “Entre Memória e História: a problemática dos lugares”. Projeto História, São Paulo, 10:07-28.
- NOTÍCIAS UOL. 2020 (junho 22). “Museu de NY anuncia retirada de estátua do ex-presidente Roosevelt por simbologia racista”. Notícias UOL
- ONG, Aihwa. 2007. “Neoliberalism as a Mobile Technology”. Transactions of the Institute of British Geographers, 32 (1):3-8.
- PIPE, Ellie. 2017 (agosto 17). “New Plaque on Colston Statue Brands Bristol Slavery capital”. B24/7
- PRESSE, France. 2020 (junho 9). “Cidade da Bélgica retira estátua de polêmico rei, após protestos antirracistas”. G1
- RANCIÈRE, Jacques. 2018a. Figuras da história São Paulo: Editora Unesp.
- RANCIÈRE, Jacques. 2018b. O desentendimento São Paulo: Editora 34.
- SPIVAK, Gayatri. 2010 [1988]. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG.
- TRILLING, Daniel. 2020 (junho 10). “The art of creative destruction”. Apollo Magazine
- TUCK, Eve & YANG, Wayne. 2012. “Decolonization is not a metaphor”. Decolonization: Indigeneity, Education & Society 1 (1):1-40.
- WACQUANT, Loïc. 2012 [2011]. “Três etapas para uma antropologia do neoliberalismo realmente existente”. Caderno CRH, 25 (66):505-518.
-
1
Cientes dos debates acirrados que envolvem os termos monumento, estátua e escultura, entre outros, optamos por não esmiuçar as discordâncias que deles se desdobram, uma vez que muitos dos autores que se dedicaram ao tema partem da perspectiva dos estudos de patrimônio. Dentre eles, destaca-se Pierre Nora (1993) que pensou, a partir do caso da identidade nacional francesa, as relações entre memória, monumento e espaço, elaborando o conceito de “lugares de memória”. Para o autor, as instalações, sobretudo públicas, ocupam os espaços como celebrações de determinada memória nacional convertida em elemento simbólico por meio do jogo de justaposições entre a memória e a história (Nora 1993NORA, Pierre. 1993. “Entre Memória e História: a problemática dos lugares”. Projeto História, São Paulo, 10:07-28.:22).
-
2
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cs36SAytfuE&list=PLjA6fD6h-ewXgBDQrL9TnLujLDc4VZjwP&index=13&t=298s. Acesso em agosto de 2020.
-
3
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d4fBx5X6Fvw&list=PLjA6fD6hewXgBDQrL9TnLujLDc4VZjwP&index=16&t=3s. Acesso em agosto de 2020.
-
4
Do original: “Unauthorised heritage: Bristol Capital of the Atlantic Slave Trade 1730-1745. This commemorates the 12,000,000 enslaved of whom 6,000,000 died as captives” (PIPE, 2017PIPE, Ellie. 2017 (agosto 17). “New Plaque on Colston Statue Brands Bristol Slavery capital”. B24/7.).
-
5
Do original: “nail bar workers, sex workers, car wash attendants, domestic servants, fruit pickers, kitchen workers and farm workers” (Inspiring City 2018INSPIRING CITY. 2018 (outubro 22). “Anti Slavery Art Installation by Colston Statue in Bristol”. Inspiring City.).
-
6
Disponível em:o http://marcquinn.com/studio/news/a-joint-statement-from-marc-quinn-and-jen-reid. Acesso em 20/08/2020.
-
7
Do original: “This sculpture is about making a stand for my mother, for my daughter, for Black people like me. It’s about Black children seeing it up there. It’s something to feel proud of, to have a sense of belonging, because we actually do belong here and we’re not going anywhere”. Disponível em: http://marcquinn.com/studio/news/a-joint-statement-from-marc-quinn-and-jen-reid. Acesso em 20/08/2020.
-
8
O Museu de História Natural foi fundado com o auxílio do pai de Roosevelt, Sr. Theodore Roosevelt, responsável por ajudar na fundação do Museu de Arte Metropolitano, em Nova York. Durante o processo de remoção da estátua de Roosevelt, o Museu de História Natural era administrado por seu bisneto, Theodore Roosevelt IV, que defendeu a remoção da estátua do bisavô como uma relíquia desnecessária, dissociada dos valores atuais.
-
9
Disponível em https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_monuments_and_memorials_removed_during_the_George_Floyd_protests. Acesso em janeiro de 2020.
-
10
Por neoliberalismo indicamos, especialmente, um processo de reengenharia e reestruturação estatal que se dá, por um lado, como abandono das políticas de bem-estar social e de privatização das funções públicas (Crouch 1997CROUCH, Colin. 1997. “The Terms of the Neoliberal Consensus”. The Political Quarterly, 68 (4):352-360.), colocando as instituições estatais a serviço principalmente da defesa e da promoção da propriedade privada e da extensão do mercado (Harvey 2005HARVEY, David. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Nova York: Oxford University Press.), mas que, por outro, reconhece as formas contextuais que dão corpo às práticas concretas de neoliberalização em cada lugar (Ong 2007ONG, Aihwa. 2007. “Neoliberalism as a Mobile Technology”. Transactions of the Institute of British Geographers, 32 (1):3-8.); no caso chileno, um agressivo processo de privatização de recursos naturais, o que inclui os leitos dos rios, de precarização dos direitos trabalhistas e uma série de incentivos públicos ao fortalecimento de empresas privadas. Neste sentido, longe de apontar para uma minimização do Estado, como afirma o discurso liberal, redireciona os esforços estatais para fortalecer o mercado como um fruto de sua ação política. Para isso, intensifica a máquina punitiva e intervencionista no que se refere aos trabalhadores e aos povos racializados, enquanto alavanca e expande as opções de vida das elites financeiras e culturais (Wacquant 2012WACQUANT, Loïc. 2012 [2011]. “Três etapas para uma antropologia do neoliberalismo realmente existente”. Caderno CRH, 25 (66):505-518.). Não à toa, o Estado chileno tornou-se uma máquina de aprisionamento durante as reformas neoliberais iniciadas pela ditadura de Pinochet.
-
11
Cañete é o nome da cidade de origem de Hurtado de Mendoza, na Província de Cuenca, Espanha, de modo que o nome do posto fundado no atual território chileno homenageia a terra natal do conquistador. Há de se mencionar, ainda, que seu pai e ele próprio tinham o título de Marquês de Cañete.
-
12
Mais detalhes sobre esta oposição e como ela se associa, a partir de outro caso etnográfico, às relações com seres outros que humanos estão disponíveis em Maciel (2021bMACIEL, Lucas da Costa. 2021b. “Ensaio sobre a zarza: monocultura e colonialidade vistas do wajmapu (território mapuche)”. Revista Ñanduty, 9 (13):45-63. https://doi.org/10.30612/nty.v9i13.15537
https://doi.org/10.30612/nty.v9i13.15537... ). -
13
Imagens disponíveis em https://www.youtube.com/watch?v=VbQxdiL1qg8 e em https://www.youtube.com/watch?v=ji37k81iXRg. Acesso em 06/09/2022.
-
Declaração de Autoria
Declaramos, para os devidos fins, que o presente trabalho é de nossa autoria, elaborado a partir de nossas pesquisas e redigido por nós. -
Financiamento
Isaura de Aguiar agradece o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atribuída pelo PPGAS/Unicamp. Lucas Maciel agradece o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Número do processo: 2018/00894-5 e da Banting Postdoctoral Fellowship Program do Governo Canadense - Número 473501.
Editado por
Editora-Chefe:
Editor Associado:
Editora Associada:
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
28 Ago 2023 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
09 Mar 2021 -
Aceito
23 Maio 2023